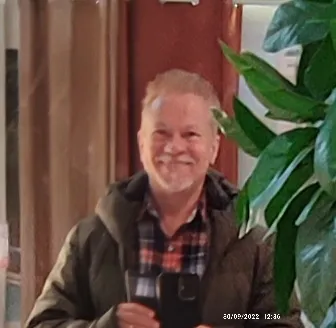JORGE PINHEIRO
Fundamentos da Teologia
Revelação e Imagem de Deus
______________________________________________________
Uma leitura brasileira
Dedico ao Eterno,
Que se fez humano e amigo,
Ao Amynthas, Maria, Naira, Marcela, Patrícia e Paloma,
E a um poeta que não conheci, Cacaso,
Por sua mineirice e porque, afinal,
mar de mineiro é colinas
mar de mineiro é minas.
ÍNDICE
Um prefácio necessário
Introdução
1. Abordagens da teologia
2. Travessias da questão hermenêutica
3. A antropologia da imagem de Deus
4. Linguagem, liberdade e mau encontro
5. Cristianismo e Reino de Deus
6. Afrobrasilidade e princípio protestante
7. O desafio das brasilidades
Conclusão
Bibliografia
Um prefácio necessário
Sempre que discorro em sala de aula sobre a imagem de Deus explico que tal estudo deve partir da teologia da revelação; sabendo que, na maioria de nossas faculdades teológicas, quando falamos de revelação estudamos apenas um lado da questão, a automanifestação do Deus Eterno, e nos esquecemos que estamos diante de um diálogo, pois toda revelação implica em interação, na existência de um outro personagem, a espécie humana, que não somente escuta, mas vive.
A questão antropológica no processo da revelação é determinante, pois não basta ouvir, o desafio é viver. Nesse processo desigual e combinado da revelação podemos distinguir elementos que se sobrepõem e se complementam. Dentre eles, o mais fascinante é a questão do significado e do significante. A revelação dá-se através de um processo de adequação histórica e lingüística. Entretanto esse conhecimento não demanda unicamente a apreensão de uma determinada realidade. Faz-se necessário que esta realidade seja apreendida, consoante a uma construção de análise e síntese. Como premissa fundante, temos que reconhecer uma justaposição entre conhecimento intuitivo e conhecimento discursivo. O conhecimento intuitivo vem de imediato à mente sem que se queira, frente a uma determinada realidade, ao passo que o discursivo requer passar de algo conhecido, através de uma série de juízos, à apreensão do ainda não apreendido. Ao primeiro processo chamamos juízo sintético e ao segundo juízo analítico.
A revelação não se dá simplesmente como processo de adequação da mente humana ao novo que lhe é apresentado. Impõe-se que o novo inerente ao processo cognoscitivo tenha um significado. Uma relação de significado em que o ser humano opera como ser significante e o novo como ser significado. Desta forma, a revelação não se processa entre realidades que não são históricas, mas em relação espacial e temporal, exigindo para que a interação humano/realidade se estabeleça e haja algo maior, alguma coisa além de ambos, não causal, mas essencial. No processo da revelação o ser humano encontra-se em construção, já que não é pleno senhor do processo. É um ser colocado no tempo e no espaço, que estabelece relação com a realidade que o cerca dentro do processo cognoscitivo enquanto dimensão humana e histórica.
Outro pressuposto é a natureza genética da linguagem, que se encontra em constante construção. Dessa maneira, significado e significante estão intimamente ligados à linguagem, enquanto revelação, construção histórica e cultural. Assim, compreendemos que dependendo da utilização de determinado objeto ou realidade o ser humano conhece determinada forma e no processo pode construir conceitos diferentes a partir de um objeto ou realidade anteriores. Podemos inferir ao que isso conduz. A revelação está ligada à vida do ser humano, já que será a própria experiência humana que agregará valor ao objeto ou realidade antes conhecidos e vividos. Dessa maneira, o velho gerará o novo, uma essência que transcende, uma universalidade, a partir da própria experiência de vida, que teologicamente podemos chamar de obediência ao mandamento de Deus. Mas ainda não definimos a importância do significado e do ser significante dentro do processo da revelação. Se a revelação é histórica, é importante notar que a própria revelação age sobre a vida humana, sobre a historicidade do ser humano. E mais do que isso, ao definir a historicidade humana muda o próprio meio onde o ser humano vive e atua. Dessa forma, a revelação cria processos de formação, escalas de valores, normas e condicionamentos. E é aí que reside toda a problemática da revelação enquanto conhecimento: como o ser humano, a partir da revelação, pode conhecer ao Deus Eterno, seu propósito e dar um sentido ao mundo que o cerca, assim como achar o seu papel dentro de todo esse complexo?
A verdade da revelação é o significado que uma determinada realidade tem para a comunidade e a pessoa. Há uma construção intuitiva, quando a experiência da revelação produz uma interação entre o ser humano e a divindade, sem que essa experiência necessariamente influa no processo discursivo de conhecimento. Mas mesmo neste caso o ser humano não abandona ou perde sua formação. Não deixa de ser aquilo que é: pessoa inserida em determinada comunidade. Mesmo quando esse processo dá-se em um nível superior, instantaneamente, sem elaboração discursiva, o ser humano está condicionado pela historicidade de ser cognoscente. E dentro dessa condicionante sempre se processa a interação ser humano/realidade. Aqui, sentimentos e afetividades, que geralmente passam despercebidos, são realçados. Isso porque nesse momento específico, determinada realidade passa a ter significado, que mesmo não sendo inerente, exige que se lhe dê um. E nesse caso o conhecimento da revelação faz do ser humano um ser significante. Assim a revelação dá ao mundo um significado imanente. O ser humano, enquanto pessoa e comunidade, através da revelação é dotado de significado, contudo este conhecimento, e o significado dado, não se dá sem história, mas dentro das limitações de sua própria obediência. Podemos, então, concluir que a partir da revelação o ser humano é o significante da construção da comunidade, pois através do conhecimento da revelação é ele quem historicamente pode modificar causas e efeitos, imprimindo ao processo nova direção.
Como se processa a relação entre significado e significante quer no caso isolado da interação entre ser humano e realidade, quer no caso de todo o processo da revelação? Se dentro do conhecimento da revelação o ser humano é um ser significante podemos, então, ver que a escala de valores do sistema ético, oferecido pela revelação à comunidade, é parte integrante do significado dado ao mundo pela própria revelação; portanto, dentro de uma interação significado - significante existem elementos dinâmicos de transformação. O universo é o mundo do ser humano, em que ele constrói seu habitat. Através do significado dado pelo ser humano à natureza, dentro de um significado de utilização que lhe empresta, ele atua sobre ela produzindo cultura e transformação.
A revelação, enquanto relação entre significante e significado é dialética; Pois se ela faz da pessoa e da comunidade ser significante, permite a ambas transferir ao mundo que as cercam a cosmovisão, a qual utiliza essa mesma significação. Ao fazer significante a sua realidade, o ser humano dá origem a transformações, engendra causas e passa à construção do futuro, já não como sonho, mas como realidade. Para viabilizar tais transformações é necessário que transfira, enquanto comunidade, novos significados aos processos históricos e sociais. Através da relação estabelecida entre significado e significante encontraremos as causas de conotações. (Será que aqui não caberia uma explicação sobre circuncisão) À circuncisão, por exemplo, a partir de determinado momento, daremos a conotação de aliança. A circuncisão é aliança, marca de um povo separado, mandamento de Iaveh, mas só será isso quando um ser, pessoa ou comunidade, que se torna seu significante lhe dê significado.
Assim, quando não colocamos a antropologia em diálogo com a teologia da imagem de Deus, compreendemos mal ou muito pouco questões referentes ao destino humano. Desejamos que o leitor brasileiro, nas páginas que se seguem, possa construir bases para uma teologia da imagem de Deus que possibilite viver e compreender a revelação como desafio ético destas brasilidades em construção.
Em Cristo,
Jorge Pinheiro
Este texto foi escrito em São Paulo, no verão de 2011.
Introdução
Para o cristianismo e, em especial para o protestantismo, Jesus Cristo é aquele que revela o Pai. Ou seja, quando Deus se deu a conhecer, de forma direta e especial, o fez através de seu Filho, em carne e osso. E é justamente essa verdade teológica revelada em Cristo, que dirige a compreensão cristã do ser humano enquanto imagem de Deus. Aqui vamos analisar correlações entre a teologia da imagem de Deus e aspectos da multiculturalidade brasileira partindo de uma leitura cristocêntrica da antropologia.
Na dogmática cristã, formalizada a partir dos primeiros séculos da era cristã, Jesus Cristo é Deus e ser humano, consubstancialmente perfeito e pleno. Nesse sentido, o Cristo encarnado possibilita uma compreensão do que é o humano, traduzindo numa linguagem de vida os conteúdos fundamentais daquilo que está dito em Gênesis sobre o ser humano, antes da alienação. O Cristo revelado é, assim, dimensão profunda do humano, dimensão que traduz aquilo que o ser humano é: filho adotado do amor e da graça de Deus, criado para o louvor, honra e glória do Deus eterno. Entender esse conceito dogmático de Cristo imagem de Deus e, nesse sentido, o ser humano também é por extensão imagem de Deus significa abarcar as dimensões fundamentais do humano, de que há uma relação de amor e paternidade de Deus para com todos os seres humanos. Nessa relação Cristo manifesta o humano à humanidade, e revela o Pai em amor e graça. Esta seria a vocação definitiva do humano e de todas as pessoas: serem chamadas à filiação divina, chamadas a participar na realidade do Espírito dessa relação que é própria apenas do Filho de Deus. Significa também que o amor e a graça pressupõem liberdade. Mesmo sem ter o controle sobre sua existência, o ser humano recebeu a autonomia para a escolha, fruto do amor de Deus, pois foram criados para a graça da comunhão com Deus, mas tal predestinação não significa que nosso ser não tenha consistência própria, na dependência de Deus do qual tudo provém. Essa consistência é proposital e foi dada para que o chamado à graça da comunhão com a divindade possa ser respondido, por isso não existe um ser humano diferente daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus: a consistência da criatura é a sua liberdade, enquanto dimensão orientada para a comunhão pessoal com Deus. E significa ainda que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto comunidade humana encontra-se sob o signo da alienação e debaixo de condenação. O Cristo, Deus que se fez humano, é a verdadeira imagem de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possibilitando o reencontro do ser humano com Deus, e sua recondução à imagem de Deus, em Cristo Jesus. Ou como diz o relato de Gênesis, “vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão”. Assim o Deus Eterno criou os seres humanos, de sexos diferentes. Mas tal criação partiu da utilização de matéria orgânica, já que formou os seres humanos do pó da terra. Só depois de criado o protótipo, soprou dentro dele uma respiração de vida e assim esse ser se tornou um ser vivo. Tal descrição pode ser compreendida melhor quando estudada a partir da revelação de Deus em Cristo Jesus. É sob esta óptica e a partir das dimensões do humano que o protestantismo pode analisar o conceito de imagem de Deus e ser vivente [nefesh hayah] na cultura brasileira.
Abordagens da teologia
Quando estudamos o aparecimento do homo sapiens e, por extensão, procuramos entender o que significa ser criatura à imagem e semelhança de Deus, nos confrontamos com duas áreas de conhecimento: a antropologia e a teologia. A antropologia é a história natural do homo sapiens, ciência que estuda os seres humanos e suas relações enquanto produtores de cultura: costumes, ideologia e bens. Já a teologia é o conhecimento sistematizado da revelação, quando aquilo que é eterno brota no mundo do condicionado. Por isso, um sistema teológico deve responder à necessidade de afirmação da verdade da mensagem cristã e à interpretação dessa verdade para cada geração. Podemos, então, dizer que teologia é a interpretação metodológica dos conteúdos da fé cristã e tem um lugar especial no conhecimento, por lidar com um objeto especial e empregar um método especial. Tais reivindicações da teologia colocam o teólogo sob a urgência de prestar contas da forma como relaciona a teologia com outras expressões do conhecimento, devendo, dessa maneira, responder a duas questões: qual é a relação da teologia com as ciências e qual é a sua relação com a filosofia? Por isso, ao fazer teologia sempre nos deparamos com a questão de quem é o ser humano, pois toda reflexão sobre Deus leva-nos a pensar sobre que ser é este humano. E se Deus revela-se aos humanos vem a pergunta: quem é este ser a quem Deus se revela? E a conclusão é óbvia: a teologia necessita ter um caráter antropológico. Em outras palavras, toda reflexão sobre Deus obriga a uma compreensão antropológica do discurso teológico. Ora, se a partir da teologia podemos justificar nosso interesse antropológico, será que o inverso é verdadeiro? Será que a partir da antropologia podemos chegar à teologia? Aqui teremos diferentes questionamentos e diferentes respostas.
Sabemos que o ser humano por ter sido construído à imagem de Deus está aberto à transcendência. Ou seja, faz parte da humanidade do humano a busca do transcendente: é uma abertura, um tropismo. Mas até onde essa abertura leva? A resposta a esta questão gira ao redor do alcance da liberdade humana. Será que ela existe de fato e pode nortear a busca do conhecimento teológico? Para entender como a cristandade abordou a questão, vamos partir do maior pensador da Idade Média. Tomás de Aquino achava que sim, e correlacionava a questão da autonomia para a escolha com a capacidade da mente racional. Para ele, a mente racional amparada na analogia da existência entre Deus e o ser humano, e da lei da causa e do efeito, seria capaz de comprovar a existência de Deus e a infinidade de sua perfeição. Assim, ao partir da análise indutiva do mundo, do tempo e do espaço, o ser humano teria as condições para construir uma teologia natural, onde, através da razão, as verdades a respeito de Deus poderiam ser apreendidas nas coisas criadas, na natureza, no humano e no mundo. Um tomista chamado Antônio Rosmini (1797-1855) foi mais longe e definiu a teologia natural como uma das duas ciências da metafísica. A primeira seria a ontologia e a segunda a teologia natural. Para ele, a teologia natural deveria estudar o ser em Deus, pois não se poderia intuir nem apreender o ser absoluto através da natureza. Por isso, se faria necessário recorrer ao raciocínio para descobrir sua existência. Um exemplo é que em relação ao ser humano descobrimos sua existência quando comparamos o ser humano com os seres que ele intui e apreende, embora tais seres não esgotem o que é humano. Mas sabemos que essa existência deve ser realizada plenamente, completada, pela exigência da essência do ser que intuímos. Mas, do ser absoluto, que não intuímos não podemos saber nada além daquilo que nos mostra a exigência do conhecimento de Deus, que podemos ter na ordem natural. Ou seja, para Rosmini, o conhecimento da natureza divina é negativo e ideal.
Esse racionalismo indutivo, que partia da lógica aristotélica, soou como heresia para os reformadores do século dezesseis. Mas foi Immanuel Kant, mais cientista do que teólogo, quem rechaçou as proposições tomistas, dando origem ao fideísmo cristão. Fideísmo é o termo técnico da teologia que nega à razão condições de conhecer a verdade divina. Para os fideístas ou irracionalistas cristãos, a fé cristã só pode ser compreendida através da experiência religiosa. Assim, o fideísmo considera que a razão é incapaz de estabelecer a certeza da fé. Reformadores e teólogos entre os quais Lutero, Schleiermacher e Karl Barth se posicionaram com campo do fideísmo. Temos, então, duas visões que se relacionam na forma de um paradoxo: o racionalismo e o fideísmo.
Para poder elaborar uma resposta alternativa ao paradoxo apresentado somos obrigados a relacionar revelação universal e reino de Deus, entendendo tal correlação como expressão da manifestação de Deus a todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. É uma correlação objetiva e transmite a partir do cosmológico, do ontológico e do antropológico um conhecimento universal sobre o caráter e sobre a existência de Deus. Mas tal questão nunca foi muito bem entendida, o que levou à discussão sobre razão e fé, leia-se revelação, a guardar em seu bojo a discussão da extensão da liberdade humana. Esse era um debate que vinha desde os primeiros séculos, quando Justino Mártir afirmou que o ser humano, por ser racional e livre, é responsável por seus próprios atos. Tal afirmação levou a discussão para a relação existente entre Adão e a alienação. Para a igreja oriental, em Adão estavam tipificadas as separações humanas e o seu distanciamento é a história de toda a humanidade. Já para a igreja ocidental, a rebelião de Adão seria a fonte do mal humano. Mais tarde, essa discussão tomou corpo com Pelágio e Agostinho e, depois, a partir da crítica que a Reforma faz ao racionalismo tomista, ela voltou à tona. Só que foi feita sob novas abordagens, tais como: qual é o destino que Deus reservou ao ser humano? Assim, a discussão entre razão e revelação, autonomia e alienação do ser humano levarão ao tema do destino humano.
Pelágio, precursor do humanismo
Para entender melhor tal discussão convém conhecer as idéias de teólogos que marcaram a história do pensamento cristão. O primeiro deles foi Pelágio (354-418). Sabemos que saiu da Grã-Bretanha, onde tinha jogado um papel importante na formação do cristianismo céltico. Era monge e muito respeitado na Grã-Bretanha tanto entre o clero como entre os líderes celtas não religiosos. Nunca foi visto como herege ou alguém que não merecesse a confiança de seus companheiros. Foi um precursor do humanismo, pois acreditava nas possibilidades da pessoa e via o mal como um produto social. O que para a época era simplesmente um pensamento revolucionário. Estas idéias de Pelágio não combinavam com o determinismo teológico da nascente igreja romana. Nessa época os católicos combatiam os donatistas da África do Norte. Para os donatistas a eficácia dos sacramentos dependia do estado espiritual dos sacerdotes que os ministravam. Essa idéia trouxe um problema para a igreja cristã católica. Se ela concordasse com tal visão, poria abaixo o edifício cerimonial e litúrgico da igreja católica. E se não concordasse significaria que o edifício cerimonial desta igreja dependia do caráter moral dos clérigos e ninguém poderia ter a certeza se as ordenanças e os rituais teriam eficácia espiritual. Mas, se a declaração dos donatistas fosse falsa, então os sacramentos poderiam ser administrados eficazmente mesmo por um herético ou pecador. A acusação de heresia conservaria, desta forma, a estrutura da igreja. Naquela época, muitos homens da igreja, inclusive Agostinho, defendiam que a igreja era uma instituição cuja santidade vinha dos sacramentos e não da fé das pessoas. Para essas pessoas, os sacramentos produziam santificação e não eram os frutos da vida piedosa que produzia homens santos. A igreja celta, porém, não viu a discussão dessa maneira. Para Pelágio e seu discípulo Caelestius, a questão girava ao redor da doutrina do livre arbítrio. Não concordavam com a idéia defendida por Agostinho, que até aquele momento não era majoritária, de um pecado original que contaminou a humanidade. Pelágio não acreditava que a natureza humana estivesse degenerada pela separação de Adão. Defendia que eram os atos e a natureza que levavam o ser humano a herdar a danação. E discordou de Agostinho quando este afirmou que o ser humano só poderia ganhar a salvação através da igreja. Considerou a doutrina do pecado original sem base neotestamentária e afirmou que todos são concebidos sem pecado e, diante de seus delitos e pecados, são salvos pela graça de Deus, que não merecemos, que nos é entregue através de Jesus Cristo e sua igreja. Até aquele momento, a visão de Pelágio e seus seguidores traduziam a doutrina histórica do livre arbítrio humano e a da maldade inata desta natureza, que não tinha sido degradada, mas modificada pelo pecado. Tal visão levou Pelágio a entrar em choque com seu maior opositor, Agostinho de Tagasta. Mas, as posições de Pelágio não eram as únicas fontes de seus problemas com a igreja. Quando ela visitou Roma, em torno de 380, o que viu e ouviu estava em oposição direta ao rigoroso asceticismo praticado por ele e pelos monges celtas. Ficou chocado com a pompa e o luxo da hierarquia da igreja romana. Responsabilizou a lassidão moral da hierarquia romana, mas obteve como resposta, a partir de citação das Confissões de Agostinho, que Deus em sua vontade determina uns para o luxo e outros para a abstinência. Pelágio atacou este ensino, afirmando que a lei moral impera sobre toda a terra. Pelágio manteve sua vida de asceta, assim como a pregação da natureza moral boa do ser humano e da responsabilidade para escolher o asceticismo cristão para seu avanço espiritual. Apesar de viver longe de Roma, na Irlanda, ganhou inimigos e ficou sob os ataques de Agostinho. Ao redor de 412, Pelágio foi para a Palestina, onde em 415 compareceu diante do Sínodo de Jerusalém acusado de heresia. Para defender-se dos ataques de Agostinho e de Jerônimo, escreveu “Arbitrio de libero”, em 416, que ao invés de melhorar a situação, levou à sua condenação em dois conselhos africanos. Ele e Caelestius foram propostos à condenação e excomunhão pelo papa Inocente. Mas o sucessor de Inocente, Zosimus declarou Pelágio inocente em seu “Fidei de libellus” (Indicação breve da fé), mas depois reconsiderou, quando nova investigação foi proposta pelo concílio de Cartago, em 518. Zosimus confirmou as acusações e Pelágio foi condenado. A partir dessa data, mas nada se soube dele.
Hoje Pelágio é lembrado como aquele que teologicamente tentou nos livrar da culpa de Adão. Seus seguidores fazem questão de mostrar que ele foi um dos primeiros dissidentes da igreja católica romana em construção. Assim, Karl Barth, por exemplo, sempre foi visto como um pelagiano incurável. A pessoalidade áspera do monge celta, sua convicção que cada pessoa está livre para escolher entre o bem e mal e sua insistência de que a fé deve ser prática marcou a imaginação teológica britânica e, mais tarde, no final do século vinte não somente da teologia, mas em especial da pedagogia e da psicologia.
Agostinho, pensador estóico
Outro gênio do cristianismo, Aurélio Agostinho, disse que o mundo estava transtornado, como se estivesse numa prensa e que os cristãos eram sementes da eternidade, peregrinos a caminho da cidade do céu. Por isso, o destino dos tempos cristãos eram as provações, mas não constituíam um escândalo, porque se amamos este mundo blasfemamos contra Cristo, pois se este mundo está sendo destruído, Cristo já tinha previsto isso. Essa leitura estóica marcará toda sua produção teológica.
Agostinho nasceu há mais de mil seiscentos e cinqüenta anos e marcou a história do cristianismo. Aqui não faremos uma biografia deste pastor da nascente igreja católica romana, mas analisaremos, ainda que a galope, alguns aspectos de sua antropologia e como ela se refletiu em sua teologia e eclesiologia. A África produziu três expoentes do cristianismo: Tertuliano, Cipriano e Agostinho. O futuro bispo nasceu no dia 13 de novembro de 354, na cidade de Tagasta, antiga Numíbia, hoje Anabá, na Argélia. Era um homem apaixonado pelo conhecimento e pela vida. Aos dezessete anos uniu-se a uma jovem, que lhe deu um ano depois, seu único filho, Adeodato. Durante quatorze anos viveu com essa companheira. Intelectual brilhante se tornou maniqueísta na juventude. O maniqueísmo tinha sido fundado por Mâni, na Pérsia, no século três. Era um sincretismo que combinava elementos do zoroastrismo, budismo, judaísmo e cristianismo. Segundo Mâni, a luz e as trevas, o bem e o mal estão eternamente em guerra. Alguns conceitos do maniqueísmo, como a concepção de espírito e matéria, aproximavam-se muito do pensamento gnóstico. Para os maniqueus, o ser humano era a prisão material do reino do mal. Em 384, Agostinho tornou-se professor de retórica em Milão, capital ocidental do império. Separou-se de sua primeira companheira, unindo-se a uma segunda. Nessa época, aproximou-se do neoplatonismo, uma interpretação mística e panteísta do pensamento de Platão. Essa filosofia quebrou a dureza de seu coração materialista e criou as condições para que mais tarde aceitasse o cristianismo. Mas nesse meio tempo, Agostinho tinha chegado ao fundo do poço. Seus ideais neoplatônicos e sua vida dissoluta estavam em choque. Certo dia estava no jardim de sua casa em Milão, refletindo sobre a força moral do cristianismo, que vira nos monges egípcios: homens simples, mas coerentes em sua fé, quando...
"E eis que ouço algo como uma voz, vinda de uma casa vizinha. Ela dizia, cantante, repetindo freqüentemente: Toma! Lê! Toma! Lê! No mesmo instante, minha fisionomia mudou, fiz recuar as lágrimas que me assaltavam e pus-me a ler o que se encontrava no primeiro capítulo em que abri. Imediatamente, fez-se como que uma luz de segurança derramando-se em meu coração e todas as trevas da hesitação se dissiparam".
O texto de sua conversão foi a carta do apóstolo Paulo aos Romanos 13.13-14. "Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em impurezas e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante as suas concupiscências". Converteu-se. Isso aconteceu no verão de 386. Na Páscoa de 387, Agostinho foi batizado por Ambrósio, juntamente com o filho Adeodato e com o amigo de juventude, Alípio.
Para entendermos a antropologia de Agostinho, é interessante ver que à maneira de Tertuliano concebia a geração do Filho como um ato do pensamento do Pai. E o Espírito Santo, que procedia do Pai e do Filho, traduzia o amor mútuo entre ambos. Assim, esse amor é uma Pessoa e toda atividade de Deus ad extra decorreria de sua natureza tríplice e era, por isso, comum às três Pessoas. Assim, concebeu imagens da Trindade no espírito humano, por causa de suas faculdades peculiares tais como o lembrar-se, o conhecer e o querer (memória, inteligência e vontade). Dessa maneira, disse que é no dom do Espírito Santo que repousamos, é que é em Deus que nos alegramos e descansamos. Deus é o nosso lugar, pois é para lá que o amor nos arrebata. Só temos paz na boa vontade de nosso Deus, pois “o corpo, devido ao peso, tende para o lugar que lhe é próprio, porque o peso não tende só para baixo, mas também para o lugar que lhe é próprio. Assim, o fogo encaminha-se para cima e a pedra para baixo. Movem-se segundo o seu peso. Dirigem-se para o lugar que lhes compete. O azeite derramado sobre a água aflora a superfície. A água vertida sobre o azeite submerge debaixo deste. Movem-se segundo o seu peso e dirigem-se para o lugar que lhes compete. As coisas que não estão em seus devidos lugares se agitam, mas quando encontram o seu lugar se ordenam e repousam". Este texto não é somente bonito. Mil e trezentos anos antes de Isaac Newton, Agostinho intuía que há coisas tão leves, que sobem, ao invés de cair. E que todas as coisas só encontram repouso quando estão no lugar que deveriam estar. Tal é a situação do ser humano. E a partir dessa constatação escreve um dos mais belos textos sobre o amor. Diz que o meu amor é o meu peso e para qualquer parte que eu vá é ele quem me leva. O dom do Espírito é o que nos inflama e nos arrebata para o alto. Andamos, partimos, fazemos ascensões no coração e cantamos o cântico dos degraus. É o fogo do Espírito que nos consome, enquanto caminhamos e subimos para a paz da Jerusalém celestial. E cita o salmo: fiquei alegre quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Lá ficaremos à vontade, para que nada mais desejemos senão permanecer ali eternamente.
Para Agostinho, todo conhecimento é uma forma de amor. Só se ama aquilo que se conhece. E a busca do conhecimento pressupõe sempre um conhecimento prévio. Para entender o pensamento de Agostinho sobre o amor é bom lembrar que ele vê Deus como unidade plena, viva e guardando dentro de si a multiplicidade. Em Deus há três pessoas consubstanciais: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a essência divina em sua profundidade insondável. O Filho é o logos, o verbo, a razão e a verdade, através da qual Deus se manifesta. O Espírito Santo é o amor, mediante o qual Deus dá nascimento a todos os seres. “As três coisas que digo são: existir, conhecer e querer. Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo; sei que existo e quero; e quero existir e saber. Repare quem puder como a vida é inseparável nestes três conceitos: uma só vida, uma só inteligência, uma só essência, sem que seja possível operar uma distinção que, apesar de tudo existe". Assim, para Agostinho, o ser humano é uma trindade no existir, conhecer e querer, onde o amor encontra seu objeto na razão que o descobre: no mais íntimo da alma, onde a memória se abre para Deus e onde mora a verdade. Na doutrina de Agostinho, os fundamentos do ser são inseparáveis da ética.
O pensamento de Agostinho sobre o amor tem uma base ética, que vem de Platão. Para o sábio grego, o conhecimento consistia numa vitória da inteligência sobre os sentidos. Um filósofo seria tanto maior quanto mais se distanciasse do passageiro, para se apegar as realidades inteligíveis. "Eles, os filósofos genuínos, desde os anos juvenis, não sabem o caminho da ágora, nem onde fica o dicastério, ou a sala do senado, ou o lugar onde se tratam dos negócios da cidade. Não escutam, nem lêem os decretos e as leis proclamadas ou escritas. Nem sequer em sonhos participam das facções e nas hetairas, que porfiam na eleição dos magistrados, nas assembléias, nas ceias ou nos festins, nem se prestam as suas lascivas seduções". Mas como procurar, quando se desconhece o que se procura? Sócrates já havia observado: "Não buscarias, se já não tivesses achado". Assim, saber é, na maioria das vezes, recordar. Trabalhando com conceitos órficos e pitagóricos e com a mística do panteão grego, Platão diz que o corpo é um túmulo e que se torna necessário um trabalho de purificação interna para expiar a sua queda do Olimpo. Em "Górgias" descreve o tempo de Cronos, quando os homens ainda eram julgados por um processo muito primitivo, em carne e osso. Plutão, o senhor do hades, reclamava que os homens vinham cheios de beleza, títulos, jóias. Com isso passavam até os assassinos, ladrões e tiranos. Então, Zeus ordenou que fossem julgados sem corpo. É verdade que foi breve a passagem de Platão pela mitologia grega, mas, sem dúvida, alguns conceitos permaneceram e estão ligados a sua formulação sobre moral. Assim, a terra onde moram temporariamente os mortais, é apenas uma sombra comparada à outra. Os bem-aventurados estão lá em cima, nos céus, um lugar puro e eternamente agradável. Dessa forma, Platão defende a tese da imortalidade da alma, usando para isso argumentos da psicologia especulativa. Para ele, as reminiscências pressupõem que as almas estivessem existido antes. Daí chega à conclusão de que se a alma é imortal, ela está ligada às realidade inteligíveis, pois estas são imateriais, imutáveis e incorruptíveis. Logo, a alma, por sua origem divina, também é imortal. E o corpo, pobre corpo, é um túmulo. Mas, o que impele a alma em direção ao bem? O amor. Não o sexo, que se funda na beleza dos corpos, embora se nutra da formosura da alma. No "Banquete", Platão parte do desejo sexual para chegar à forma divina de amor, que gera virtudes e pensamentos imortais. E na "Dialética" declara que são verdadeiras apenas as coisas imutáveis, necessárias e eternas. Essas verdades são as idéias, que estão acima do tempo e do espaço, e que só podem ser conhecidas pelo discurso, cujo tipo está nas provas matemáticas, e também pela intuição, que atinge os puros inteligíveis sem usar imagens. Todas as idéias são dependentes da Idéia Suprema, que é o Bem. Para Platão, a moralidade humana consiste em imitar a Idéia Suprema, fonte da felicidade. A virtude, que é a harmonia das faculdades humanas, é o meio para se chegar ao Bem. O ser humano, para Platão, é formado por uma alma trina: racional, que mora na cabeça; irascível, que mora no peito; e concupiscível, que mora no ventre. A virtude também se divide em três: a sabedoria, que domina a alma racional; a fortaleza, que robustece a alma irascível; e a temperança, que domina a alma concupiscível. No entanto, só a alma racional é espiritual e imortal. É espiritual porque move o corpo, mas é diferente dele. E é imortal porque participa das idéias eternas.
Além da influência platônica, as epístolas de Paulo, assim como a tradição cristã marcaram a antropologia de Agostinho. E não podemos esquecer que ele se converteu ao ler Romanos 13. É interessante notar que, em seu livro XIII das Confissões, Agostinho cita Paulo, que chama de Apóstolo com maiúscula, 54 vezes, diretamente. Enquanto, em ordem decrescente, os livros seguintes mais citados são Salmos, 31 vezes, Isaías, 6 vezes, e Mateus, 6 vezes. As demais citações bíblicas estão abaixo desses números. E em textos que lembram I Coríntios l3 e também a primeira epístola de João, Agostinho diz que o amor é a própria essência do ser humano e, por isso, ele não encontra repouso enquanto não encontrar o seu lugar. Dessa maneira, para ele o amor é a alegria ontológica mais profunda e seria uma insensatez querer separar o ser humano de seu amor. O problema consiste, então, não em relação ao amor como tal, mas unicamente no objeto do amor. "Porventura, se diz que não deveis amar coisa alguma? De modo algum! Imóveis, mortos, abomináveis e miseráveis: eis o que seríamos se não amássemos. Amas, pois, mas atende ao que é digno do teu amor". Por isso, o problema central da antropologia de Agostinho é a moralidade, ou a correta escolha das coisas a serem amadas. O amor consiste, principalmente, num peso interior, que atrai o ser humano para Deus. Amar sinceramente o outro significa amá-lo como a nós próprios, o que só é possível num plano de igualdade: quer elevando-o ao nosso nível, quer elevando-nos ao plano da pessoa amada. Entre o amor a Deus e o amor ao ser humano há um elemento comum: o amor ao bem. Portanto, o amor sempre terá por objeto o ser e o bem. É justo que amemos o próximo como a nós próprios, pois, enquanto bem ele se encontra no nosso nível. Amar a Deus, porém, é amar o bem como tal. Já não pode haver igualdade entre o amante e o amado. Para amar a Deus, convenientemente, devemos amá-lo de modo absoluto, com desigualdade. Ou seja, amá-lo mais que a nós próprios. De modo absoluto: sem esperar retribuição e sem comparação. A tradição cristã das testemunhas martirizadas estava perto demais da vida de Agostinho, de forma que falar desse amor por Deus não era apenas um exercício teológico. De todas as maneiras, para o bispo de Hipona esse processo não significava aniquilamento do eu, pois, no amor a Deus, esquecer-se equivale a encontrar-se e perder-se a ganhar-se. Assim, segundo a tradição tomada por Agostinho, para entrar na plena posse do bem perfeito é necessário que o ser humano abdique de si próprio. Essa entrega plena a Deus, que assegura a posse de seu objeto, é o amor.
O amor não é apenas o coração da moralidade, é a própria vida moral. O começo do amor é o começo da justiça, o progresso no amor é o progresso da justiça, a perfeição do amor é a perfeição da justiça. Dominado pelo amor, o ser humano cumpre cabalmente a lei divina. Amar e fazer o bem se tornam sinônimos. Esse amor pregado por Agostinho chegará à plena realidade com seu trabalho A Cidade de Deus. O império estava sendo ameaçado, Roma sitiada acusava os cristãos por esta decadência política. E a discussão teológica dos anos anteriores, sobre a relação dialética entre o poder do Espírito e a majestade do amor, criava carne e virou práxis. Agora, como profeta preocupado com o destino da igreja no século presente, o bispo de Hipona clama: "Dois amores construíram duas cidades: o amor de si próprio em detrimento de Deus e o amor de Deus em detrimento de si próprio. Uma delas glorifica-se em si mesma e mendiga sua glória junto aos homens, a outra se glorifica no Senhor. Deus, testemunha de sua consciência, é a maior glória da outra cidade". Dessa maneira, o que era pessoal nas Confissões toma uma dimensão universal na Cidade de Deus. O amor de Deus abarca toda a humanidade. Aliás, quando as pessoas, vivendo a decadência daqueles momentos, diziam que os tempos eram maus, Agostinho replicava: "Os tempos são aquilo que nós somos. Não há bons tempos, há somente boas pessoas". Essa relação entre amor e cidade de Deus, para Agostinho, está ligada ao caráter errante da vida cotidiana. "Todo homem vaga e procura. O que procura ele? Busca descanso, procura felicidade. Não há ninguém que não procure ser feliz. Pergunta a um homem qualquer o que ele deseja, e te responderá que procura a felicidade. Mas os homens não conhecem a estrada que leva à felicidade, nem o lugar onde a encontrar. Por isso é que eles vagam. Cristo recolocou-nos na boa estrada, no caminho que leva à pátria. Como caminhar? Ama e correrás. Quanto mais fortemente amares, mais depressa correrás em direção à pátria". Assim, o amor em Agostinho toma uma conotação antropológica, universal, dentro da tradição paulina. Por isso, dirá: "Se queres saber qual é a cidade e a que chefe obedeces, escruta teu coração e examina teu amor. É o amor que identifica os homens e constrói as cidades. É pelo amor que seremos julgados". Diante desse amor a que somos chamados, Cristo nos reconcilia com Deus pelo sacrifício da paz, ao permanecer um só com aquele a quem fez a oferta, unindo em si aqueles por quem ofereceu o sacrifício, sendo ele um só como ofertante e sacrifício ofertado. Ele é mediador enquanto ser humano, não enquanto palavra. O objetivo total da encarnação da palavra era que ele fosse cabeça da igreja e agisse como mediador. Assim, sem eliminar o papel do logos, enfatiza a humanidade de Cristo. E através dessa cristologia que tem por base a humanidade de Cristo, procura mostrar que o ser humano e seu Criador possuem um ponto em comum, onde pode ser efetivada a obra da reconciliação e da restauração. Essa mediação antropológica se realiza através da reconciliação: a divindade participa de nossa mortalidade a fim de que participemos de sua imortalidade; da libertação que salva nossa natureza das coisas naturais, a fim de tornar deuses àqueles que eram seres humanos, embora isso não signifique deificação, mas libertação de Satanás.
Agostinho dramatiza e diz que o sangue de Cristo foi o preço pago por nós, que ao ser aceito pelo diabo o acorrentou para sempre. O diabo não possuía nenhum direito sobre a humanidade e o domínio dele, após o pecado, foi permissão, não determinação de Deus. Por isso, Cristo não devia nenhum resgate à Satanás. Assim, a soteriologia de Agostinho também tem base antropológica, pois aparece como a libertação do ser humano. Nesse sentido, a humanidade de Cristo produziu o sacrifício necessário em favor dos seres humanos, expurgou e eliminou qualquer culpa. Essa antropologia cristológica leva a um conceito fundamental: a humildade de Deus, pois na cruz Cristo demonstrou o amor e a sabedoria de Deus. O que deve levar os corações humanos a adorar a humildade de Deus que, conforme revelada na encarnação rompe o orgulho. E diz que os seres humanos fazem bem em crer que a humildade demonstrada por Deus, ao nascer de uma mulher e ao ser levado à morte por homens mortais, é o remédio para curar o orgulho, o mistério pelo qual os laços do pecado são rompidos. Daí tira duas conclusões: é a humildade objetiva, que se mostra na encarnação e na paixão, que torna possível a reconciliação. Assim, a imitação de Cristo é o efeito da graça divina liberada pelo sacrifício da cruz sobre os corações.
“Jamais teríamos sido libertados, nem mesmo pelo único mediador entre Deus e os homens, o ser humano Jesus Cristo, se ele também não fosse Deus. Quando Adão foi criado, ele era obviamente justo, não sendo necessário um mediador. Mas quando o pecado estabeleceu um imenso abismo entre a humanidade e Deus, foi preciso um mediador singular no nascimento, na vida e na morte sem pecado, a fim de que fôssemos reconciliados com Deus e conduzidos à vida eterna mediante a ressurreição da carne. Assim, pela humildade de Deus, o orgulho humano foi repreendido e curado, e mostrou-se ao ser humano o quanto ele se afastara de Deus, pois foi necessária a encarnação de Deus para a restauração do ser humano”.
E é essa antropologia, atravessada pela teologia do amor, que leva Agostinho e ver a igreja como o domínio de Cristo, seu corpo místico, sua noiva, a mãe dos cristãos. Fora dela, considerava, não há salvação; os hereges podem ter a fé e os sacramentos, mas não conseguem tirar bom proveito deles, pois o Espírito Santo só é outorgado à igreja. Essa igreja da qual Agostinho fala é a Igreja católica de seu tempo, com sua hierarquia e sacramentos e com seu centro em Roma. Ela é a verdadeira igreja por ensinar toda a verdade e não fragmentos dela e por abranger todo o mundo. Nesse sentido a igreja de Agostinho é universal, orgânica e visível a qualquer momento. É uma comunidade mista que abrange bons e maus. E Cristo é a palavra, mediador e cabeça da igreja. Há uma unidade entre Cristo e seus membros; são uma só pessoa, por isso uma unidade orgânica. Esse corpo é permeado, vivificado e mantido pelo Espírito Santo, que é a personificação do amor. Esse amor constitui a essência da igreja. A igreja é, então, uma comunhão de amor. Seus membros devem estar unidos. Essa mãe espiritual gera a vida eterna. Daí que é absurdo supor que alguém que não ame a Deus e seus irmãos possam pertencer à igreja. Mas, enquanto instituição histórica deve compreender pecadores e justos. Os pecadores não têm nenhuma participação na união invisível de amor. Estão dentro da casa, mas permanecem estranhos a sua estrutura íntima. Só os justos constituem de fato a congregação e a sociedade dos santos.
Aquino, razão e fé
Depois dessa revolução provocada por Agostinho, um outro nome gênio vai marcar presença histórica na igreja cristã: Tomás de Aquino (1225-1274), teólogo italiano, que nasceu em Roccasecca, perto de Aquino. Foi canonizado em 1326 pela Igreja católica. Sua obra mais importante é a Summa Theologica, uma apresentação filosófico-sistemática da doutrina cristã. Seu sistema foi declarado ensino oficial da Igreja católica pelo papa Leão XIII. Embora já tenhamos no início do capítulo visto um pouco de sua hermenêutica, vamos agora aprofundá-la mais. Aquino partia do princípio de que a fé tem por base a revelação de Deus nas Escrituras e de que a razão não pode ser a base para a fé. Apesar deste ponto de partida, ao desenvolver a idéia de que a razão tem as condições para, por si só, comprovar a fé, acabou por distanciar-se da premissa original e terminou por defender a idéia de que existem cinco formas de se comprovar a existência de Deus pela razão: a partir do movimento em direção ao motor imóvel; dos efeitos em direção à causa primeira; da existência contingente em direção à existência necessária; dos vários níveis de perfeição em direção ao ser perfeitíssimo; da ordem da natureza em direção ao ordenador de toda a natureza. Ou seja, acreditou poder provar a existência de Deus através da construção de estruturas lógicas e formais.
Tomás de Aquino partiu da sistematização filosófica realizada por Aristóteles, que apresentou formas de conhecer a realidade, elaborando procedimentos diferentes para cada campo do conhecimento. Considerava que antes de um conhecimento constituir objeto e campo próprios, os procedimentos de aquisição, exposição, demonstração e prova, deve-se, primeiro, conhecer as leis gerais que governam o pensamento. E essas leis gerais do conhecimento formam a lógica. A lógica é instrumento e, por isso, indispensável para a teologia. Para Aristóteles havia um conhecimento da realidade pura, não mutável, que não é resultado da ação humana. Trata-se daquilo que está presente em toda realidade. É o ser ou substância de tudo o que existe. E o estudo dessa realidade pura é a metafísica, ou estudo dos fundamentos do ser. O estudo das coisas divinas, causa e a finalidade do que existe, nos remete ao que Aristóteles considerava a mais importante das ciências, a teologia. Tomás de Aquino foi mais além e dividiu a metafísica em geral e especial. A metafísica geral, ou ontologia, tem por objeto o ser em geral e suas atribuições e leis relativas. Já a metafísica especial estuda o ser em suas grandes especificações: Deus, o espírito, o mundo. Daí temos a teologia racional diferente da teologia revelada. O princípio básico da ontologia é a especificação do ser em potência e ato. Ato significa realidade, perfeição; potência quer dizer imperfeição. Mas ato significa a imperfeição relativa da mente e da capacidade de conseguir uma perfeição absoluta. Tal passagem da potência ao ato é o vir-a-ser, e depende do ser, que é ato puro. Este não muda e faz com que tudo exista e tudo venha-a-ser. Assim, a potência pura opõe-se ao ato puro e dá origem à matéria. Dessa maneira, partindo de Aristóteles, Tomás de Aquino considerou o conhecimento essencialmente racional, destinado a resolver os problemas do mundo, ao mesmo tempo em que separou a filosofia da teologia, já que o conteúdo da teologia era revelado e o da filosofia racional. Assim, o conhecimento para Tomás de Aquino é empírico e racional, e aqui a revelação não se faz presente. Para ele, o conhecimento tem dois momentos: é sensível e intelectual. Dizer que o conhecimento é sensível significa dizer que está fora de nós, realiza-se enquanto objeto sensível. É imagem, é forma do objeto na alma, é o objeto sem a matéria, é como a impressão do sinete na cera, sem a materialidade do sinete. Dizer que o conhecimento é intelectual significa dizer que depende do conhecimento sensível, mas que vai além, transcende aquilo que é sensível. O intelecto vê a natureza das coisas mais fundo do que os sentidos. No conhecimento sensível, o objeto material está representado por sua individualidade, sua temporalidade, sua espacialidade, mas sem a matéria. Nesse sentido, o universal, a essência das coisas está contida apenas potencialmente. Para que o inteligível se torne explícito é preciso abstraí-lo das condições materiais. Tem-se, então, a espécie inteligível, que representa o elemento essencial, a forma universal das coisas, pelo fato de que o inteligível está contido potencialmente no sensível, é necessário um intelecto, um agente que abstraia o inteligível da representação sensível. Este agente intelectual ilumina o mundo sensível para conhecê-lo, mas está desprovido do conteúdo ideal presente na teologia de Agostinho. E apesar de ser uma faculdade da alma, não advém de fora como acreditava Agostinho e o panteísmo averroísta. O intelecto que entende o inteligível, a essência, a idéia, feita explícita, é o intelecto que utiliza as operações racionais humanas: conceber, julgar, raciocinar, elaborar. Como no conhecimento sensível, o que é sentido pelo sujeito forma uma unidade, mas algo mais perfeito, ainda, acontece no conhecimento intelectual, numa correlação entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Compreendendo as coisas, o espírito se apropria delas, possui, tem em si imanente todas as coisas, compreendendo suas essências, suas formas.
É preciso salientar que para Tomás de Aquino a espécie inteligível não é a representação da coisa, pois se fosse representação teríamos apenas os conhecimentos das coisas, ou seja, os fenômenos. Mas, a espécie inteligível é o meio pelo qual a mente entende aquilo que está fora dela. Isto corresponde aos dados do conhecimento, que nos garantem conhecer coisas e não idéias. Mas as coisas só podem ser conhecidas através das espécies e das imagens. Não podem entrar fisicamente no nosso cérebro. Este conceito de verdade está em harmonia com sua concepção realista do mundo e pode ser experimentalmente demonstrado. A verdade lógica não está nas coisas e nem sequer no intelecto, mas na adequação entre o intelecto e o objeto. Esta adequação é possível pela semelhança entre o intelecto e as coisas, que contêm um elemento inteligível, a essência, a forma, a idéia. O sinal pelo qual a verdade se manifesta à nossa mente é a evidência; e, visto que muitos conhecimentos nossos não são evidentes, intuitivos, tornam-se verdadeiros quando levados à evidência mediante a demonstração. Os conhecimentos sensíveis são intuitivos, mas conhecimentos verdadeiros. Os erros dos sentidos são falsas interpretações dos dados sensíveis, devidas ao intelecto. Já no campo intelectual os conhecimentos são pouco evidentes. São evidentes os princípios primeiros: a identidade e a contradição, por exemplo. Os conhecimentos não evidentes são reconduzidos à evidência mediante a demonstração e é neste processo demonstrativo que pode surgir erro enquanto falsa passagem na demonstração, que leva à discrepância entre o intelecto e o objeto. A demonstração é um processo dedutivo, passagem necessária do universal para o particular. No entanto, os universais, as idéias, não são inatas na mente humana, como acreditava Agostinho e também não são inatas as relações lógicas, mas surgem com a experiência, mediante a indução, que colhe a essência das coisas.
Assim, para Tomás de Aquino, que segue o roteiro proposto por Aristóteles, o conhecimento vai encontrar seu ponto alto na metafísica e na teologia, de onde derivam os conhecimentos e que podem ser apresentados da seguinte forma: o conhecimento da realidade última ou da essência, ou seja, da ontologia, formado pela metafísica e pela teologia; o conhecimento das ações e suas finalidades, a ética e a política, e das ações que produzem obras: as técnicas, as artes e seus valores; o conhecimento da capacidade de conhecer: a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, a teoria do conhecimento, que fornece os procedimentos pelos quais conhecemos, as ciências propriamente ditas, e o conhecimento do conhecimento científico, a epistemologia. O ser humano, então, tem uma capacidade de conhecer não truncada pelo pecado. Essa capacidade de conhecer está presente nos cinco princípios lógicos que nos possibilitam chegar à verdade: (1) o princípio da identidade: ser é ser; (2) o princípio da não/contradição: ser não é não/ser; (3) o princípio do meio termo excluído: ser ou não/ser; (4) o princípio da causalidade: o não/ser não pode causar o ser; e (5) o princípio da finalidade: todo ser age visando alguma finalidade. Essa compreensão sobre a possibilidade do conhecimento será fundamental para o cristianismo posterior, embora não tenha sido entendida assim pelos primeiros reformadores. A revolução tomista lançou as bases para a compreensão do conhecimento científico como autônomo diante da teologia. E também porque colocou a teologia como objeto de estudo lógico racional, onde a revelação é dado circunscrito a condicionantes que também devem ser objeto de estudo.
Lutero e Calvino, a força da predestinação
Diante do que vimos, é importante analisar como os reformadores protestantes entenderam essa marcha do conhecimento. Martinho Lutero (1483-1546) foi o principal líder da Reforma alemã. Filho de camponeses tornou-se monge e mais tarde professor. Seu mais importante trabalho, ao menos no que se refere ao que nos interessa neste estudo das correlações entre a teologia e as brasilidades, é A Liberdade do Cristão. Nesse folheto, escrito para o papa em tom não-polêmico, ensina a doutrina da justificação pela fé. Para Lutero, que inicialmente tinha uma posição próxima a de Agostinho e que foi radicalizada a partir da oposição que fez à doutrina do pecado em Pelágio, a predestinação não tem por base exclusivamente a eleição, mas repousa no caráter oculto de Deus, que se manifesta por trás e vai além da sua revelação. Assim, não é sobre a justificação, mas também sobre a predestinação que repousa a fé somente. “Se você crê então será chamado. E se é chamado, então, muito certamente está predestinado”. Toda crítica ao caráter de Deus, por ser Deus, e ter condições de escolher ainda na eternidade aqueles que seriam salvos, repousa, segundo Lutero, no egocentrismo humano. Aos padrões humanos, Deus pode ser considerado injusto, mas por ser plenamente consciente, ele é justo e verdadeiro quando olhado a partir de seus próprios padrões. “Quando, portanto, a razão louva a Deus por salvar os indignos, mas censura-o por condenar os indignos, ela torna-se culpada porque não louva a Deus como Deus, mas serve a seus próprios interesses”. Se para Lutero a doutrina da eleição fazia parte de um tripé teológico, onde os dois outros elementos fundamentais eram os princípios a Escritura somente e a justificação pela fé somente, para Calvino a predestinação era o dogma central. Apesar disso, não podemos dizer que sua doutrina fosse original. Era uma radicalização da posição defendida por Lutero. Sua principal fonte era uma leitura particular de Agostinho e a tradição radical da Idade Média, que incluía os últimos escritos de Tomás de Aquino, Gregório de Rimini e Thomas Bradwardine. Em termos sistemáticos, até João Calvino (1509-1564), que foi o pai da teologia reformada presbiteriana e cuja principal obra são as Institutas da Religião Cristã (1536), a doutrina da eleição se localizava no contexto da doutrina de Deus. Mas, em 1559, na edição definitiva das Institutas, Calvino separa as duas, apresentando a predestinação como o momento maior da doutrina de Deus. Calvino não apresenta sua sistemática começando com a predestinação, passando depois à expiação, à regeneração, à justificação, mas a predestinação tornou-se uma questão central para ele no contexto da salvação. A doutrina da predestinação em Calvino pode ser definida em três palavras: absoluta, particular e dupla. É absoluta já que não está condicionada a nenhuma contingência finita, é particular no sentido que pertence a indivíduos e não a grupos. E, por fim, é dupla: Deus, para o louvor de sua misericórdia, elegeu uns para a vida eterna, e, para o louvor de sua justiça, outros para a perdição eterna.
A historiografia dos séculos dezesseis e dezessete mostra que a doutrina da predestinação absoluta defendida por Lutero e Calvino enfrentou séria oposição não somente nos meios teológicos, mas de pastores e crentes. Entre esses opositores podemos citar Desidério Erasmus (1486-1536) teólogo e erudito, que em 1524 escreve em polêmica com Lutero Diatribe sobre o Livre Arbítrio, o movimento anabatista e dois fundadores do pensamento batista na Inglaterra: John Smyth, primeiro pastor batista na Inglaterra (1610-1612), que levantou a bandeira da “liberdade de consciência absoluta” e Guilherme Dell, pensador batista inglês, que escreveu Uniformidade Examinada e apoiou a revolução inglesa (1642-1649) dirigida por Oliver Cromwell. Dell defendeu a liberdade de consciência e considerou o uso de coação uma invenção humana, algo deletério que não tinha lugar no reino de Cristo. Mas, historicamente, seu opositor mais conhecido foi Jacobus Arminius. Apesar da oposição que a leitura de Calvino produziu no mundo protestante, a doutrina da predestinação, para seus defensores, deve ser entendida como uma garantia nos momentos de provação e uma confissão à graça de Deus.
Armínio, a liberdade de escolha
Já a doutrina da predestinação defendida por Jacobus Arminius (1560-1609), que escreveu Exame do Panfleto de Perkins, Declaração de Sentimentos, Controvérsias Públicas, e Setenta e Nove Controvérsias Particulares, parte de uma outra perspectiva: o papel da graça diante da depravação humana, a eleição condicional, a graça resistível, a expiação não limitada, já que Cristo morreu por todos, e a possibilidade de perda da salvação. Assim, para o arminianismo a eleição é condicionada pela fé. Em sua Declaração de Sentimentos, apresentada ao sínodo da igreja holandesa em 30 de outubro de 1605, ele sintetiza a posição supralapsariana, ou predestinação absoluta do calvinismo, em quatro pontos: (1) Deus decretou a salvação e a perdição de certas pessoas, (2) com a finalidade de levar a cabo seu decreto, Deus decidiu criar Adão e toda a espécie humana sob um estado de retidão original, mas deu a eles a opção de pecar e serem privados da retidão original. (3) Deus decreta não só a salvação dos eleitos, mas os meios para que eles também possam fazer outros crer, perseverar na fé e serem salvos. (4) O decreto de Deus impede que esses meios possam ser rejeitados. Para Arminius, a posição supralapsariana pode ser traduzida no silogismo: (1) A certeza da salvação depende desse decreto, (2) aqueles que crêem serão salvos, (3) eu creio (4) logo, eu serei salvo. Só que, explicava Arminius, essa não era a posição dos cristãos nos seis primeiros séculos depois de Cristo. Nem foi assim exposta nos concílios de Nicéia, Constantinopla I, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III e nos concílios locais de Jerusalém, Orange e Mela. E também não era a posição de Agostinho, Próspero de Aquitânia, Fulgêncio, Orosius e outros mestres da igreja. Arminius defende uma posição sublapsariana, alertando para o fato de que Deus não predetermina ninguém para a perdição. E que Deus em seu decreto escolheu seu Filho como Salvador para mediar a favor daqueles pecadores que se arrependem e crêem em Cristo, e para administrar os meios eficientes e eficazes para a fé de cada um deles. Assim, decreta a salvação e a perdição de pessoas em particular com base em sua onisciência da fé e perseverança de cada indivíduo.
Na verdade, consideramos que toda a tensão da discussão entre predestinação absoluta ou predestinação condicional gira ao redor da compreensão de duas doutrinas: expiação (graça) e eleição. Tomamos por base o arrazoado que Pedro faz em sua segunda epístola, explicando esta questão. Ele nos mostra que a expiação não tem limites, pois Deus não retarda a sua promessa, como alguns afirmam, por julgá-la demorada, mas está sendo paciente. Ele não decreta a perdição de pessoas, ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento, como afirma Pedro (2 Pedro 3.19), João (1 João 2.2) e Paulo (2 Coríntios 5.19). Dessa maneira, a graça e a expiação têm eficiência e eficácia ilimitadas, mas há uma chave para que a função graça e a função expiação sejam plenamente exercidas. E essa chave está no final do versículo acima citado: “que todos cheguem ao arrependimento”. Dessa maneira, o sacrifício pleno, eficiente e eficaz de Cristo, expiação não limitada, deve ser somado ao arrependimento, produzindo então a salvação. Ou seja, expiação não limitada mais arrependimento é igual a salvação. O sacrifício pleno, eficiente e eficaz de Cristo, expiação não limitada, sem o arrependimento produz justiça. Ou seja, expiação não limitada menos arrependimento é igual a justiça. Nesse sentido temos um conjunto formado por dois círculos.
A verdade é que o valor da cruz não é limitado, mas sua aplicação sim. Todos estamos predestinados à salvação, mas a eleição depende do arrependimento. Por isso, podemos dizer com Arminius, que Deus decreta a salvação e a condenação de pessoas em particular com base no conhecimento divino da fé e perseverança de cada um em particular. Só assim podemos dar uma explicação lógica e plausível para o texto de 2 Pedro 2.1, quando diz que no meio do povo surgiram falsos profetas, e que também entre nós haverá falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, “a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou”, trazendo sobre si mesmos destruição. A teologia de Jacobus Arminius ressalta a liberdade humana. Considerava que a vontade do ser humano alienado está incapacitada para produzir bem permanente, isento de pecado e mal. Nesse sentido seu conceito de liberdade humana diferia da visão de Pelágio. Através dessa defesa da autonomia da consciência humana, Arminius influenciou profundamente a teologia de John Wesley, o metodismo e o protestantismo de missões. É interessante notar, também, que o pensamento de Arminius antecede os padrões de pensamento do Iluminismo.
A partir do que vimos, podemos dizer que existem três tendências na antropologia quando analisa a consistência ontológica do ser humano, em especial à sua liberdade de consciência e ação e ao uso pleno da razão: a tendência minimalista, que limita a consistência ontológica do humano e afirma a impossibilidade do conhecimento de Deus pela razão. Na teologia do século XX, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Paul Tillich e Dietrich Bonhoeffer foram minimalistas. A tendência maximalista, que não vê limitação à consistência ontológica humana, ao contrário, considera que o ser humano avança progressivamente no conhecimento de Deus, através da razão e da ciência. Nesse campo estão Teilhard de Chardin, Karl Rahner e Wolfhart Pannenberg. Mas há uma tendência correlacional, que vê a tendência minimalista e a tendência maximalista não como opostos, mas elementos de um paradoxo. Neste equilíbrio que não elimina os pólos, a correlação leva a uma superação dos contrários, onde o ser humano pode e deve apoiar seu conhecimento de Deus em sua liberdade de ação e consciência, assim como no uso da razão, embora tal processo deva ter como ponto de partida a revelação. Para melhor compreendermos esse raciocínio dialético vamos reler Hegel, que supera a lógica aristotélica e, por extensão, a teoria do conhecimento de Tomas de Aquino.
Hegel, o motor da história
Podemos começar a leitura de Hegel com um texto do apóstolo Paulo. “Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção”. (Filipenses 1.6,9). Sem dúvida, o Espírito Santo começou a boa obra em nós. O Espírito Santo está presente no mundo para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Quem começou vai terminar. É uma promessa de que essa obra não ficará incompleta. A oração de Paulo pelos Filipenses é para que cresçam mais no amor, no conhecimento e na percepção. Há aqui uma imagem da Trindade. Deus é a fonte do amor, o conhecimento é o logos, e este conhecimento vem através da palavra. Ao orar por crescimento no amor e no conhecimento da palavra, Paulo usa a palavra percepção, que também quer dizer compreensão, discernimento. O Espírito Santo é quem nos dá a percepção espiritual e o discernimento, aquilo que está além do que o olho pode ver. Tudo isso vem através da vida. O cristão cresce vivendo, não somente através de um processo intelectual, mas na comunhão com Deus e com os irmãos.
Hegel, quando jovem, escreveu sobre teologia e religião. Mais sua grande contribuição para a teoria do conhecimento, que até aquele momento partia de Aristóteles, foi a reconstrução da dialética. A lógica de Aristóteles que influenciou o mundo até Hegel era a lógica formal. A lógica é sempre uma relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Aristóteles começou a trabalhar com a lógica a partir de formas. Dizia que um ser é aquilo que é, e um ser não é aquilo que não é. Ou seja, uma cadeira é uma cadeira e não mesa. Isso foi importantíssimo e o mundo aprendeu a pensar logicamente com Aristóteles. A teologia de Tomás de Aquino utilizou a fundo a lógica aristotélica. Mas Hegel, antes de elaborar seus estudos sobre a lógica, tinha um problema: não conseguia pela lógica formal explicar os fenômenos que escapavam à matemática. Não conseguia explicar, por exemplo, a Revolução Francesa, nem determinados conceitos teológicos. Então, partindo da Trindade, criou outra lógica que recebeu o nome de dialética, porque trabalha com opostos. Acontece que a dialética já existia entre os gregos, mas não da maneira que Hegel vai desenvolver. Hegel vê que temos um Deus que é puro Espírito. Por ser puro Espírito não pode se revelar plenamente ao ser humano. Há, então, uma outra pessoa de Deus que se torna Deus/ser-humano e se realiza como Deus e como ser humano. Jesus Cristo continua sendo Deus, mas é ser humano. Mas, isso ainda não resolve o problema. Jesus Cristo é Deus e é ser humano, mas não é Deus em toda a humanidade. Assim, se na dialética hegeliana Deus é a tese e Jesus Cristo é antítese, o relacionamento dos dois deve gerar uma síntese: o Espírito Santo, que vindo de parte do Pai e do Filho, se faz presente na humanidade. O que Hegel quer dizer na dialética não é o mesmo que Aristóteles. O filósofo grego disse que um ser é aquilo que é. Hegel vai dizer que um ser é aquilo que ele é e aquilo que não-é. E é exatamente isso que faz com que nada seja estático. Ele trabalha dois conceitos a partir dessa dialética: o conceito de estrutura e o conceito de gênese ou movimento. Ele conseguiu uma lógica que explica os processos sociais, assim como os processos de desenvolvimento dos organismos vivos. Uma semente de roseira é aquilo que ela é: semente. Mas também é aquilo que não-é: roseira e rosa. É esta a compreensão: uma estrutura num momento é apenas semente, mas passa a ter um movimento que a leva a ser alguma coisa que não-é. E esse processo é permanente. Não se tem processo dialético estático, imóvel. Hegel faz a teoria do conhecimento dar um salto, pois a partir dela, agora, se pode definir para onde vai a realidade. Ele descobre a maneira para explicar o que vai acontecer desde que se conheçam as tendências do momento presente. Conhecendo-se isso, sabe-se para onde vai.
A porta de entrada para o pensamento hegeliano é o amor. Já que é a partir daí que descobre o caráter dialético da realidade. O ponto de partida é a auto-alienação na realização do amor: o amor esquecendo-se de si próprio sai da existência amorosa e vive no outro. No amor há ainda o separado, não como separado, mas como unidade. Hegel estava olhando para a Trindade. Como teólogo descobre que a antítese de Deus é Jesus Cristo e Cristo é o amor auto-alienado de Deus. Na dialética do amor realiza-se a vida. O amor é o movimento da vida. A vida em sua essência também é dialética. É una em sua essência, mas divide-se na multiplicidade dos seres para, finalmente, reencontrar-se na unidade. A igreja é o corpo de Cristo e quem a dirige é o Espírito Santo. Está-se voltando à unidade, mas em um nível diferente do qual partiu. Assim Hegel viu a dialética: há estrutura e gênese, trabalha com opostos e cria um movimento permanente. Para Hegel, o divino é pura vida e por isso Deus também tem sua dialeticidade. Deus é uma totalidade e tudo o que existe está ligado a ele. Não vou dizer que tudo está na totalidade divina, porque seria panteísmo, mas sim na realidade. Nesse sentido, nada está fora de Deus. Ou como diz Paulo, citado por Lucas em Atos 17.28: “pois nele vivemos, nos movemos e existimos...”. Tudo está sob a unidade que é Deus. O Filho é ser humano, que se desenvolve em estado de separação no seu eu finito, no meio do mundo das determinações e o Espírito Santo traduz a condição do ser humano que superou o estado de alienação e fez o retorno consciente à realidade da redenção. Daí surgem os três momentos de sua dialética: a concepção da realidade uma, as realidades separadas e a realidade outra vez unificada. Toda a realidade é somente uma, o mundo é somente um, a humanidade também. A realidade é uma, mas está separada: o que é e o que não-é estão juntos, a realidade unificada. Para o jovem Hegel, a espiritualidade reconcilia a reflexão e o amor, unindo-os no pensamento. A vida espiritual, que é a vida do amor, realiza a exigência da teologia de reconciliar as oposições do finito e infinito. Ou seja, Hegel substitui espiritualidade por cristianismo. O cristianismo reconcilia a reflexão e o amor unindo-os no pensamento, ou na percepção, usando a linguagem de Paulo. O objetivo racional de Hegel é sempre a reconciliação dos contrários: o cristianismo privatizado e o cristianismo social, liberdade e necessidade, finito e infinito. Já maduro Hegel definiria a tarefa do conhecimento como a construção do absoluto pela consciência, que superando oposições produz o processo dialético.
O finito não pode ser pensado sem pensar o infinito, pois não é um conceito isolado e sem conteúdo próprio. O finito consiste em ser um momento do infinito. O finito é atingido pela negação, mas não é simples negação, uma vez que é limitado por outro que não é ele mesmo. Ou seja, o finito é uma negação do infinito, no sentido que é uma particularidade, um momento, uma determinação. Sempre que se determina, se nega. Por exemplo, se numa sala de aula, um professor chama um aluno pelo nome, naquele momento ele está negando todos os demais alunos e determinando um único apenas. Por isso, devemos negar a negação e afirmar que o finito é mais que o finito, ou seja, que é o momento da vida do infinito. O processo que resolve a oposição é o processo dialético: finito e infinito não são dois mundos separados. Sempre que se tem o final do processo se tem a identidade, porque contém todas as diferenças. O conhecimento para Hegel é um processo que nunca se dá no início, mas no final, por isso conhecimento é sempre histórico. Como se conhece a roseira? Vendo-a crescer. Para Hegel, o conhecimento está-se dando na vida. Assim, podemos dizer que o tema da filosofia de Hegel é o infinito e suas relações com o finito, relação de unificação de ambos os termos no princípio absoluto. A identidade, contendo dentro de si as diferenças e a harmonia, acontece no fim do processo dialético. O absoluto é o pensamento que se pensa a si mesmo, o que equivale dizer que o absoluto é espírito, sujeito autoconsciente. Hegel mostra que o próprio Deus ao se finitizar entra na história. No final do século vinte alguns filósofos disseram que a história acabou, mas para Hegel a história nunca acaba, é permanente. Mesmo quando o ser humano estiver nos novos céus e na nova terra, já que a vida existirá, existirá também a história e, por extensão, o conhecimento. Deus fez o ser humano para adorá-lo num processo consciente e livre. Homem e mulher têm liberdade de escolha e autoconsciência para adorar a Deus. Deus não vai mudar porque um dia toda a humanidade irá adorá-lo de forma plena, mas, sem dúvida, a partir desse momento, há um relacionamento que Deus não tinha antes com os seres humanos. Isso é revelação, um dia Deus será compreensível, mas não totalmente, porque vamos continuar conhecendo. E se continua havendo conhecimento há um processo histórico. Hegel está tentando entender o processo dentro da Trindade. Para ele, se esse processo é dialético, há um conhecimento dentro da Trindade, não necessariamente de forma, mas um conhecimento intrínseco, intratrinitário. Aqui algumas questões teológicas se colocam: quando Jesus pregado na cruz, segundo Mateus 27.46, declarou: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” imaginamos que aquele foi um momento de ruptura. Mas pode haver ruptura entre o Pai e o Filho? Como se dá a superação dessa relação dialética? Depois da ruptura, o amor é maior ou igual? Outra questão: tendo em vista que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade presente na igreja durante o período da graça, quando a história presente terminar e estivermos nos novos céus e na nova terra, haverá na Trindade um conhecimento maior sobre a experiência vivida pelo Espírito nesses milênios da era cristã? A Trindade conversa, mas não é uma comunicação redundante, nem conversa de louco, onde as pessoas já sabem de antemão o que será dito, ou falam de coisas que as duas outras pessoas nada entendem. A base do conhecimento intratrinitário é o amor e o amor cresce à medida que se ama e se vive o amor. Esse é o sentido do conhecimento na Trindade.
Hegel examina o aspecto fenomênico do cristianismo: sentimento, intuição, representação. A primeira forma de espiritualidade é sempre imediatização da relação Deus/ser humano, própria do sentimento. O sentimento é individual, acidental e mutável. A intuição que se tem na arte é o momento mais elevado dessa imediatização. Há uma dualidade de contrários entre o sujeito intuinte e o objeto intuído, entre a unidade da consciência cristã e seu objeto. A contradição resolve-se à medida que o cristianismo se transforma em verdadeiro saber. E a este saber o ser humano só chega pela fé. Hegel considerava que o momento mais alto do conhecimento espiritual é o cristianismo e que a espiritualidade de Israel era uma imediatização da relação Deus/ser humano. A espiritualidade, enquanto fé, sentimento e intuição ingênua, consiste em geral no saber e consciência imediatos. Imediato, para Hegel é sempre o que não se conhece. Ao vermos uma pessoa temos uma percepção imediata, que é falsa. Quando se passa da primeira percepção e vive-se o cristianismo há um desenvolvimento da fé e o abandono do imediato. Ou seja, a primeira percepção é emocional, mas a última deve ser a fé, ou a percepção concreta da espiritualidade. Que é a fé? É o momento em que não se precisa mais de elementos imediatos para a relação com Deus. Não se precisa de templo, sacerdócio, etc. Por isso, o cristianismo situa-se no nível pensante e não só do sentimento. Reduzir o conteúdo divino, a revelação de Deus, a relação ser humano com Deus, a existência de Deus para o ser humano a mero sentimento significa limitar-se ao ponto de vista da subjetividade particular, ao arbítrio. Hegel tinha profunda ojeriza pelo cristianismo institucionalizado, que em sua época, no mundo germânico, se expressava como catolicismo e como luteranismo. Isto porque para ele a doutrina sobre Deus só pode ser compreendida como doutrina sobre a espiritualidade cristã. Por espiritualidade entende a relação do sujeito, da consciência subjetiva, com Deus. Assim, o cristianismo é ação da consciência humana que brota da ação originária de Deus. Donde, ação divina e ação humana encontram-se na redenção da espécie humana. Antes de Hegel, movimentos religiosos, como os dos batistas gerais e dos metodistas chegaram a conclusões semelhantes no que tange a relação entre soberania divina e liberdade humana de escolha, que culminariam enquanto síntese no projeto divino de redenção dos seres humanos. Teólogos do século vinte, como Jacques Maritain, são expoentes dessa visão, mas aqui desejo, a título de exemplo, mostrar como os batistas brasileiros trabalharam essa dialética em sua declaração doutrinária sobre a eleição: “Segundo Sua graça imerecida, Deus opera a salvação em/através de Cristo, de pessoas eleitas desde a eternidade, chamadas, predestinadas, justificadas e glorificadas à luz de Sua presciência e de acordo com o livre arbítrio de cada um e de todos”. Conforme 1ª. Pedro 1.2; Romanos 9.22-24; 1ª. Epístola aos Tessalonicenses 1.4 e Efésios 1.3-14. Ou seja, todos são eleitos, e Deus opera a salvação em/através de Cristo pela sua graça, o que é um favor imerecido. Deus é presciente e de acordo com o livre-arbítrio, desde a eternidade, Deus elege, chama, predestina, justifica e glorifica.
Assim, a discussão sobre a consistência ontológica do humano remete à necessidade de uma leitura antropológica da teologia. Quando descartamos a reflexão sobre o ser do humano a quem Deus fala, temos um discurso ideológico, distanciado do homem e mulher verdadeiros e da realidade em que vivem e transformam. Temos, então, um humano-mito, onde o fato natural e histórico transforma-se em alegoria. O pressuposto fundamental dessa reflexão antropológica para a teologia é a imagem de Deus, que traduz a verdade de que a compreensão de Deus, através de seu Cristo, leva à compreensão do ser humano e sua razão de existir. Não se trata de conhecer o humano para conhecer a Deus, porque o ser humano não é Deus, mas o contrário. Nesse sentido, a antropologia correta parte da revelação. Não utilizamos o conceito tomista de analogia em seus dois sentidos, como se fosse possível ao ser humano conhecer a Deus a partir de si próprio, mas acreditamos que as necessidades e anseios do espírito humano apontam para aquilo que ele perdeu. E se a revelação é uma conversa entre Deus e o ser humano, é a partir desse diálogo que temos os elementos fundamentais para conhecer o humano. Nesse sentido, por mais alienado que esteja o ser humano, ainda lhe resta a liberdade de consciência necessária para aceitar ou não esse diálogo proposto pelo Criador.
Travessias da questão hermenêutica
O desafio maior para quem analisa significações é o próprio exercício da leitura. O desejo de conservar a linguagem pode levar a uma solução oposta àquela que se pretende. Considerar o simbólico como abstrato e irrelevante é, em última instância, separar signo e objeto. Assim quando um texto passa a ser um conjunto fechado costumamos dizer que compreendemos o referido texto. Mas ao fazer isso, na verdade, eliminamos a possibilidade de restaurar sua intenção original e de ultrapassar a letra para captar o sentido primeiro de seu autor. Logicamente, essa hermenêutica tem como ponto de partida, e exige como garantia, a compreensão do primeiro discurso.
Em novembro de 1942, o poeta e crítico Ezra Pound afirmava que “o mistério profundo da vida é descobrir porque os outros não compreendem aquilo que se escreve e diz. A coisa parece simples e clara ao escritor, mas outros o tomam em sentido diferente. E se gastam anos para saber por que e como”. Logicamente, como autor e crítico, Pound falava de hermenêutica em seu sentido laico, que não implica na inesgotabilidade do texto sagrado. Produto não inspirado, esse texto literário, fruto da razão e revelação de uma pessoa, pode ser percorrido por outra pessoa em sua totalidade, arrancando do discurso poético os elementos lógicos que lhe deram constituição, interpretando-o com tal maestria e clareza quanto poderia fazê-lo seu próprio autor. Mas mesmo assim, como alerta Pound, isso pode transformar-se em tarefa de anos.
A hermenêutica da complexidade
Por três séculos, desde Isaac Newton, os cientistas descreveram o mundo como semelhante a uma máquina. Governando o mundo estavam os princípios de regularidade e ordem. Todas as coisas eram a soma das partes; as causas e efeitos estavam ligados linearmente; e os sistemas se moviam de modo determinístico e previsível. É claro que os cientistas desde longo tempo estavam atentos para os fenômenos que contradiziam a lógica linear: as formas espirais das chamas de fogo, os redemoinhos em correntes e as formações de nuvens, por exemplo, não podiam ser representadas por simples equações lineares. O desenvolvimento da teologia a partir do final do século vinte fundamenda-se em hermenêuticas da alta-modernidade que tinham por base as ciências naturais e a teoria de sistemas sugeriu modelos diferentes para se pensar como as coisas ocorrem e daí a percepção de que a simbologia da revelação e como conseqüência a compreensão da religiosidade judaico-cristã só podem ser entendidas a partir de abordagens não-lineares.
O significado da palavra complexidade remete àquilo que encerra elementos, conjunto de coisas, fatos e circunstâncias que têm nexo entre si. E caos, palavra que sempre aparece quando de discute a complexidade, é entendido como vazio obscuro e ilimitado que precede e propicia a geração do mundo. Mas, na construção do conceito complexidade para uso hermenêutico, partindo da filologia, vamos mais fundo na construção de uma definição e vemos complexidade e caos como aqueles comportamentos imprevisíveis que aparecem em sistemas regidos por leis deterministas, o que se deve ao fato de que as equações não-lineares que regem a evolução desses sistemas são extremamente sensíveis a variações em suas condições iniciais, ou seja, pequenas alterações no valor de um parâmetro podem gerar mudanças significativas no estado do sistema. Assim, determinadas questões teológicas são praticamente impossíveis de serem compreendidas numa abordagem tradicional de causa-efeito. Mas as dificuldades sempre eram atribuídas à impossibilidade de se isolar os ruídos externos ao sistema teológico como, por exemplo, as dogmáticas confessionais, ruídos esses que levavam às distorções de compreensão. Entretanto, o que deve ser visto é que nos sistemas dinâmicos, a incerteza e o caos são gerados internamente pelo próprio sistema, devido à sua não-linearidade e não exclusivamente por fatores externos. Ou seja, a complexidade e o caos podem surgir de regras simples aplicadas de forma recursiva. A resposta, então, para questões teológicas não está na procura de mais informações para tentar encontrar uma relação de causa-efeito, mas em entender quais regras básicas regem o comportamento do sistema simbólico da religiosidade judaico-cristã, que tipo de retroalimentação existe, de que forma esta retroalimentação atua no sistema e o tipo e duração dos ciclos de retro-alimentação. O que chamamos de hermenêutica da dinâmica não-linear ou hermenêutica da complexidade para uso na teologia tem por base hermenêuticas provenientes da biologia, física, química, economia e sociologia do final do século vinte, onde o caos refere-se às áreas de instabilidade de fronteira, o que para nós significa, em termos teológicos, que se move entre o equilíbrio de um lado, em especial a revelação e a complexa situação randômica da hermenêutica. Em sistemas caóticos não-lineares, as ligações entre causa e feito desaparecem pela amplificação da retroalimentação que podem transformar fracas variações iniciais em possibilidades crescentes. O futuro de tais sistemas não é passível de ser plenamente conhecido. Donde, a importância de uma hermenêutica da complexidade para que se possa melhor compreender a relação entre simbologia da revelação e hermenêutica e suas expressões estruturais e organizacionais. Essas estruturas são sistemas complexos constituídos por agentes interativos com uma tendência aparente para a auto-organização, pois os crentes nas religiosidades judaico-cristãs são adaptativos, de modo que as regras de seus comportamentos mudam à medida que eles aprendem. Na verdade, esse mundo religioso judaico-cristão não é aquele representado pela metáfora de uma máquina. As coisas são mais do que a soma de suas partes; equilíbrio é morte; causas são efeitos e efeitos são causas; desordem e paradoxo estão em toda a simbologia da revelação. Por isso, dizemos que uma hermenêutica da complexidade deve levar em conta que na modernidade a interpretação foi entendida como aparato de retroalimentação negativo, que possibilitou a construção de dogmáticas confessionais e encaminhou fiéis na direção correta pela correção de seus desvios do plano traçado. À luz da hermenêutica da complexidade o quadro é mais complicado: as interpretações de origem iluminista estão corretas para leituras ligadas às rotinas do viver diário mas no que tange à produção criativa de conhecimento que responda às necessidades das confissões judaico-cristãs no mundo da alta modernidade, elas se encontram em crise. Os resultados não desejados de suas ações não podem ser definidos porque a estrutura do sistema religioso judaico-cristão torna o futuro impossível de ser controlado. O corolário é que o dogma viável não é algo que é o resultado de um intento prévio de um intérprete visionário, em vez disso, emerge das múltiplas possibilidades lançadas por várias dinâmicas em colisão entre o texto e a vida humana. Assim, os hermeneutas deveriam se pensar como jardineiros e, em vez de deliberarem, deveriam trabalhar possibilidades.
Na literatura da teologia moderna, os intérpretes controlaram suas produções a partir de estruturas e procedimentos ordenados. Se isso é tudo o que podemos fazer em um mundo complexo, a institucionalidade das confissões judaico-cristãs estão destinadas a seguir o caminho do Tyrannosaurus rex. A tentativa de estabilizar o sistema leva a torná-lo incapaz de interagir com o mundo e possibilitar a criação de alternativas futuras. Os intérpretes modernos enfatizaram que as culturas e os valores compartilhados são essenciais para fazer a leitura da religiosidade judaico-cristã. Em condições dinâmicas, onde o texto escriturístico é formado por múltiplas e variadas possibilidades, hermenêuticas monolíticas provavelmente falharão na geração da criatividade teológica necessária para dotar as confissões de compreensões adequadas. Por isso, as diversidades de opiniões e abordagens são importantes. O pensamento único, que não comporta diferentes visões, pode ter sido um dos fatores cruciais para a crise de parte das confissões judaico-cristãs no mundo moderno e, em especial, nas últimas décadas do século vinte. Os hermeneutas modernos acreditaram que o sucesso das leituras do texto poderia repousar exclusivamente na manutenção do equilíbrio interno ao texto, mas se isso fosse possível, o próprio texto teria deixado de apresentar novidade e a liberdade da religiosidade no século vinte deveria ter sido reduzida à escolha da adaptação certa ou errada. Mas no mundo da complexidade hermenêutica os riscos são muito maiores. Primeiro porque equilíbrio exclusivo e permanente da internalidade do texto significa morte, exatamente o contrário do que pensava a velha hermenêutica. Segundo porque em condições não-estáveis o ambiente humano também se fez presente no texto, tanto quanto ele no ambiente humano. As implicações disto significam que as leituras hermenêuticas não podem culpar o mundo por suas falhas: elas devem ser vertiginosamente livres para criar o próprio futuro da leitura. Há um verso de Nietzsche que pode nos servir de guia para uma hermenêutica da alta-modernidade: “Agora celebramos, seguros da vitória comum,/ a festa das festas:/ O amigo Zaratustra chegou, o hóspede dos hóspedes!/ Agora o mundo ri, rasgou-se a horrível cortina,/ É hora do casamento entre a Luz e as Trevas...” Nietzsche pensava a ausência de horizontes. Em Além do Bem e do Mal, ele pensa contra a modernidade: faz um libelo contra os valores da modernidade, como o sentido histórico, a objetividade científica e, logicamente, a fé numa razão autônoma. Assim, é o caso de perguntar: é possível continuar existindo algum contato com a chamada realidade hermenêutica, quando a virtualidade, por exemplo, fica indistinguível e até mesmo mais autêntica que o original, quando podemos criar mundos sintéticos que são mais reais que o real, quando a tecnologia glosa a natureza? Quando a hermenêutica livre das dogmáticas confessionais faz caminhos como o filme Matrix?
Mark C. Taylor, hermeneuta norte-americano, percorre sob outras condições questionamentos idênticos aos levantados por Nietzsche. Ao trabalhar a questão da virtualidade na comunidade da alta-modernidade, utiliza um conceito que já vinha sendo usado na crítica literária, a idéia de imagologia. Antes, na teoria literária, e agora na hermenêutica de Taylor, a identidade do texto não pode ser encarada como uma forma de ser plena e apriorística, mas como realidade dinâmica ou relacional, onde se cruzam questões de identidade textual e comunitária, o que também se dá na virtualidade, que acaba sempre por revelar uma dimensão estrangeira, que é manifestação de um outro. Na medida em que há constante busca identitária, o confronto com este outro supõe sempre uma comparação, explícita ou implícita, e se integra naquilo que na terminologia de Taylor será a imagologia, estudo das representações do outro, que também pode ser entendido como virtualidade. Nos últimos anos essa questão tem sido tema da simbologia da revelação, como da própria teologia. As mídias têm demonstrado a força das realidades artificiais. Essa questão, realidade e imagem na comunidade imagológica, já tinha sido analisada por psicólogos da escola piagetiana. Segundo eles, é difícil ensinar a pensar de modo lógico a um menino que está sob o bombardeio de imagens distantes da lógica, como acontece nos programas infantis. E onde até mesmo as entrevistas ao vivo fazem parte da criação de algum gênio da publicidade. A moda e os shows de rock, por exemplo, fazem parte desta realidade onde o que é apresentado pelo entrevistador não tem nada a ver com a realidade da audiência ou com o próprio intérprete/produto, já que suas imagens sofrem uma transformação mágica para poder ser popular, ou pelo menos este é o objetivo. Para Taylor, a comunidade imagológica leva à ansiedade que circula acima e debaixo do chão, que tem crescido e emaranhou-se num complexo tecnológico e financeiro. “Com a informação e o dinheiro que correm ao redor do mundo à velocidade da luz, nenhum de nós está seguro, porque qualquer um está no controle. As redes de terroristas assombram a estrutura e através da Web atuam nas comunicações e sistemas financeiros globais. Eles foram mais efetivos utilizando as tecnologias contra nós do que nós em nossa capacidade de usar essas tecnologias contra eles. Nós não seremos capazes de enfrentar redes de terroristas até que melhoremos a compreensão da lógica e operação de nossas próprias redes. Nestas teias emaranhadas e nas redes, está o limite entre nós e eles, dentro e fora, para quem nada é fixo e imóvel, mas restos fluidos e móveis”. E essa discussão é uma discussão sobre o sentido da hermenêutica, porque vivemos um momento de complexidade sem precedentes, onde as coisas mudam mais rapidamente que nossa habilidade de compreender, por isso devemos resistir à tentação de procurar respostas simples, pois o que antes era força interpretativa da hermenêutica moderna agora é fraqueza que nos deixa abandonados à mercê da sorte. Diante disso, será possível distinguir entre realidade e virtualidade na comunidade imagológica, se a tecnologia constrói a nova realidade? Bem, vivemos um mundo colocado em processo de equilíbrio instável, e para entendê-lo devemos ir às margens do sistema.
A complexidade hermenêutica, na alta modernidade, é vista como marginal e fenômeno emergente. Não está fixa, porque a complexidade é móvel, momentânea e o momento marginal de seu aparecimento é inevitavelmente complexo. Longe de ser um estado, esse momento emergente da hermenêutica reconstitui o fluxo de tempo, enquanto impulso que mantém o texto em movimento. É significante que a palavra momento derive da idéia de impulso em latim, mostrando movimento como sendo também impulso. Embora freqüentemente representasse um ponto simples, o momento hermenêutico é inerentemente complexo. Seus limites não podem ser firmemente estabelecidos, porque sempre estão trocando de modos, que dão fluidez ao momento. Na hermenêutica da alta modernidade vivemos o domínio do intermediário, que a teoria da complexidade procura entender. A dinâmica do caos e da complexidade da hermenêutica parte de certas características que diferem em importância e modos. Um sistema complexo é um sistema único composto de várias partes compatíveis, que interagem entre si e que contribuem para sua função básica, sendo que a remoção de uma das partes faria com que o sistema deixasse de funcionar de forma eficiente. Um sistema de tal complexidade não pode ser produzido diretamente, isto é, pelo melhoramento contínuo da função inicial, que continua a atuar através do mesmo mecanismo, mediante modificações leves, sucessivas, de um sistema precursor. O exemplo mais popular de complexidade irredutível foi apresentado por Michael Behe (A caixa preta de Darwin): é a ratoeira. Ela tem uma função simples, pegar ratos, e possui várias partes, uma plataforma, uma trava, um martelo, uma mola e uma barra de retenção. Se qualquer uma dessas partes for removida, o aparelho não funciona. Portanto, é irredutivelmente complexo. Um automóvel, em contrapartida, pode funcionar com os faróis queimados, sem as portas, sem pára-choques, etc, embora chegará um momento em que haverá um mínimo de peças essenciais para seu funcionamento. Originariamente, a teoria do caos foi desenvolvida como um corretivo para os sistemas fechados e lineares de físicas de Newton, pois diante da ausência de ordem, caos é uma condição na qual a ordem não pode ser averiguada por causa da insuficiência de informação. Enquanto a física de Newton imagina um mundo abstrato governado por leis definidas, que determinavam completamente as coisas reais, a globalidade não é transparente porque não temos a informação adequada e necessária para estabelecer leis, assim toda operação é sempre inacessível. A partir dessa compreensão da teoria do caos e da complexidade, duas razões hermenêuticas podem ser destacadas na abordagem dos textos escriturísticos judaico-cristãos. Primeiro que os sistemas finitos, como é o caso desses textos, não estão fechados, mas são sistemas abertos. E segundo que os sistemas ou estruturas dos textos escriturísticos judaico-cristãos envolvem relações que não podem ser entendidas apenas em termos de modelos lineares de causalidade. Nos sistemas escriturísticos judaico-cristãos recorrentes é impossível medir as condições iniciais com precisão para determinar as relações causais num período muito limitado de tempo. Então, a imprevisibilidade é inevitável. Ao contrário dos sistemas lineares, nos quais causas e efeitos são proporcionais, nos sistemas escriturísticos judaico-cristãos recorrentes, a avaliação é complexa, porque esses sistemas se auto-alimentam da vida de seus leitores e na recorrência geram causas que podem ter efeitos desproporcionados. Em contraste com a teoria do caos, a teoria da complexidade está menos interessada em estabelecer a fuga ou o caos determinado, pois oscila entre ordem e caos. Assim, o momento de complexidade é o ponto no qual ecossistemas organizados emergem para criar novos padrões de coerência e estruturas de relação. Embora tenha se desenvolvido fora das investigações hermenêuticas dos textos escriturísticos judaico-cristãos, a percepção de teoria da complexidade pode ser usada para iluminar as questões da interpretação dos textos religiosos antigos. Aliás, poderíamos até nos perguntar o que há de comum entre as moléculas que se apressam em auto-reproduzir metabolismos, as células que coordenam esses comportamentos para formar organismos multicelulares e os sistemas dos textos escriturísticos judaico-cristãos? E a resposta, complexa, é óbvia: a possibilidade da vida, que faz a travessia de um regime equilibrado de ordem e caos, é o que há de comum entre esses processos. Donde a hipótese hermenêutica maior é esta: a vida existe enquanto extremidade do caos. Partindo da metáfora da física, a vida existe ao lado de um tipo de transição de fase. A água existe em três estados, gelo sólido, água líquida e vapor gasoso. Começamos a ver que idéias semelhantes podem ser aplicadas aos sistemas hermenêuticos complexos. Sabemos que as redes de genomas que controlam o desenvolvimento do zigoto podem existir em três regimes: ordenado congelado, caótico gasoso e líquido aquoso, localizados na região entre ordem e caos. É uma hipótese impressionante que sistemas de genomas ordenem regimes de transição entre uma ordem e o caos. Em tais sistemas, o regime ordenado congelado também coordena as sucessões complexas das atividades genéticas necessárias. Mas, nessas redes, também o regime gasoso caótico, perto da extremidade de caos, pode coordenar atividades complexas e evoluir. A partir das redes, a análise pode ser estendida às comunidades e às dimensões culturais, ou seja, por extensão às leituras interpretativas. Assim, equilibrado entre uma pequena ou grande ordem, o momento de complexidade da hermenêutica na alta modernidade é o meio no qual emerge a cultura de rede.
Taylor projeta a discussão da teoria da complexidade para a hermenêutica ao afirmar que a noção de que as fundações tenham desaparecido é ameaçadora para muitas pessoas, mas que esse assunto é um tema recorrente na teologia. Pensadores importantes na história de filosofia ocidental, como Nietzsche, colocaram tal discussão na ordem do dia e influenciaram pensadores da alta modernidade como Derrida. Uma das coisas que golpeia o pensamento moderno é a ênfase desses filósofos na importância de entender que a idéia de fim de fundamentos é uma metáfora, assim como a teoria da complexidade também é uma metáfora. Ou como afirma Derrida, a metáfora é determinada pela filosofia como perda provisória de sentido, economia sem prejuízo irreparável de propriedade, desvio inevitável, mas história com vista e no horizonte da reapropriação circular do sentido. É por isso que a avaliação filosófica foi sempre ambígua: a metáfora é estranha ao olhar da intuição, do conceito e da consciência. E por isso Derrida dirá que a metafísica é a superação da metáfora, donde ao discutir a hermenêutica devemos levar em conta que há rastros da metafísica nas palavras que usamos: entender é um exemplo disso. Entender algo é não agarrar alguma coisa superficialmente. O ato cognitivo envolve apreensão dentro de condições de superfície e relativos à profundidade. A distinção entre informação e entendimento é muito complexa. No domínio onde as pessoas pensam em informação devemos falar de sobrecarga de informação. Somos bombardeados com informação de todos os tipos. Entender é um modo de organizar e estruturar a informação. Na revolução da informação, dispositivos filtrantes estão começando a emergir. É crucial entender o poder das hermenêuticas que criam estas grades culturais. Este é um dos temas de Imagologies. E essas grades culturais, por sua vez, desenvolvem-se e mudam para prover vigamentos interpretativos que criam possibilidades de construção da compreensão de informação na qual estamos imersos. Temos, então, dois mundos, um é o mundo tradicional, o mundo dos textos escriturísticos judaico-cristãos tal como o recebemos. É um mundo platônico, no qual o assunto percebido é colocado num nível agradável de fundação. Este mundo está presente, mas também está acima, é a transcendência. Esse modelo se torna um modo de saber. Quando começamos a conceber algo, concebemos figurando em termos de modelo. Através do contraste descrevemos um mundo no qual um modelo diferente predomina. Temos interações de planos, modelos e processos. Os textos escriturísticos judaico-cristãos, assim entendidos, podem ser chamados de locais de consumo. Mas uma estrutura não é aquilo que alguém busca, pois o texto enfatiza movimento e troca, troca de informação, etc. Os modelos hermenêuticos de que estamos falamos não são apenas conceituais, pois o conhecimento simbólico dos textos escriturísticos judaico-cristãos emerge de uma interação entre entendimento e as formas de fé, que são filtros através dos quais foram processadas a informação. Se alguém pensa tais categorias como um vigamento historicamente emergente de interpretação, em constante processo de formação, deformação e reforma, estamos diante de um salto como o das tecnologias de produção e reprodução em uma comunidade determinada. Começamos então a ver os modos em que processamos a experiência, onde o conhecimento é constituído em fluxo constante. Não é apenas uma questão de como pensamos, é uma questão de como vemos, ouvimos e tememos. As novas mídias abrem uma percepção nova e capacidades de apercebimento. O ponto em que se faz a troca também é uma questão importante. Uma das coisas que o estruturalismo nos ensinou é que em lugar de ser um local de origem, o texto deve ser entendido como constituído dentro e pelas redes de troca no qual está imbricado. É um tipo complexo de reversão. Pensando nessas estruturas como criadas por um tema original, temos que pensar no assunto como uma função das redes estruturais nas quais está situada. Essas redes estruturais levam a todos os tipos de formas. Podem ser econômicas, sociais, culturais, etc. Entender o texto como constituído por redes de troca é muito importante.
O século dezenove viveu a obsessão da genialidade. Mas o que é genialidade? Simples: é originalidade. E ser original na hermenêutica moderna significava não ser influenciado por nada diferente da relação direta texto/intérprete. O intérprete é, então, o imóvel que tudo move da teologia aristotélica. Essa noção de criatividade como absolutamente original definiu a liberdade como autonomia, que não recebe a lei de outro. Em termos hermenêuticos, sem dúvida, a troca da heteronomia pela autonomia foi uma importante troca de condicionamento: significou não receber a lei de outro alguém, mas procurar a lei na internalidade do próprio texto. Isto quer dizer, o texto livre é algo que não é determinado ou que se exclui. Este é o centro referencial da noção de liberdade na hermenêutica moderna. O modelo consistiu em trocar a noção de tema centrado, para uma visão do texto em termos de sistemas de troca nos quais os textos são locais de consumo. Tomemos a noção de troca como crucial, mas pensemos em redes. Em lugar de temas que criam estruturas, estruturas criam temas. Cada tema se torna algo como o nó de uma teia infinita de relações. A situação do texto dentro daquela rede que envolve trocas de todos os tipos, econômicas, psicológicas, simbólicas, constitui a particularidade do tema. São as relações que constituem a particularidade de qualquer texto. O texto se torna o que é em virtude de sua situação dentro de redes complexas. Estas, porém, não são redes fechadas e estáveis como os estruturalistas pensaram, mas estão abertas. Então, a subjetividade nunca é um produto acabado, está em mudança porque as redes dentro das quais se inscreve estão em permanente mudança. Por isso, as hermenêuticas podem se desenvolver de diferentes modos. Um dos problemas como percebemos o reino de Deus na terra é que não está separado da maneira como percebemos nossos medos. Assim, vamos ressaltar um aspecto da dogmática: Deus é onisciente e pode controlar tudo, já que nas comunidades modernas tudo está sendo visto. Temos então as economias da representação e da dominação que reforçam nossos medos, pois operam dentro de estruturas de referência que reivindicam para si o referir-se ao outro e são estruturas de ego-referência que usam o outro, humano ou divino, para a conformação de uma leitura de soberania. Porém, no esforço para afiançar a identidade intérprete/texto e estabelecer sua presença, o hermeneuta descobre diferença e ausência. Embora lute para negar isto, esta é a realidade. A procura pela presença em autoconsciência conduz à descoberta da ausência. A auto-afirmação e a negação provam estar ligadas indivisivelmente. Ser intérprete aparentemente tornou-se não ser intérprete. A viagem de volta ao ato de interpretar é uma viagem perigosa, pois na representação o texto é quebrado e aberto. A quebra do texto é registrada pelo rastro, que é, em geral, a abertura do texto à exterioridade, à relação enigmática de um interior atravessado pela externalidade. A ausência sempre está presente, e o exterior é sempre isto: morte. O presente vivo sempre é marcado pela morte. E esta morte é a não-conservação que assombra a presença, e dentro do espaço do rastro se inscreve uma cruz que marca o local do desaparecimento do texto. Os intérpretes necessitam compreender o que é a realidade imagológica, e como pode ser usada para prover uma interface mais íntima entre o que é humano e a relatividade hermenêutica, e como dados sensoriais se transformam em experiência real. No entanto, o fundamental é analisar a representação que se coloca por trás da imagem e dentro da estrutura. Pode-se dizer que tudo que o computador faz é simulação, mas para definir simulação é necessário respostas científicas e matemáticas. Assim, a realidade da imagem, que poderia ser um novo paradigma, se tornou uma metáfora. É um conceito estranho e provocante, com certo senso de aventura tecnológica. Esta filosofia da hermenêutica leva à uma totalidade estrutural na qual tudo está dentro e tem seu próprio outro. Assim, alteridade e diferença são componentes essenciais da hermenêutica, e a relação entre alteridade e diferença é, em última instância, hermenêutica. Por isso, o texto, nos modernos projetos filosóficos de estruturas totalizantes, é um texto de valor utilitário na construção do intérprete. Quando o texto resiste a este papel, quando recusa ser usado ou consumido, sua territorialidade é invadida ou sua alteridade colonizada. Dessa maneira, a realidade da imagem que o texto nos oferece termina sendo real. Promete a realidade, que deixa de ser metáfora, e se transforma em criação verdadeira. Nesse sentido, a imagem deixa de ser metáfora e se faz metafísica. Assim, a mundialização dos textos escriturísticos judaico-cristãos, a partir das tecnologias, computarização, digitalização, comunicações e internet, criou a partir delas uma perspectiva do que são os textos escriturísticos judaico-cristãos. Ou seja, estamos diante da recorrência da teoria da complexidade. Se a perspectiva anterior era a divisão, a perspectiva da mundialização dos textos é integração forçada. O símbolo do sistema anterior era um muro que dividia o mundo. O símbolo da mundialização é a Web. Estes processos de mundialização criam uma nova cultura de leitura dos textos cuja lógica complexa e dinâmica só agora começamos a entender. O contraste entre grades e redes clarifica a transição do sistema anterior para o de cultura em rede. O sistema anterior nasceu para manter a estabilidade através de relações complexas e situações que deveriam ser simplificadas em termos de grades com oposições precisas. Este era um mundo onde as paredes pareciam prover segurança. Paredes e grades, porém, não oferecem nenhuma proteção diante da possibilidade de se criar teias. Assim, as paredes se desmoronam e tudo começa a mudar. Novas estruturas deslocam o velho, embora isso não signifique a aparição imediata do novo. Nesta situação, as oposições estruturais que tinham formado o pensamento hermenêutico anterior se desfazem e o equilíbrio de forças desaparece. Considerando que as paredes dividiam e traduziam um esforço para impor ordem e controlar, teias relacionam o emaranhado do mundo, transformando conexões nas quais nenhum intérprete está no controle. Como proliferam conexões, a mudança se acelera, trazendo tudo à extremidade do caos.
Partindo de Derrida podemos dizer que o fim do ser humano, como limite antropológico, anuncia-se ao pensamento hermenêutico depois do fim do ser humano como abertura determinada. O intérprete é aquele que tem relação como o fim. E o fim transcendental só pode aparecer e desdobrar-se sob a condição da mortalidade, por isso o intérprete se inscreve na metafísica entre estes dois fins. A unidade destes dois fins do intérprete, a unidade da sua morte, do seu acabamento, do seu cumprimento, envolve os conceitos de temporalidade, lugar e consumação. Dessa maneira, o fim do intérprete sempre esteve prescrito na metafísica, e o que é difícil pensar hoje é um fim do intérprete que não seja uma teleologia na primeira pessoa do plural. Nesse sentido, quando a hermenêutica articula a consciência natural e a consciência filosófica assegura a proximidade para si de fixo e central, e aí se produz essa reaproximação circular. Mas, a partir do niilismo o intérprete reconhece que a redução ao ser humano é percebida atualmente como uma redução do ser humano, por isso a noite trazida pelo fim do fundamento é uma noite em que toda identidade texto/intérprete perece. Quando o fundamento desaparece, o intérprete não se levanta autônomo e só. Deixa de estar de pé, deixa de colocar-se a si próprio e ao texto, deixa de ser autônomo e separado. Já não conserva pessoalidade e autoconsciência, já não conserva identidade e autonomia. Por isso, o fim do fundamento encarna a morte de toda hermenêutica autônoma. Mas será que os textos escriturísticos judaico-cristãos, que se pensava firmes e objetivos, que sustentavam as confissões diante das incertezas, desmoronou sob as imagens? Podemos arriscar uma hipótese e dizer que não necessariamente, pois novas hermenêuticas, entre as quais citamos a da complexidade e a da crítica das ideologias, podem fazer a travessias dos textos e criar leituras que vão além. E essa relação imagem versus novas leituras se tornou preocupação hermenêutica, quando se descobriu que ela abria a possibilidade de uma reflexão que rompe as tradicionais relações entre imanência e transcendência.
Se na modernidade a teologia oscilou entre enfatizar a transcendência ou imanência divina, e podemos citar como exemplos extremos Karl Barth, que procurou reafirmar a transcendência diante da degradação da realização humana, e Thomas Altizer, que tentou restabelecer a imanência divina como afirmação dos valores humanos. Nos perguntamos o que a oposição transcendência versus imanência omite? Há elementos de correlação entre transcendência e imanência? Um desses elementos não pode ser a complementaridade? Estes elementos abrem o tempo-espaço de uma relação diferente que subverte as polaridades da reflexão teológica e da hermenêutica. Tal questionamento nos leva a um modo de pensar que nos mantém abertos a uma diferença necessária que não podemos controlar. Isto significa falar dos limites, uma parapráxis que resiste ao fechamento e niilismo do fundamentalismo, que denigre o mundo, e do antifundamentalismo religioso, que santifica o mundo. Nem a não-declaração da religião fundamentalista, nem a declaração positiva do humanismo religioso criam espaços através do qual o sagrado pode ser olhado como afirmação de alteridade e diferença sem fim. Tais questões mostram as falhas das estruturas hermenêuticas totalizantes, ou como afirmou Nietzsche, “a crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores. Nem aos mais cuidadosos entre eles ocorreu duvidar aqui, no limiar, onde mais era necessário, mesmo quando haviam jurado para si próprios de tudo duvidar. Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos; segundo, que as valorações e oposições de valor populares, nas quais os metafísicos imprimiram seu selo, sejam mais que avaliações de fachada, perspectivas provisórias, talvez inclusive vistas de um ângulo, de baixo para cima talvez”, expondo a fragilidade da relação entre as estruturas lingüísticas de representação amarradas a um significado transcendental e estruturas sociais, políticas, econômicas de dominação.
Para Maraschin, Taylor tem chamado a atenção para a falácia da hermenêutica platônica.
“Permitam-me citar este trecho de um de seus livros: No fim, tudo se reduz à questão da pele. E dos ossos. A questão da pele e dos ossos é a questão do esconderijo e da procura. E essa é também a questão da detecção. Será a detecção ainda possível? Quem são os detetives? Quem são os detectados? Existe ainda alguma coisa que possa ser escondida? Existirá ainda algum esconderijo? Poderá ainda alguém continuar a viver escondido? Será que a pele esconde alguma coisa ou tudo não passa de pele? Peles roçando peles... peles, peles, peles”.
Assim, tudo precisa ser desenredado e nada decifrado. A estrutura pode ser percebida, desenrolada como a linha das meias em todos os pontos e níveis, mas nada haverá debaixo disso; o espaço da escrita é para ser percorrido, não violado. Dessa maneira a escrita ao recusar aceitar determinado segredo, transforma-se em atividade última, atividade essa revolucionária posto que a recusa de fixar sentidos é, afinal, a recusa da hipótese de razão, ciência e lei. Dessa maneira, o fim do fundamento hermenêutico é seguido pela morte do tema autônomo. O desaparecimento de um requer o desaparecimento do outro. Mas, o fundamento não desapareceu simplesmente, ele foi lançado fora. Esta é a questão: o fundamento não morreu, tornou-se humano. Pois, uma das coisas que precisam ser pensadas neste contexto é a mundialização. É o caso de perguntar qual será o impacto das novas hermenêuticas na noção tradicional dos textos escriturísticos judaico-cristãos. Podemos antever problemas quando vemos como os novos processos criam dificuldades para as confissões nacionais. Outra questão é a relação entre espaço e identidade texto/intérprete, já que a geografia e a cultura são fundamentais para o intérprete, enquanto mediação simbólica. Parte do processo de mundialização seguramente é a mundialização dos textos escriturísticos judaico-cristãos e o fluxo livre dos textos através de redes no mundo inteiro, que não estão restritos aos limites nacionais. Infelizmente não se fala do ato hermenêutico propriamente, quando intérpretes livres, usuários dos textos escriturísticos judaico-cristãos, rompem com a geografia produzindo uma desterritorialização, que coloca de lado a relação entre lugar físico e identidade texto/intérprete e de outro a noção de espaço simbólico. Da mesma maneira, por serem usuários, ao esquecerem o lugar primário das comunidades de fé, a identidade texto/intérprete pode ser trocada do lugar físico para espaço telemático, criando um tipo diferente de configuração hermenêutica. E esse espaço telemático, o espaço mediado pelas tecnologias de telecomunicações, televisão, rádio e internet, tendencialmente crescem em importância. Os processos de desterritorialização não são totalmente negativos. Se o intérprete livre olha a partir da mundialização e compreende as lutas hermenêuticas presentes no mundo da leitura dos textos das escrituras judaico-cristãs, o esforço para retificar o choque territorial pode ser positivo, pois uma das oportunidades das novas hermenêuticas é criar um espaço para a troca de informações. E isso é muito importante para intérpretes livres que podem entrar nesse espaço para apresentar modos construtivos e criativos. Sem dúvida, há uma conexão entre os tipos de discussões da academia e da cultura relativo às perguntas hermenêuticas feitas pelos jovens estudantes de teologia. Há uma semelhança entre os debates nos Estados Unidos e os tipos de desenvolvimentos que vemos na Europa e no Brasil. Para Taylor, as forças que emergem da mundialização são irresistíveis. A internet criou um foro que nunca existiu. O mundo onde os estudantes vivem e trabalham não é o mundo no qual fomos educados. Nós temos a tarefa de preparar os estudantes para o mundo no qual estão se movendo. O mundo seria melhor se nós e nossos estudantes nos encontrássemos no espaço comum de salas de aula globais. Mas, infelizmente, nossa amnésia cultural é extraordinária. Esquecemos que a universidade é uma invenção moderna. O modelo da universidade moderna foi posto abaixo por Kant no fim do século dezoito. A estrutura da universidade moderna tem como modelo a indústria moderna. Parece ingênuo pensar que as mudanças associadas ao modelo industrial, fabricando economia para um contexto pós-industrial de informação não leve a uma universidade da alta-modernidade. E aqui Taylor afirma que a universidade da alta-modernidade será caracterizada por muitas das práticas pós-industriais. O número de universidades será reduzido. Haverá uma crescente especialização dentro das universidades. Como fica cada vez mais difícil para as universidades fazer todas as coisas, a noção de que cada universidade deve ser um todo se desmoronará. O que significa isso? Departamentos serão eliminados, programas serão reconstruídos e reconfigurados. Mas há oportunidades nesta situação. Tipos diferentes de oportunidades educacionais surgirão para as instituições, não só para compartilharem recursos dentro uma nação, mas globalmente. Talvez nem toda universidade precisará de departamento de teologia. Tipos diferentes de instituições vão surgir. Será discutida a viabilidade da educação residencial. Terminou a idéia de alguém que recebe educação após o secundário deva ter entre 18 e 22 anos. Pessoas serão educadas em fases diferentes e ao longo de suas vidas e sempre poderão cursar uma faculdade residencial. Atualmente, cursar o colegial via internet já é uma possibilidade. Um dia não só haverá cursos on-line, mas a pessoa poderá participar das discussões de sala de aula sem sair de suas casas. E isso terá um impacto tremendo nas hermenêuticas, no trabalho dos intérpretes e nas leituras confessionais. Por isso, o desafio é repensar sistema e estrutura de tal um modo que possamos imaginar estruturas hermenêuticas não-totalizantes, que possam criar possibilidades para conexão e cooperação, que reconhecem a necessidade e a inevitabilidade de interconexões sem ter essas estruturas repressivas. Se não podemos imaginar aquela estrutura hermenêutica não-totalizante, parece que o futuro é sombrio. Na lógica de redes e teias há um modelo alternativo para sistemas e estruturas. Pensar e cultivar estas redes poderiam criar a possibilidade para superar o impasse no qual nos achamos na relação entre hermenêuticas e as confissões judaico-cristãs. Este é o terreno que precisa ser explorado. Teólogos conservadores acharão tal movimento insatisfatório, resistirão porque imaginar a estrutura hermenêutica não-totalizante vai contra tudo o que eles consideram sagrado.
Para entender a hermenêutica moderna
Diante dos desafios colocados pela hermenêutica da complexidade faz-se necessário percorrer os caminhos da construção hermenêutica na modernidade, já que estamos analisando possibilidades de superação. Enquanto ramo da filosofia, a hermenêutica estuda a interpretação dos textos religiosos. A palavra deriva do nome de Hermes, o mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita e consideravam o patrono da comunicação humana. Assim, hermenêutica provém do verbo grego “hermeneuein” e significa anunciar, interpretar e, também, traduzir. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. Alguns autores, no entanto, afirmam que o termo hermenêutica deriva do grego “ermeneutike” que significa ciência, técnica. Seria, então, interpretação do sentido das palavras dos textos: teoria voltada à interpretação dos signos e de seu valor simbólico.
A interpretação faz parte da existência. Nem sempre damos conta de que as escolhas e decisões se fazem a partir de interpretações. Elas se processam ao longo do dia, dos anos e da vida. Mas vamos nos perguntar mais uma vez: o que é interpretação? Questionar radica no que há de mais profundo em nós. Sabemos e não sabemos, queremos e não queremos. O caminho da hermenêutica é a interpretação do caminho como o não-querer e o não-saber de uma questão. Se já soubéssemos o que desejamos na interpretação, não questionaríamos. Por isso, existir é interpretar desafios. Mas o que é a interpretação para que nela se dê o desafio? A interpretação, o questionar e o que somos estão interligados. Quando tomamos como tema a interpretação, é em nossa própria existência que estamos pensando. Interpretar nessa dimensão é interpretar-se. O desafio é: o que é o interpretar para que nele possa acontecer um interpretar-se?
Mas, para entendermos essas dimensões da interpretação vamos em primeiro lugar pensar como se construiu na modernidade o conhecimento hermenêutico. Desde o século dezessete o termo hermenêutica foi empregado no sentido de uma interpretação objetiva das Escrituras Sagradas judaico-cristãs. Spinoza, filósofo judeu, foi um dos precursores da hermenêutica bùiblica. Já para Schleiermacher, teólogo luterano, a hermenêutica não visava o saber teórico, mas sim o uso prático, a técnica da boa interpretação de um texto falado ou escrito. Tratava-se da compreensão, que se tornou a finalidade da questão hermenêutica. Schleiermacher definiu a hermenêutica como reconstrução histórica e divinatória, objetiva e subjetiva, de um dado discurso. Já Wilhelm Dilthey afirmou que há uma dualidade no processo hermenêutico, entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, que se distinguem por meio de um método analítico esclarecedor e de um procedimento de compreensão descritiva, assim os eventos da natureza devem ser explicados, mas a história deve ser compreendida. Ele entendia compreensão como a apreensão de um sentido, e sentido é o que se apresenta à compreensão como conteúdo. Dessa maneira, só poderíamos determinar a compreensão pelo sentido e o sentido apenas pela compreensão. O que parece um correr atrás do rabo, já que toda compreensão é apreensão de um sentido. Essa visão de Dilthey acerca da hermenêutica se diferenciava daquela de Schleiermacher, que fazia distinção entre compreensão divinatória e comparativa. Para ele a compreensão comparativa se apoiaria em uma multiplicidade de conhecimentos objetivos, gramaticais e históricos, deduzindo o sentido a partir do enunciado. E a compreensão divinatória daria significação a uma apreensão imediata do sentido. O filósofo alemão Martin Heidegger, em sua análise da compreensão, vai além, ao dizer que toda compreensão apresenta uma estrutura circular, pois para que uma interpretação possa produzir compreensão ela já deve ter compreendido o que vai interpretar.
A partir dessas leituras, podemos falar na modernidade de quatro estruturas básicas de compreensão: (1) estrutura de horizonte, quando o conteúdo singular é apreendido na totalidade de um contexto de sentido, que é pré-apreendido e co-apreendido; (2) estrutura circular, quando a compreensão se move numa dialética entre pré-compreensão e compreensão da coisa, em um acontecimento que progride em forma de espiral, na medida em que um elemento pressupõe outro e ao mesmo tempo faz com que ele vá adiante; (3) estrutura de diálogo, quando mantemos nossa compreensão aberta, para enriquecê-la e corrigi-la; (4) e estrutura de mediação, quando a imediatez se apresenta e se manifesta em todos os conteúdos, mas imbrica à compreensão o mundo e a história. Mas não podemos esquecer que para Dilthey, estes dois métodos hermenêuticos estariam opostos entre si, já que a explicação é própria das ciências naturais, e compreensão é própria das ciências humanas. Ou seja, esclarecemos por meio de processos intelectuais, mas compreendemos pela cooperação de todas as forças sentimentais na apreensão, pelo mergulhar das forças subjetivas no texto. Paul Ricoeur, filósofo cristão reformado francês, no entanto, procurou superar esta dicotomia, afirmando que compreender um texto é encadear um novo discurso no discurso do texto. Isto supõe que o texto seja aberto e que ler é apropriar-se do sentido do texto. De um lado não há reflexão sem meditação sobre os signos e por outro não há explicação sem a compreensão do mundo e de si mesmo.
Travessias subjetivas na construção simbólica
Vamos nesse estudo sobre hermenêutica e por extensão sobre os símbolos e a linguagem utilizar o caminho circular do midrash judaico como forma de aproximação de nosso objeto. E vamos começar pela história contada por um jornalista, o Robson Pereira. Ele relata que quando o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss escrevia Tristes Trópicos, publicado em 1955, viveu uma curiosa experiência junto aos índios nhambiquara. Compenetrado em suas anotações, Lévi-Strauss foi surpreendido por índios que pegaram lápis e papel, rabiscaram coisas e depois devolveram a folha. Segundo Pereira, o gesto tinha um significado: os nhambiquara queriam que ele lesse o que haviam escrito. A partir daí, e dos estudos posteriores de Lévi-Strauss, o jornalista concluiu que a leitura pressupõe sempre algum grau de entendimento não contido no que se está lendo. E que por isso, decifrar rabiscos ou palavras não é uma função meramente visual. Mas é necessário recorrer a algo mais, acionar uma complexa rede de neurônios para compreender e dar sentido a um simples conjunto de letras e espaços em branco colocados à nossa frente. Assim, caberá ao escritor fornecer o nível de informações necessário para que o leitor absorva a mensagem. Somente neste caso, o texto terá cumprido integralmente o seu propósito. Talvez por isso Kafka tenha dito que ler é fazer perguntas. Se for assim, cabe ao texto, revelado ou não, instigar o leitor, guiando-o por um labirinto de indagações até um porto seguro. Dessa maneira, podemos dizer que interpretar o texto bíblico, decifrá-lo, arrancar dele significações é um desafio que não se resume a uma pessoa ou a um curto período de anos. É nosso pressuposto que as Escrituras, enquanto automanifestação do Deus criador apresenta mais conteúdos do que é perceptível na leitura de toda uma geração. Aqui há uma dialeticidade que permanecerá no equilíbrio de seus contrários, sem solução ou síntese enquanto houver história, afinal a revelação do que é perfeito dá-se através de um instrumento dinâmico, a linguagem humana. Nossa necessidade histórica de interpretar nasce daí, desse processo construtivo entre significante e significado. Em relação aos textos sagrados, a tarefa do intérprete consiste na explicitação da mensagem através de um raciocínio dirigido e sistematizado. As conclusões nada acrescentam ao significado do texto, pois estavam contidas ali; embora sejam novas, uma vez que diferem do que está escrito. Em si não são diferentes, porque estavam gravadas no subsolo do texto, que foi interpretado. Mas por serem as Escrituras obra de um ser infinito, as interpretações nunca se esgotam. Cada novo corte no texto aprofunda o seu sentido, mas sempre é possível avançar. As interpretações se sucedem no tempo, mas se situam no mesmo locus. Assim, cabe ao intérprete reconstruir a realidade sócio-cultural onde o texto foi construído, ao partir do pressuposto de que as Escrituras possibilitam um diálogo que permite uma reconstrução dos significados da natureza humana. Tal estudo deve tomar por base a revelação enquanto projeto de interação. Por isso, a questão antropológica no processo da revelação é determinante, pois o desafio é viver. Nesse processo desigual e combinado da revelação podemos distinguir elementos que se sobrepõem e se complementam. Dentre eles, o mais fascinante é a questão do significado e do significante. A revelação dá-se através de um processo de adequação histórica e lingüística. Entretanto esse conhecimento não demanda unicamente a apreensão de uma determinada realidade. Faz-se necessário que esta realidade seja apreendida de determinada maneira, consoante a uma construção de análise e síntese. Como premissa fundante temos que reconhecer uma justaposição entre conhecimento intuitivo e conhecimento discursivo. O conhecimento intuitivo faz-se a partir das condições necessárias para que ele se processe, imediatamente, frente a uma determinada realidade, ao passo que o discursivo requer passar de algo conhecido, através de uma série de juízos, à apreensão do ainda não apreendido. Ao primeiro processo chamamos juízo sintético e ao segundo juízo analítico. Mas a revelação não se dá simplesmente como processo de adequação da mente humana ao novo que lhe é apresentado. É necessário que o novo, inerente ao processo cognoscitivo, tenha um significado. Uma relação de significado em que o ser humano opera como ser significante e o novo como ser significado. Desta forma, a revelação não se processa entre realidades ahistóricas, mas em relação espacial e temporal, exigindo para que a interação humano e realidade se estabeleça que haja algo maior, alguma coisa além de ambos, não causal, mas essencial. No processo da revelação, o ser humano se encontra em construção, já que não é pleno senhor do processo. É um ser colocado no tempo e no espaço, que estabelece relação com a realidade que o cerca dentro do processo cognoscitivo enquanto dimensão humana e histórica. Por isso, dizemos que a hermenêutica exige do estudioso qualidades sem as quais os símbolos serão para ele mortos, e ele morto para eles. Suzane Langer fala da simbolização como “um ato essencial ao pensamento, anterior a ele”, uma necessidade básica da mente. Todo tipo de sensação captada pelos sentidos são transformados em símbolos, idéias elementares que servem para acumular informações de um jeito prerraciocinativo, mas não pré-racional. Langer coloca o cérebro como um grande transformador, e a simbolização como o ponto de partida de toda intelecção. Nossos atos seriam, segundo ela, governados por representações e símbolos de várias espécies. Somente uma parte de nosso comportamento é prática, e o restante surge de uma necessidade interna de expressar estas representações “sem qualquer objetivo de satisfazer outras necessidades, exceto a necessidade de contemplar em ação declarada o processo simbólico do cérebro”. Sendo então tal capacidade, o simbolizar, fundamental para o pensar e o agir, quais seriam as qualidades essenciais do estudioso para que se entenda em profundidade o que é e qual o papel de um dado símbolo, qual sua eficácia em nosso ser? Podemos partir de uma constatação empírica, a de que a revelação se apresenta através do simbólico, em níveis de complexidades crescentes, onde aquilo que é evidente só será visto no desenrolar do texto, com densidade na definição dos símbolos e no entendimento deles. Ou seja, qualquer interpretação deve ser feita com todo o ser e não usando partes do que somos, já que o símbolo faz-se ponte entre as partes visando a construção de uma totalidade maior.
Em nosso midrash, ato de rodear o texto, vamos fazer uma viagem ao redor dos símbolos e trabalhar com as travessias subjetivas que desafiam a interpretação. Em primeiro lugar, torna-se quase impossível tal tarefa sem entender a travessia através da simpatia, enquanto atração pelas significações presentes no texto. Essa travessia simpática traduz a atração que a comunidade de fé tem pelo texto sagrado, na maioria das vezes uma cumplicidade, um amor por este diálogo a que foi chamada. Essa correlação simpática no diálogo está na atitude de colocar o texto como momento de uma revelação que extrapola limites, indo além do momento, atravessando a história em direção ao reino de Deus. Esse choque simpático diante da significação aparentemente deslumbra a comunidade de fé, criando êxtase e adoração. Compreendemos tal postura e acreditamos que nenhum hermeneuta deixará de levar tal fenômeno em conta, mas a tarefa hermenêutica está desafiada a equilibrar-se entre a compreensão desse deslumbramento diante da revelação e a análise dos componentes simbólicos da revelação, responsáveis pela construção do destino humano expressos na redenção, já que tal simbolismo visa manter a ligação com a totalidade do processo histórico e transistórico a que chamamos reino de Deus.
Compreendemos, assim, que os signos nas Escrituras são representações construídas pelas comunidades de fé, que expuseram os estados mentais dessas comunidades. É uma forma de ação onde a pessoa traduz a totalidade da revelação. Esse processo se perpetua através da manutenção dos signos por operações mentais e materiais, conectando as pessoas à sua cultura de fé e apontando sempre em direção ao reino de Deus. E o reino de Deus, nesse processo, se realiza no tempo presente enquanto expressão moral e de significados, que possibilitam a construção da consciência pessoal. Permite que a pessoa ao participar da comunidade ultrapasse a si mesmo, quando pensa, quando age no ato de adoração, quando desfruta das sensações de integração oriundas desta força. É um ato através do qual a comunidade toma forma e existe, por meio de movimentos exteriores, de significações, pois a ação domina a adoração e a comunidade é sua fonte. Há um imbricamento de forças comunitárias, concepções pessoais e significados. Esta é a forma pela qual o texto sagrado age no fiel, através de bases conceituais e coletivas. Assim, para que apareça a consciência coletiva é preciso que se produza uma síntese das consciências particulares, que desencadeia uma multiplicidade de sentimentos, de idéias, de significações. Logicamente todo esse processo está localizado num tempo, com dias e tempos religiosos definidos, e num espaço, numa geografia delimitada. Tais definições permitem que as atividades produzam um acúmulo de imagens, por uma associação de idéias e sentimentos, o que subordina o psicológico à ação religiosa da comunidade. De todas as maneiras, permanece o ato pessoal, embora tenha raízes na comunidade. Esta experiência tão intensa traduz um ponto de vista positivo, de poder, subjetivo, mas eficaz. É a travessia simpática presente em todo o processo da revelação, que o hermeneuta deve perceber presente no texto escriturístico sagrado. Mas se falamos de simpatia, há uma segunda travessia nesta construção, é a fé, compreendida como entendimento que sente o que está além do símbolo. E aqui temos que relacionar símbolo e estrutura, construindo aquilo que Lévi-Strauss chamou de estrutura simbólica, por funcionar como reorganização estrutural ao nível do psiquismo. Essa reorganização estrutural possibilitaria a edificação de processos orgânicos, do psiquismo e do pensamento, atuando sobre o inconsciente. Ou seja, atuaria sobre a função simbólica, e por extensão sobre a fonte da história pessoal e seus significados, que tem suas raízes na comunidade onde está inserida a pessoa. E se já vimos as travessias da simpatia e da fé devemos falar da razão, que analisa, ordena e reconstrói noutro nível o símbolo, mas o faz a partir da simpatia e da fé. A travessia da razão cumpre a tarefa de examinar os símbolos num processo de correlação daquilo que está em cima e daquilo que está embaixo. Mas, não poderá fazer isso se a simpatia não tiver lembrado tal relação, se a fé não tiver chamado à cena o que estava oculto. Só então a razão, indo além do discurso se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado.
Assim, ao entrarmos na semiologia descobrimos uma interpretação que procura romper com a força da comunidade na compreensão do símbolo, favorecendo os processos propriamente simbólicos, entendidos como visões que interpretam o mundo. Mas, um dos problemas da semiologia é exatamente a definição de símbolo. Poderíamos dizer que o símbolo permite a fusão de idéias e imagens, e que por isso poderia ser interpretado de muitos modos, por ser uma forma dinâmica de pensamento, que coloca as idéias em movimento e as mantêm neste movimento. Se for assim, o símbolo é passível de interpretação, mas não de solução. Está é a opinião do exegeta judeu Gershom Scholem, que define o símbolo como uma representação expressiva de algo que em si mesmo está além da esfera da expressão e comunicação, uma realidade escondida e inexpressível. Essa definição de símbolo de fato nos remete ao signo, sinal ou marca, categoria que pode ser subdividida em uma complexa série de associações, em geral de caráter emocional e difícil de descrever. Nestas definições podemos ver a idéia de polivalência dos símbolos, que funcionariam como tijolos numa construção, como conjunto de classificações cognoscitivas que estabeleceriam a ordem no universo, mas também dispositivos capazes de despertar e canalizar emoções. Apesar da importância da teoria dos símbolos, a cultura continuou a ocupar seu espaço como fator emergente que possibilita a centralidade da pessoa, que tem a oportunidade de se expressar no diálogo e transformar a comunidade onde se acha inserida. Assim, a pessoa é a matriz simbólica da comunidade. Essa compreensão nos levará da idéia de diálogo à idéia de conversa, onde não temos apenas duas personagens, a pessoa, a comunidade, mas também aquele que através da revelação abriu a conversa. Nesse contexto, os símbolos passam a ser estudados a partir daquele que chama à conversa, da pessoa e da comunidade. Temos então a idéia de símbolos multivocais, ou seja, passíveis de significações, mas ancorados numa nova estrutura, que trabalha com canais de comunicação internos ao texto, mas também expressos na relação entre pessoa/comunidade, representações que traduzem a ordem temporal da estrutura. Essa nova compreensão da estrutura como trindade simbólica nos remete àquele que abre a conversa a partir de sua automanifestação. Nesse sentido, a revelação enquanto texto sintetiza essa automanifestação e por isso deve ser entendida como elemento que possibilita as travessias da simpatia, da fé, da razão e da cultura.
Essas travessias subjetivas fundamentam a natureza genética da linguagem, que se encontra em constante devir. Dessa maneira, significado e significante estão intimamente ligados à linguagem, enquanto revelação e construção histórica e cultural. Assim, compreendemos que, dependendo da utilização de determinado objeto ou realidade, o ser humano conhece de determinada forma, e no processo pode construir conceitos diferentes a partir de um objeto ou realidade anteriores. Podemos inferir ao que isso conduz. A revelação está ligada à vida do ser humano, já que será a própria experiência humana que agregará valor ao objeto ou realidade antes conhecidos e vividos. Dessa maneira, o velho vai gerar o novo, uma essência que transcende, uma universalidade, a partir da própria experiência de vida, que teologicamente podemos chamar de obediência ao mandamento de Deus. Mas ainda não definimos a importância do significado e do ser significante dentro do processo da revelação. Se a revelação é histórica, é importante notar que a própria revelação age sobre a vida humana, sobre a historicidade do ser humano. E mais do que isso, ao definir a historicidade humana muda o próprio meio onde o ser humano vive e atua. Dessa forma, a revelação cria processos de formação, escalas de valores, normas e condicionamentos. E é aí que reside toda a problemática da revelação enquanto conhecimento: como o ser humano, a partir da revelação, pode conhecer a Deus, seu propósito e dar um sentido ao mundo que o cerca, assim como achar o seu papel dentro de todo esse complexo?
A verdade da revelação é o significado que uma determinada realidade tem para a comunidade e a pessoa. Há uma construção intuitiva, quando a experiência da revelação produz uma interação entre o ser humano e a divindade, sem que essa experiência necessariamente influa no processo discursivo de conhecimento. Mas mesmo neste caso o ser humano não abandona ou perde sua formação. Não deixa de ser aquilo que é: pessoa inserida em determinada comunidade. Mesmo quando esse processo dá-se em um nível superior, instantaneamente, sem elaboração discursiva, o ser humano está condicionado pela historicidade de ser cognoscente. E dentro dessa condicionante sempre se processa a interação ser humano/realidade. Aqui, sentimentos e afetividades, que geralmente passam despercebidos, são realçados. Isso porque nesse momento específico, determinada realidade passa a ter significado, que mesmo não sendo inerente, exige que se lhe dê um. E nesse caso o conhecimento da revelação faz do ser humano ser significante. Assim a revelação dá ao mundo um significado imanente. O ser humano, enquanto pessoa e comunidade, através da revelação passa a estar dotado de significado, mas ao mesmo tempo este conhecimento, este significado dado, não se dá sem história, mas dentro das limitações de sua própria obediência. Podemos, então, concluir que a partir da revelação o ser humano é o significante da construção da comunidade, pois através do conhecimento da revelação é ele quem historicamente pode modificar causas e efeitos, imprimindo ao processo nova direção. Mas como se processa a relação entre significado e significante, quer no caso isolado da interação entre ser humano e realidade, quer no caso de todo o processo simbólico da revelação? Se dentro do conhecimento da revelação o ser humano é um ser significante, podemos, então, ver que a escala de valores do sistema ético, oferecido pela revelação à comunidade, é parte integrante do significado dado ao mundo pela própria revelação. Donde, dentro de uma interação significado significante existem elementos dinâmicos de transformação.
O universo é o mundo do ser humano. Nesse sentido, aí ele constrói seu habitat. Desta forma, através do significado dado pelo ser humano à natureza, enquanto domínio e expansão, dentro de um significado de utilização que lhe empresta, atua sobre ela, produzindo cultura e transformação. E vejo a cultura como conjunto integrado de costumes, crenças e instituições, onde incluo a revelação e a espiritualidade, além de todos os hábitos e aptidões apreendidas pelo ser humano enquanto membro de uma comunidade. Existem nesta definição duas grandes ordens de fatos, uma que diz respeito à antropologia por tudo que somos, desde nosso nascimento, como características legadas por nossos pais e ancestrais, à qual se liga à biologia e à psicologia; e, de outra parte, todo o universo onde vivemos enquanto membros de uma comunidade. O hermeneuta, armado de uma primeira leitura antropológica, procura fazer na ordem da cultura interpretação idêntica àquela que o cientista faz na ordem da natureza, na medida em que trata de necessidades fundamentais e de necessidades cujas origens estão na antropologia e por isso são idênticas no seio da espécie homo sapiens. Ao hermeneuta que se faz filósofo interessa o geral, mas não pode esquecer as modulações, diferentes segundo as comunidades e as épocas, que se impuseram a uma matéria-prima, por definição, sempre idêntica e presente em todos os lugares. Assim, para o hermeneuta, como para o antropólogo, um dos eixos da discussão é a linguagem, pois ela faz a ponte entre as características e necessidades estruturais do homo sapiens e o fato cultural. É uma característica, uma aptidão que vem da tradição externa, mas ao mesmo tempo é instrumento essencial, o meio privilegiado que dá possibilidade à realização do homo sapiens. Mas, ao mesmo tempo em que é a mais perfeita manifestação da ordem cultural, e, nesse sentido, manifestação histórica, permite o estabelecimento de um relacionamento entre o ser humano e seu Criador. É verdade, no entanto, que o uso da linguagem pelo homo sapiens é mais complexo quando se trata da espiritualidade do que em relação a outras formas estéticas, já que usa e combina não somente elementos fornecidos pela linguagem propriamente dita, mas também elementos brutos, que por assim ser estariam fora da cultura.
A revelação, e o homo sapiens faz parte dela, não pode ser identificada apenas como expressão do Criador, nem somente com os estados que provoca nos sujeitos receptores. Cada estado de consciência subjetiva tem algo de pessoal e momentâneo que o torna inapreensível e incomunicável em seu conjunto, mas a revelação está destinada a servir de intermediário entre seu autor e a comunidade. A linguagem enquanto representação da revelação no mundo sensível, sem nenhuma restrição, é acessível à percepção de todos. Mas, ainda assim, não podemos reduzir a revelação à linguagem, pois acontece que a revelação, deslocando-se no espaço e no tempo, muda de aspecto e reformata conteúdos. A linguagem traduz na maioria das vezes apenas o significante, ao qual na consciência da comunidade corresponde uma significação, dada pelo que têm de comum os estados subjetivos provocados pela linguagem nos membros da comunidade. Além desse núcleo central, pertencente à consciência da comunidade há em todo ato de percepção da revelação elementos psíquicos subjetivos, que podem ser entendidos como fatores associativos de percepção emocional e estética. Tais elementos subjetivos podem, por sua vez, ser objetivados, mas somente na medida em que sua qualidade geral ou sua quantidade são determinadas pelo núcleo central, situado na consciência da comunidade. Quanto às diferenças qualitativas, é evidente que a quantidade de representações e emoções subjetivas é mais considerável numa revelação em construção do que naquela que já foi conscientizada coletivamente. O primeiro momento da construção da revelação deixa a cargo do ser humano imaginar quase toda a contextura do tema, enquanto que a revelação conscientizada pela comunidade suprime quase por completo a liberdade de suas associações subjetivas pela enunciação concisa. É desta maneira que, indiretamente, através do núcleo pertencente à consciência da comunidade que os conteúdos subjetivos do estado psíquico do sujeito perceptor adquirem um caráter objetivamente semiológico, similar ao que têm as significações acessórias de uma palavra. Ao negarmos a relação existente entre a revelação com um estado psíquico subjetivo rejeitamos a realidade estética da revelação. Sem esses conteúdos emocional e estético a revelação pode no máximo atingir uma objetivação indireta na qualidade de significação acessória potencial. Porém, não podemos dizer que esses conteúdos emocional e estético fazem necessariamente parte da percepção da revelação, mas, sem dúvida, no processo progressivo da revelação há épocas em que esses conteúdos tendem a reforçá-la, assim com há outras épocas em que perdem força ou mesmo, aparentemente, desaparecem. Assim, é no contexto dos fenômenos sociais que a revelação, enquanto fenômeno social distintivo, é capaz de caracterizar e representar época e história. Por isso, não podemos confundir história da revelação com história da cultura, pois a história humana acontece como subconjunto da história da revelação. É verdade que a relação entre revelação e contexto social muitas vezes nos parece mal amarrada. Quando dizemos que a revelação visa a transformação definitiva do contexto social, não afirmamos com isso que ela coincide necessariamente com ele, mas que como signo, tem sempre uma relação indireta com o contexto social, mesmo enquanto metáfora. Assim, da natureza semiológica da revelação decorre que jamais uma revelação específica deve ser explorada como documento histórico ou sociológico sem a interpretação prévia de seu valor documentário ou da qualidade de sua relação com o contexto dado de fenômenos sociais. Dessa maneira, o estudo objetivo dos fenômenos simbólicos da revelação deve considerar cada revelação específica como um signo composto de símbolo sensível criado por Deus; de uma significação ou objeto estético e emocional depositada na consciência da comunidade; e de uma relação com a realidade significada, relação esta que visa o contexto social. O segundo desses componentes contém a estrutura propriamente dita da revelação.
É por isso que dissemos que a revelação tem a função de signo autônomo. Mas ao lado da função de signo autônomo, a revelação tem ainda a função de signo comunicativo. Assim, uma revelação dada não funciona somente como revelação, mas também como fala que exprime um estado da vida, pensamento, emoção, etc. A revelação tem, portanto, uma dupla função semiológica, autônoma e comunicativa. Por isso, vemos aparecer no movimento progressivo da revelação a antinomia relacional da função de signo autônomo e de signo comunicativo. É lógico que não podemos separar ou opor homo sapiens e cultura. Se entendermos por revelação o conjunto das manifestações da divindade no universo no qual vivemos, é claro que a cultura faz parte do homo sapiens e não somente o homo sapiens da cultura. Quando opomos homo sapiens e cultura tomamos o termo homo sapiens num sentido mais restrito, de conteúdo apriorístico. Nesse sentido, homo sapiens e cultura se antepõem porque a cultura não provém do conteúdo apriorístico, mas da tradição externa, isto é, da educação. Mas podemos dizer que a cultura em si, o fato de que existem pessoas, de que essas pessoas falem, sejam organizadas em comunidades que se distinguem uma das outras por costumes e instituições diferentes, tudo isso é parte da comunidade dos homo sapiens, e mais do que isso, é unidade e homogeneidade dessa humanidade.
A simbologia da revelação, enquanto relação entre significante e significado, é relacional. Pois se é ela que faz da pessoa e da comunidade ser significante, permite ao ser humano e sua comunidade transferir ao mundo que o cerca a cosmovisão que utiliza essa mesma significação. Ao fazer significante a realidade que o cerca, o ser humano dá origem a transformações, engendra causas, e passa à construção do futuro, já não como sonho, mas como realidade. Para viabilizar tais transformações é necessário que transfira, enquanto comunidade, novos significados aos processos históricos e sociais. Assim, através da relação estabelecida entre significado e significante encontraremos as causas de conotações. À circuncisão, por exemplo, a partir de determinado momento, daremos a conotação de aliança. A circuncisão se faz aliança, signo, marca de um povo separado, mas só será assim quando pessoas e comunidade que se tornaram significantes lhes dê significado.
A hermenêutica crítica das ideologias
Em nosso labor interpretativo trabalhamos a partir da hermenêutica da complexidade, mas entendemos que o texto está e sempre esteve aberto ao fogo das ideologias e isto é uma das razões que explicam os debates hermenêuticos entre Jesus e os intérpretes literalistas de sua época. Entendemos ideologia como conjunto de idéias orientado para as ações culturais e religiosas. É um conceito genérico para os processos pelos quais o sentido é produzido, contestado e transformado, por isso a hermenêutica crítica das ideologias se preocupa em teorizar os processos de produção de sentido como realidades culturais e religiosas. Daí que os interesses da hermenêutica crítica das ideologias se correlacionam com formas diferentes de interpretação, como a crítica cultural, a crítica sociológica e a crítica ética, entre outras. A hermenêutica crítica das ideologias trabalha ao nível de três dimensões: a relação entre a linguagem e a produção de sentido; os diferentes discursos que atuam no texto; e a natureza das relações de poder. A partir dessas buscas constrói os contextos institucionais dos textos, de sua recepção e a influência exercida sobre os leitores em suas posições sociais específicas. E, particularmente, sempre a utilizo como apoio ao uso que faço da hermenêutica da complexidade. Quando utilizamos a hermenêutica crítica das ideologias devemos levar em conta que a consciência humana é sempre cultural, histórica e social, e sofre influência das condições concretas da existência. Isso significa que as idéias nem sempre representam a realidade exatamente como ela é, mas que muitas vezes por causa das determinações culturais, históricas e sociais nos apresentam essa realidade de forma distorcida. Daí a necessidade de trabalhar como a hermenêutica da crítica ideológica para descobrirmos as ideologias que se confrontaram na produção da simbologia da revelação e, também, nas leituras interpretativas de leitores, sejam eles teólogos ou não. A tarefa do hermeneuta, para Paul Ricoeur, na crítica das ideologias é desmascarar os interesses que impedem a realização humana e pautar a construção da linguagem sem limite e coação. Jürgen Habermas, filósofo alemão fundador da hermenêutica crítica das ideologias, e citado utilizado por Ricoeur, apresenta três interesses como constitutivos das ciências: o interesse técnico, baseado nas ciências empírico-analíticas; o interesse prático, que constrói a esfera da comunicação a partir das ciências histórico-hermenêuticas; e o interesse pela emancipação, constituído pelas ciências sociais críticas. A partir daí deve partir a hermenêutica crítica das ideologias, mas, sem dúvida, é o interesse pela salvação e liberdade que funciona nela como mola propulsora. Assim, a crítica das ideologias situa-se na base de atuação das ciências histórico-hermenêuticas, ou seja, a comunicação. É no reconhecimento desse espaço que se constitui a idéia reguladora da conversa livre da dominação. Ora, a comunicação é uma herança cultural da humanidade, uma tradição, que é criada e recriada pela interpretação humana. O ideal da comunicação nada mais é do que uma antecipação, que depende da hermenêutica mesmo para ser anunciada como tal. Ou como disse Habermas:
“Não podemos antecipar simplesmente no vazio, um dos lugares da exemplificação do ideal da comunicação é justamente nossa capacidade de vencer a distância cultural na interpretação das obras recebidas do passado. É bem provável que quem não é capaz de reinterpretar seu passado, também não seja capaz de projetar concretamente seu interesse pela emancipação”.
Parafraseando Heidegger, quando fala dos poetas, podemos dizer que os intérpretes são os vigias da casa do ser, daquilo que somos, são os vigias da linguagem. Por isso, as interpretações são as ações de vigiar a casa do ser, mas não são o ser. Interpretar não é explicar nem analisar, é conduzir à conversa poética, onde o real se manifesta na sua verdade multivocal. A interpretação não substitui a obra da revelação, possibilita a conversa. O intérprete não salvaguarda o mundo que a obra da revelação abre, mas salvaguarda a abertura de mundo. Salvaguardar a abertura de mundo manifesta a obra da revelação como vigor de ter sido no vir a ser do porvir. A interpretação da revelação é acontecer, que não se propõe, criticamente, como a única verdadeira. Mas a revelação sempre esconde ideologias, sejam elas as predominantes na comunidade ou aquelas que se encontram à margem. Isto porque os intérpretes, ou aqueles que produzem idéias separam-se dos que produzem coisas e à medida que a revelação vai ficando cada vez mais distante da comunidade real, os que pensam começam a acreditar que a consciência e o pensamento estão, em si e por si mesmos, separados das coisas materiais, existindo em si e por si mesmos. Esse é um fenômeno presente na leitura das Escrituras, já que os intérpretes, devido à ideologia tendem a acreditar na independência entre a consciência e o mundo material. Surge, então, a compreensão das Escrituras como leitura de massas predominantemente ideológica. Assim a ideologia torna-se ideologia quando não aparece sob a forma de sonho, mas como explicação ideal da comunidade. A ideologia surge quando desloca a palavra revelada e apresenta idéias descoladas da revelação sobre o ser humano, o que é o bem, etc. E no século vinte apoiou-se esse tipo de hermenêuticas, que ofereceram às comunidades imagens de ocultamente da realidade comum, apresentando uma lógica ideológica de dominação social e política. Por isso, ao interpretar o texto sagrado somos chamados à conversa com o lado de ocultamento da ideologia, mas também a escutar a voz do real na palavra da revelação. Nessa escuta, que advém da apropriação do que somos, a interpretação não é método ou mediação, mas conversa e limite, experiência de sentido e verdade do ser. Interpretar torna-se então abrir-se para a escuta e sentido do ser como ethos. Este abrir-se implica um interpretar-se e não um exteriorizar-se diante do texto escriturístico. Não consiste numa contemplação externa ou interna, mas um abrir-se para a vigência do real, pela qual se dá na interpretação uma experiência da revelação. Nesta, quem advém é o real como mundo. Experienciar a verdade do real como mundo é, então, apropriar-se do que nos é próprio. A apropriação se dá nos limites da travessia. Interpretar-se é experienciar a experiência de ser. Ser é o apropriar-se em toda travessia do vigor de ter sido. Por ter sido é que podemos nos projetar nos caminhos da interpretação. Por isso, a possibilidade e sentido de toda interpretação é a questão da interpretação como possibilidade e sentido. É sempre uma travessia. Tudo isso nos leva à questão da interpretação. E aí voltamos a Guimarães Rosa, quando diz que “mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. A questão da interpretação, então, como experiência da revelação nos leva a inversão: à interpretação do desafio. E se aprendemos no exercício de ensinar, nessa aventura vemos que a interpretação como travessia e experiência da revelação são o concentrar-se na espera do inesperado.
Um estudo de caso
Gênesis Um a partir dos midrashim judaicos
Na seqüência do que vimos, desejo apresentar aos leitores um estudo do primeiro capítulo do livro de Gênesis, que trabalha as complexidades e a crítica ideológica das leituras mais tradicionais do texto. Tal análise não tem finalidade polêmica, mas a intenção de apresentar novas leituras sobre um dos textos mais discutidos da Bíblia. Mas, de forma nenhuma, é a única ou a mais profunda leitura que se pode fazer de Gênesis Um. Nessa travessia utilizamos os midrashim, hermenêuticas rabínicas.
Aos olhos de Hitler e de seus fiéis, conforme descreve Draï, existia um perigoso pensamento judaico, caracterizado por sua essência maléfica, inspiradora da física de Einstein, da literatura de Kafka, da música de Schoenberg e da psicanálise de Freud. Deixando de lado os delírios hitlerianos, podemos dizer que há um criativo pensamento judaico, que através dos séculos soube combinar Torah e conhecimento, ética e epistemologia. Nosso propósito é, numa primeira aproximação, mostrar que os estudos judaicos dos conteúdos de Gênesis Um produziram uma epistemologia que interliga o conceito espaço/tempo em Gênesis Um com a teoria da relatividade. Essa correlação tem especial importância para a teologia, já que a partir dela podemos entender melhor a realidade de Gênesis Um.
“No começar Deus criando o fogo-água e a terra/ E a terra era lodo torvo e a treva sobre o rosto do abismo/ E o sopro-Deus revoa sobre o rosto da água”.
Parto da hipótese de que a teologia judaica nos últimos mil e novecentos anos apresenta hermenêuticas criativas do Gênesis Um. Essas hermenêuticas ou midrashim não ficaram restritas aos círculos rabínicos, mas fizeram parte da tradição e da cultura do judaísmo através dos séculos. Escritores, artistas e cientistas judeus utilizaram esses conhecimentos em seus campos de trabalho. Einstein conhecia essas fontes, em parte desconhecidas para o mundo cristão, mas ricas e cheias de significados para todo intelectual judeu. Por isso, esta leitura da teoria da complexidade tem como roteiro a cosmogonia judaica, entendida como as narrativas ou teorias a respeito da origem do universo, e as idéias centrais da teoria da relatividade.
Albert Einstein era judeu, acreditava em Deus criador, mas não aceitava o conceito de Deus pessoal. Foi um sionista militante durante toda sua vida, a ponto de em 1952 lhe ser oferecida a presidência de Israel. Não aceitou. Estava casado com a física. “As equações são mais importantes para mim porque a política é feita para o presente, ao passo que uma equação é algo para toda a eternidade”.
Apesar de seus matizes, o judaísmo mostrou uma coerência em relação às hermenêuticas de Gênesis Um, a defesa da criação ex nihilo. Assim, o recuo de Deus para permitir que surgisse o vazio, o nada, e nele o universo finito, é desenvolvido na teoria da contração, em hebraico tzimtzum. Essa teoria formalizada pelo rabino Luria (1534-1572) é uma das concepções mais surpreendentes da hermenêutica judaica. Isaac Luria, um dos maiores expoentes da tradição mística no judaísmo, nasceu no Cairo, mas desenvolveu seu ministério em Safed, na Palestina. A expressão tzimtzum significa originariamente concentração, mas acabou sendo entendida como retirada. Luria partiu de textos do Midrash, onde encontramos que Deus concentrou sua Shekiná, sua presença, no Santo dos Santos, assim todo seu poder retraiu-se num único ponto. É assim que surge a expressão tzimtzum. As duas expressões, concentração e retirada, que deveriam ser entendidas como complementares, já que Deus se retira e então concentra a sua luz sobre este ponto, passou a dividir os estudiosos em dois grandes grupos: os que defendem o tzimtzum como base para a doutrina da creatio ex nihilo e também para aqueles que defendem a doutrina da emanação (em hebraico atsilu) ou processio Dei ad extra. Dessa maneira, o próprio Luria, apesar de partir de uma expressão que naturalmente deve levar à creatio ex nihilo, torna-se o principal expositor dentro do misticismo judaico do processio Dei ad extra, que tem por base não um processo no tempo, mas uma estrutura da realidade, enquanto emanação, criação, formação e ação. Assim, para esses rabinos, níveis inferiores de realidade emanaram de níveis superiores que, por sua vez, tiveram origem em Deus. Dentro dessa concepção há um midrash, a teoria do vaso quebrado, que trabalha com a hipótese de que o mundo foi feito de remanescentes de mundos anteriores que Deus havia destruído. Uma conhecida lenda rabínica explica esse processo como o desprender de uma chama de carvão da roupa de Deus.
“No princípio (Gênesis 1:1), a vontade do Rei começou a gravar signos na esfera superior. Do recesso mais oculto, uma negra chama brotou do mistério do ein sof, o Infinito, como um novelinho de massa informe, como que inserido no aro dessa esfera, nem branca nem preta, nem vermelha nem verde, de nenhuma cor. Somente depois de distender-se como um fio, produziu ela cores para luzir em si. Do âmago da chama, jorrou uma fonte da qual brotaram cores e se espalharam sobre tudo embaixo, oculto na ocultação mais misteriosa do ein sof. Mal rompeu ela, inteiramente irreconhecível, seu círculo de éter, sob o impacto da irrupção, um ponto oculto, superior fulgiu da irrupção final. Aquém desse ponto está excluído todo conhecimento e por isso ele é chamado reschit, princípio, a primeira palavra do Todo”. Apesar de sua riqueza hermenêutica não estaríamos longe da verdade ao classificar a doutrina da emanação como um panenteísmo, que define o mundo material como o desdobramento de Deus em diferentes níveis. E porque o mundo existe dentro de Deus, os defensores do processio Dei ad extra consideram necessário descobrir o que há de divino nos fenômenos do cotidiano. Se entendermos, porém, a teoria do tzimtzum, como a correlação de dois movimentos, o da retirada e o da concentração ficará mais fácil aproveitar os estudos de Luria. O tzimtzum explica o recuo de Deus para permitir que surgisse o vazio, o nada, e nele o universo finito. Como Deus é infinito, sem o tzimtzum não haveria o nada no qual pudesse produzir a estrutura espaço/tempo de uma criação separada.
É interessante notar, que se por um lado a correlação da autocontração e concentração divina deu origem ao mundo material, o choque entre o movimento restritivo e o transbordante amor de Deus criou também a possibilidade do mal. Nesse sentido, a cosmogonia judaica vê a criação em primeiro lugar como consciente autolimitação e na seqüência como revelação e julgamento. E como julgamento é entendida a imposição de limites, ele faz parte da revelação, que se expressa pela primeira vez como criação de Deus. Em outras palavras: se o mal é uma probabilidade que surge da correlação amor divino e retração, o julgamento passa a ser inerente a tudo na criação, já que todas as coisas estão determinadas enquanto limites.
A tradição do debate sobre a creatio ex nihilo é antiga no pensamento judaico. Na verdade, podemos dizer que começa a ser realizada no segundo século. Por isso, não é de estranhar que encontremos reflexões profundas sobre Gênesis Um nos séculos posteriores. Assim, em um dos textos mais representativos do pensamento caraíta, movimento medieval de retorno à letra da Escritura, considerado por muitos um protestantismo judeu de coloração pietista, a “Explanação dos Mandamentos”, de Aha Nissi ben Noah de Bassorá, que ensinou em Jerusalém na segunda metade do século nove, lemos: “No primeiro dia Deus criou sete coisas: o céu, a terra, as trevas, a luz, a água, o abismo e o vento (Gênesis 1.1-12). Primeiro criou tohu e bohu (a solidão e o caos), dos quais surgiu a terra (Gênesis 1.1-2). Criou as trevas: ‘Ele formou a luz e criou as trevas’ (Isaías 45.6). Criou o vento, conforme a palavra: ‘e criou o vento’. Criou a água, pois com a criação da terra havia água. Criou o abismo, para que a água tivesse uma profundidade e uma submersão. Criou a luz (Gênesis 1.3). Para a criação do mundo foram necessárias quatro coisas: a ordem, o trabalho, a determinação e a proclamação”. Nesse texto aparentemente tão simples, encontramos dois conceitos muito importantes: tohu e bohu fazem parte da criação e para que haja criação é necessário ordem.
Outro grande hermeneuta judeu, que fez oposição ao pensamento caraíta, foi Saadia Gaon (892-942). Influenciado pela efervescente teologia do Islã e pelo pensamento helenístico clássico, Gaon combateu a presença heterodoxa, de tendência maniqueísta, os remanescentes de Filo e a crítica gnóstica. Seu texto sobre a doutrina da creatio ex nihilo é de uma profunda beleza, apesar de apresentar imperfeições normais ao conhecimento da época, como, por exemplo, sua visão geocêntrica. Mas, de forma brilhante enfrenta opositores bem parecidos aos que encontramos hoje em dia.
“Aqueles que acreditam na eternidade do mundo procuram provar a existência de algo que não tem começo nem fim. Por certo, nunca depararam com uma coisa que percebessem, pelos sentidos, sem ser começo nem fim, mas procuram estabelecer sua teoria por meio de postulados da razão. Semelhantemente, os dualistas empenham-se em provar a coexistência de dois princípios separados e opostos, cuja mistura fez que o mundo viesse a ser. Sem dúvida, nunca testemunharam dois princípios separados e opostos, nem o pretenso processo da mistura, mas tentaram suscitar argumentos derivados da razão pura em favor de sua teoria. De maneira similar aqueles que acreditam numa matéria eterna consideram-na como um hilo, isto é, algo em que não há originalmente qualidade de quente ou frio, de úmido ou seco, mas que se transforma por uma determinada força e assim produz aquelas quatro qualidades. Indubitavelmente, seus sentidos nunca perceberam uma coisa carente de todas essas quatro quantidades, nem jamais perceberam um processo de transformação e a geração das quatro qualidades como é sugerido. Assim sendo, é claro que todos concordam em admitir alguma opinião concernente à origem do mundo que não tem base na percepção sensorial”.
Para sua defesa da criação ex-nihilo, Gaon trabalha com quatro argumentos, três dos quais muito bem expostos: de finitude do universo, estrutura e acidentalidade.
“Continuo a afirmar que nosso Senhor, louvado e enaltecido seja, informou-nos que todas as coisas foram criadas no tempo, e que Ele as criou do nada. Ele nos comprovou essa verdade por meio de sinais e milagres e nós a aceitamos. Examino ainda mais nesta matéria com o intuito de saber se ela podia ser comprovada por especulação como foi comprovada por profecia. Achei que era este o caso por certo número de razões, das quais, devido à brevidade, selecionei as quatro seguintes: (1). A primeira prova baseia-se no caráter finito do universo. (2). A segunda prova é derivada da união de partes e da composição de segmentos. Vi que os corpos consistem de partes combinadas e de segmentos ajustados entre si. (3). A terceira prova baseia-se na natureza dos acidentes. Verifiquei que nenhum dos corpos são desprovidos de acidentes que os afetem direta ou indiretamente. Animais, por exemplo, são gerados, crescem até que alcançam sua maturidade, então, definham e se decompõem. Então eu disse a mim mesmo: Será que a terra como um todo é livre destes acidentes? (4). A quarta prova baseia-se na natureza do tempo. Sei que o tempo é triplo: passado, presente, futuro. Embora o presente seja menor do que qualquer instante, tomo o instante como se toma um ponto e digo: Se um homem tentasse em seu pensamento ascender deste ponto no tempo ao ponto mais elevado, ser-lhe-ia impossível fazê-lo, porquanto o tempo é agora admitido como infinito e é impossível ao pensamento penetrar no ponto mais remoto daquilo que é infinito”.
De todos os pensadores judeus medievais, talvez o mais conhecido fora dos meios judaicos, seja o talmudista francês Shlomo bar Itzhak, o rabi Rashi de Troyes (1040-1105). Exegeta, Rashi apresenta uma tradução para o versículo um de Gênesis que leva em conta estrutura e acidentalidade: “No princípio, ao criar Deus os céus e a terra, a terra era vã...” E segundo seu midrash, o texto não está preocupado em mostrar a ordem da criação, mas em afirmar o ato criador de Deus. Rashi mostra-se preocupado com o sentido literal, mas define claramente sua hermenêutica:
“Todo texto se divide em muitos significados, mas, afinal nenhum texto está destituído de seu sentido literal”.
Dessa maneira, tanto para expositores da creatio ex nihilo como para os defensores do processio Dei ad extra a intenção primeira de Gênesis Um é apresentar Deus como criador, que utiliza tohu e bohu como matéria prima para a formação do universo. E é a partir dessa relação entre criação e revelação, que os estudiosos judeus entenderão a redenção, já que o fim messiânico ou estágio final do mundo revelado significa uma volta ao começo, uma nova criação.
“A redenção deveria ser conseguida não por um movimento tempestuoso na tentativa de apressar crises e catástrofes históricas, mas antes pela remarcação do caminho que conduz aos primórdios da criação e da revelação, ao ponto em que o processo do mundo (a história do universo e de Deus) principiou-se a desenvolver-se dentro de um sistema de leis. Aquele que conhecia a senda pela qual viera podia ter esperanças eventualmente de poder retornar sobre seus passos”.
Assim, mais do que qualquer intencionalidade em apresentar a cronologia da criação, Gênesis Um apresenta uma ordem enquanto correlação da estrutura e acidentalidade. Esse processo é interpretado por Scholem como:
“O primeiro ato, o ato do tzimtzum, no qual Deus determina e limita a Si mesmo, é um ato de julgamento que revela as raízes dessa qualidade em tudo o que existe. Essas raízes do julgamento divino subsistem em mistura caótica com o resíduo da luz divina que remanesceu, após a retirada ou retraimento original, dentro do espaço primário da criação de Deus. Então um segundo raio de luz emanado da essência do ein sof traz ordem ao caos e põe o processo cósmico em movimento, ao separar os elementos ocultos e moldá-los em nova forma”.
E dois escritos antigos nos mostram que a doutrina da creatio ex nihilo tem suas bases tanto no Tanach, como nos apócrifos intertestamentários. Lemos em Isaías: “Assim diz Iaveh, teu redentor, aquele que te modelou desde o ventre materno. Eu, Iaveh, é que fiz tudo, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Com efeito, quem estava comigo?” (Isaías 44.24). E em II Macabeus 7.28: “Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma”. Esta, aliás, é a primeira afirmação explícita da criação ex nihilo.
A primeira vista, a cosmogonia judaica define a centralidade de Gênesis Um no ato criativo de Deus apenas enquanto espacialidade. Seria uma busca do lugar, da centralidade espacial. O que leva muitos a afirmarem que não há nenhum elemento espaço-temporal em Gênesis. Mas, isso não é verdade. Em 1740, Anton Lazzaro Moro, cristão novo, geólogo e exegeta italiano, desenvolveu uma sofisticada defesa da hipótese espaço-temporal em Gênesis Um. Dizia ele que tudo que está “envolto e fechado” precisa de um tempo para libertar-se e tornar-se evidente, e que Deus, ao criar a natureza, colocou-se com administrador das leis criadas. Daí conclui:
“Quando a Escritura afirma que ‘Spiritus Dei ferebatur super aquas’ indica uma função que traz consigo sucessão de tempo”.
Desenvolvendo sua tese espaço-temporal, explica que toda a criação sofreu duas produções diferentes, que precisam ser cuidadosamente separadas,
“a primeira é a do nada pela mão imediata do criador; a outra provém do seio das segundas causas acionadas pelo administrador da natureza. A primeira produção é instantânea e é ato divino proporcionado pela onipotência e eternidade de Deus; a segunda [produção] implica que o ato divino seja adaptado às exigências da natureza que Deus estabeleceu em cada coisa”.
A partir daí sua cosmogonia é surpreendente. Explica que é Deus quem moveu circularmente “a celeste matéria de todo o planetário vórtice”, obrigando essa matéria que formaria o Sol a colocar-se no lugar que lhe era destinado. Constatando que seja qual for a velocidade que se queira atribuir ao movimento diário do Sol e de seu vórtice, “isso não aconteceu num só dia e em só vinte e quatro horas”. A formação do Sol, assim como a produção dos planetas, afirma Moro:
“comprova que aqueles seis dias não foram de medida igual aos dias modernos, mas que foram espaços de tempo de duração muito mais longa, ou seja, de uma duração proporcional à atividade das causas segundas e à exigência dos efeitos produzidos; espaços esses que foram chamados dias, conforme o costume freqüentemente usado nas Escrituras de exprimir com o nome de dias certos espaços de tempo longos e indeterminados”
É interessante ver como a física do século vinte, principalmente aquela que sofreu influências dessa mesma cosmogonia, traduziu para uma nova linguagem antigos conceitos.
Desde Aristóteles a ciência avaliou equivocadamente o conceito tempo, considerando-o absoluto, sem relação imediata e causal com o espaço. Pensou um tempo sem ambigüidades, achando que se fosse medido corretamente, entre dois espaços ou eventos, o intervalo de mensuração seria sempre igual. Durante séculos, inclusive para Newton, o tempo foi independente do espaço. Mas, em 1905, Einstein tornou pública uma nova teoria de espaço, tempo e movimento, que ele chamou de relatividade especial. Comprovada em experiências de laboratório, essa teoria, aceita pela maioria dos físicos atuais, levanta algumas hipóteses simplesmente impressionantes, como a equivalência da massa e da energia, a elasticidade do espaço e do tempo e a criação e destruição da matéria. Dez anos depois, na seqüência da teoria anterior, Einstein publica a sua teoria da relatividade geral, com novas previsões: a curvatura do espaço e do tempo, a possibilidade de que o universo seja finito, mas ilimitado e a possibilidade de o espaço e o tempo se esmagarem, deixando de existir.
“Estas considerações levou-nos a conceber teoricamente o universo real como um espaço curvo, de curvatura variável no espaço e no tempo, de acordo com a densidade de distribuição da matéria, susceptível, porém, quando considerada em larga escala, de ser tomado como um espaço esférico. Esta concepção tem, pelo menos, a vantagem de ser logicamente irrepreensível, e de ser aquela que melhor se cinge ao ponto da teoria da relatividade geral”.
E ao criticar a teoria do tempo absoluto, Einstein vai mostrar que à medida que o deslocamento de um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa aumenta mais rapidamente, de forma que gasta mais energia para aumentar sua velocidade. Por isso, possivelmente não poderia atingir a velocidade da luz, pois deixaria de ter massa intrínseca. O importante dessa teoria é ter modificado a compreensão de tempo e de espaço. Antes, considerava-se que a velocidade da luz era a distância que ela percorre, dividida pelo tempo que leva para fazer isso. Agora, compreendemos que a velocidade pode ser a mesma, mas não a distância percorrida. A partir da teoria da relatividade, o conceito de simultaneidade, ou seja, da existência de um mesmo momento em dois lugares diferentes, deixou de ter qualquer significado em termos de universo. Em linguagem da física da relatividade o tempo gasto é a velocidade da luz multiplicada pela distância que a luz percorreu. Temos então várias medidas de tempo, ou seja, medições diferentes entre dois eventos ou espaços. Gênesis nos apresenta este conceito de tempo com “yom” que aparece como não-determinação-quando em Gênesis 3.5; não-determinação-período em Gênesis 1.14,16 e18; não-determinação-época em Gênesis 2.4. Deixamos de ter, então, dois conceitos separados e absolutos: o tempo e o espaço, para termos um, o espaço-tempo. Ora, um evento é algo que acontece num determinado ponto do espaço e logicamente num tempo também determinado. Só que não há separação entre essas duas unidades. Uma das premissas da teoria da relatividade, conforme expõe Hawking, é que o tempo corre mais lentamente perto de um corpo volumoso. Assim, na Terra, para tomarmos um exemplo que nos interessa, o tempo é mais lento que em outros planetas ou luas de menor massa. Isto porque existe uma relação entre energia da luz e sua freqüência. Quanto maior a energia, maior a sua freqüência. Dessa maneira, à medida que a luz percorre verticalmente o campo gravitacional da Terra perde energia e sua freqüência diminui. Em outras palavras, espaço e tempo são quantidades dinâmicas. Quando um corpo se move no universo afeta a curva do espaço-tempo e, por sua vez, a curva do espaço-tempo afeta a forma como os corpos se movem e as forças atuam. Só que, e esse conceito é importante para a relatividade geral, não há como falar de espaço-tempo fora dos limites do universo. Essa premissa é interessante, pois descarta a idéia de um universo imutável, que sempre existiu, para trabalhar com a possibilidade de um universo que teve início, é plástico e encontra-se em expansão.
Ora, o que Gênesis está mostrando é que o universo teve início e construção.
“Não há nenhum paralelo bíblico aos mitos pagãos que relatam a morte de deuses mais velhos (ou poderes demoníacos) pelos mais jovens; não se acham presentes nos tempos primevos quaisquer outros deuses. As batalhas de Iaveh com monstros primevos, aos quais é feita ocasionalmente alusão poética, não são lutas entre deuses pelo domínio do mundo. As batalhas de Iaveh com Raabe, o dragão, Leviatã, no mar, a serpente veloz, etc., não são esclarecidas pela referência ao mito da derrota de Tiamat por Marduque e sua subseqüente tomada do poder supremo”.
Assim, para a teoria da relatividade o universo tem começo como singularidade, que ficou conhecida como big bang e deverá ter um final também singular, o colapso total ou big crunch. De certa forma, o big crunch nos remte ao texto de Pedro: “Ora, os céus e a terra estão reservados pela mesma palavra ao fogo. O dia do Senhor chegará como ladrão e então os céus se desfarão com estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra, juntamente com suas obras, será consumida” (2ª. Pedro 3.7 e 10). Só que, como o espaço-tempo é finito, mas sem limites, o big crunch poderia levar a uma concentração de energia tal, que possibilitaria a formação de um novo universo. E essa hipótese nos leva ao apocalipse de João: “Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram...” (Apocalipse 21.1), mas também a Hawking:
“De forma semelhante, se o universo explodisse novamente, deveria haver um outro estado de densidade infinita no futuro, o big crunch, que seria o fim do tempo. Mesmo que o universo como um todo não entrasse novamente em colapso, haveria singularidades em algumas regiões determinadas, que explodiriam para formar buracos negros. Essas singularidades seriam o fim do tempo para quem ali caísse. Na grande explosão e demais singularidades todas as leis são inoperantes. Então, Deus ainda teria tido completa liberdade para escolher o que aconteceu e como o universo começou”.
Ora, como a expansão do universo implica em perda de temperatura, que é uma medida de energia, quando o universo dobra de tamanho, sua temperatura cai pela metade. Assim, quando Deus cria o universo, supõe-se que tinha tamanho zero e temperatura infinitamente quente. Mas à medida que se expande, a temperatura cai. Isso explica porque o universo é tão uniforme, e parece igual mesmo nos diferentes pontos do espaço. Uma das conseqüências, caso consideremos o fiat divino como o big bang, é que a partir da grande explosão não houve tempo de a luz se deslocar por ilimitadas distâncias. É por isso que Gênesis apresenta em primeiro lugar tohu e bohu, as trevas e o abismo, e só no versículo três o surgimento da luz.
É interessante ver que uma das possibilidades que alguns físicos baralham, um pouco a contragosto, é a de que Deus escolheu a configuração inicial do universo por razões que não temos condições de compreender. Consideram que os acontecimentos do surgimento do universo não se deram de forma arbitrária, mas refletem uma ordem comum. Hawking, que não é teólogo, mas físico, opta por uma variável que chama limitação caótica ou escolha ao acaso. Dentro desse ponto de vista, o universo primordial surgiu como caos. Ora a segunda lei da termodinâmica mostra que há essa tendência no universo, e que a ordem e o equilíbrio, ou seja, a vida, que é a forma mais organizada da matéria, surge como oposição a este caos. Einstein uma vez perguntou que nível de escolha Deus teria tido ao construir o universo? Para Hawking, se a proposta do não limite for correta, ele não teve qualquer liberdade para escolher as condições iniciais. Teria tido a liberdade de escolher as leis a que o universo obedece, mas isso não significaria um grau tão grande de escolha. “Pode ter sido apenas uma, ou um pequeno número de teorias completas unificadas, tal como a teoria do filamento heterótico, que são autoconsistentes e permitem a existência de estruturas tão complexas quanto os seres humanos, que podem investigar as leis do universo e fazer perguntas acerca da natureza de Deus”.
Prigogine e Stengers acrescentam a esta discussão, o conceito de entropia, que nos guia na compreensão do processo vivido pelo universo – será de expansão ou de retração? --, pois “toda variação da entropia no interior de um sistema termodinâmico pode ser decomposta em dois tipos de contribuição: a entrada exterior de entropia, que mede as trocas com o meio e cujo sinal depende da natureza dessas trocas, e a produção de entropia, que mede os processos irreversíveis no interior do sistema. É essa produção de entropia que o segundo princípio define como positiva ou nula”. O conceito de entropia é mais bem entendido quando nos lembramos que as leis científicas não distinguem entre as direções para frente e para trás do tempo. Embora, segundo Hawking, haja pelo menos três setas de tempo que distinguem o passado do futuro, que são a seta termodinâmica, direção do tempo em que a desordem aumenta; a seta psicológica, direção do tempo na qual se recorda o passado e não o futuro; e a seta cosmológica, direção do tempo em que o universo se expande mais do que se contrai. A seta psicológica é essencialmente a mesma que a termodinâmica, de modo que ambas sempre apontam para a mesma direção. “A proposta do não limite para o universo prevê a existência de uma seta termodinâmica do tempo bem definida, porque o universo deve começar num estado plano e ordenado. E a razão por que se observa esta seta termodinâmica se adequar à cosmologia é que os seres inteligentes só podem existir na fase de expansão”. Assim podemos dizer que há uma adequação das setas termodinâmica e cosmológica, pois podemos olhar para trás e ver tohu e bohu. Somos presentes, o que segundo Hawking significaria que o universo se encontra predominantemente em expansão.
Mas a física não parou aí e outros cientistas a partir do estudo do microcosmo levantaram a hipótese da não causalidade dos movimentos dos elétrons dento do átomo. Ou seja, esses movimentos não teriam causas definidas, donde podemos trabalhar apenas com previsões sobre tais movimentos. Ora, se tal fato for real, todo o universo pode mudar de um estado a outro, ou seja, de expansão à retração num espaço-tempo não previsível por nós. Einstein discordou, e disse que Deus não jogava dados com o universo, ou seja, na física não haveria lugar para a sorte. Einstein dará combate às teses da não causalidade na mecânica quântica, defendidas pelas escolas de Copenhagem e Gottingen, afirmando que não podia suportar a idéia de que “um elétron exposto a um raio de luz possa, por sua própria e livre iniciativa, escolher o momento e a direção segundo o qual deve saltar. Se isso for verdade, preferia ser sapateiro ou até empregado de uma casa de jogos em vez de ser físico”. Mas a física quântica foi conquistando terreno. Em 1944, Einstein voltou à carga: “Nem sequer o grande sucesso inicial da teoria dos quanta consegue convencer-me de que na base de tudo esteja o indeterminismo, embora saiba bem que os colegas mais jovens considerem esta atitude como um efeito de esclerose. Um dia saber-se-á qual destas duas atitudes instintivas terá sido a atitude correta”. E a questão continua em aberto.
Guardadas as devidas proporções, Agostinho, pai e mestre da igreja cristã, também considerou que o caos transcendia o tempo.
“E por isso o Espírito, Mestre do vosso servo, quando recorda que no princípio criaste o céu e a terra, cala-se perante o tempo. Fica em silêncio perante os dias. O céu dos céus, criado por Vós no princípio, é, por assim dizer, uma criatura intelectual, que apesar de não ser coeterna convosco, ó Trindade, participa, contudo, da vossa eternidade. Sem movimento nenhum desde que foi criada, permanece sempre unida a Vós, ultrapassando por isso todas as volúveis vicissitudes do tempo. Porém, este caos, esta terra invisível e informe não foi numerada entre os dias. Onde não há nenhuma forma nem nenhuma ordem, nada vem e nada passa; e onde nada passa, não pode haver dias nem sucessão de espaços de tempo”.
O bispo de Hipona faz uma separação, não somente neste texto, entre os céus dos céus, uma dimensão além dos limites da ciência, e “o nosso céu e a nossa terra” (universo), que segundo ele é terra. Para ele é totalmente compreensível que essa terra fosse “invisível e informe”, pois estava reduzida a um abismo sem luz, exatamente porque não tinha forma. Diríamos hoje, não há espaço-tempo. E tenta uma definição, apesar de alertar para suas limitações: “certo nada, que é e não é”. Interessante, Nissi ben Noach disse praticamente a mesma coisa. E Hawking concorda:
“O conceito de tempo não tem significado antes do começo do universo. O que foi apontado pela primeira vez por Agostinho, quando indagou: O que Deus fazia antes de criar o universo?”
Consideramos que existem três grandes teorias cristãs sobre a criação: tudo é criação original; teoria da brecha; e teoria do caos. A partir dos caminhos percorridos, gostaria de fazer alguns acréscimos à teoria do caos que prefiro chamar de teoria do caos e da complexidade:
- O versículo primeiro de Gênesis Um está fora do espaço-tempo. Nesse sentido refere-se à dimensão divina do céu dos céus conforme explicita Agostinho. A criação do espaço-tempo começa com o próprio caos, que não deve ser entendido como negação ou pura ausência, mas como entropia. É ex nihilo enquanto universo espaço-temporal que surge enquanto realidade de Deus que repousa naqueles quatro conceitos enumerados por Noach: determinação, proclamação, trabalho e ordem.
- O tempo dos primeiros versículos de Gênesis Um não é cronológico no sentido que conhecemos hoje. Antes, é o tempo da ordem/organicidade de Deus, ou se quisermos kairós. Isso é explicável porque não há um tempo, mas diversos tempos. A criação implica na expansão do espaço-tempo. Assim o espaço-tempo de Gênesis 1.3 é totalmente diferente do espaço-tempo de Gênesis 1.12.
- Toda discussão que tente uma polaridade entre evolução ou criação de seis dias de vinte e quatro horas não procede. Isto porque o espaço-tempo entre os seis dias não são iguais. Há criação e expansão dinâmica, o que na Bíblia traduz-se em criação e sustentação. “És tu, Iaveh, que és o único! Fizeste os céus, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, os mares e tudo o que eles encerram. A tudo isso és tu que dás vida, e o exército dos céus diante de ti se prostra”. Neemias 9.6.
Concluímos estas travessias de Gênesis Um esperando que os leitores tenham compreendido a importância de novas leituras hermenêuticas, em especial duas delas, a hermenêutica da complexidade e a hermenêutica crítica das ideologias.
A antropologia da imagem de Deus
O shemá era a oração que duas vezes por dia os judeus elevavam ao Eterno. Essa prece reconhece Deus como único e diz que deviam amá-lo com todo leb, com toda nefesh e com toda meod, conforme Deuteronômio 6.5.
Leb e lebab, que os gregos traduziram por cardia e nós por coração, nos falam dos movimentos do corpo humano. Leb e sua variante lebab ocorrem 858 vezes nas Escrituras hebraicas, das quais 814 se referem ao coração humano. Expressam a noção antropológica de que somos movidos por sentimentos e emoções que movimentam e dirigem nossos membros e corpo. Têm a realidade anatômica e as funções fisiológicas do coração enquanto expressões das atividades do ser humano, que levam às disposições de ânimo como alegria e aflição, coragem e temor, desejo e aspiração, e também às funções intelectuais como inteligência e decisão da vontade, que na cultura ocidental atribuímos ao cérebro. Nas passagens do livro de Gênesis que nos falam do leb constatamos que a antropologia se apresenta como uma psicologia teológica. Assim, leb tem um significado antropológico que fala daqueles aspectos que nos levam aos movimentos do sentir, do querer e do agir, que compõem a personalidade humana.
Meod, que os gregos traduziram por dynamis e nós por força, aparece trezentas vezes nas Escrituras hebraicas, e traduz a idéia de intensidade e abundância. Em alguns textos, como no caso do crescimento do povo hebreu no Egito, meod aparece ligado à idéia de reprodução, de muitos filhos, o que nos leva a uma compreensão diferente do termo dynamis em grego, que nos fala de uma força física externa ao ser humano. Em hebraico podemos entender meod como potência, aquela força, aquela energia que faz de nós seres criadores, tanto no sentido biológico como intelectual. Seria potência que identifica o ser humano, capacidade de gerar que faz o humano crescer e multiplicar-se.
Mas, nefesh, que os gregos traduziram por psyché, mas que significa garganta, respiração, fôlego, pessoa, vida e alma, sem dúvida, nos fala da plenitude daquilo que é humano, conforme encontramos em Gênesis 2.7. Dessa maneira, nefesh possibilita um rico diálogo com o texto de Gênesis e nos permite uma reconstrução dos significados da natureza humana.
A expressão nefesh leva a uma concepção de exterior versus interior, que tem por base Deuteronômio 32.9, quando afirma que “uma parte de Iaveh faz seu povo”. Mobiliza assim em diferentes níveis essa força criacional, que constitui uma parte de Deus. A matéria-prima utilizada por Deus na modelagem humana é ordinária, enquanto material pertencente a ordem comum de “ló nefesh”: inanimados e animais. É o sopro de Deus que faz especial essa matéria ordinária. Mas será que estamos somente diante de um símbolo ou, de fato, a força criacional de Deus transmite à matéria ordinária não somente vida, mas transfere intensidade e profundidade? De certa maneira, não é absurdo dizer que os seres celestiais são criaturas integralmente espirituais. Sua existência procede do exterior da força criacional de Deus. A exteriorização traduz-se no fato de que a força criacional se dá através da palavra, da palavra criadora de Deus. Nesse sentido, nefesh procede da interioridade de Deus e por isso é conhecida como “ein sof”, que vem de seu interior. “Ele soprou” deve ser entendido como continuidade da afirmação anterior “façamos o ser humano” (Gênesis 1.26), de maneira que nefesh liga céu e terra, o que está acima e o que está abaixo. Por isso, dizemos que a natureza humana é superior à natureza angélica, porque procede da interioridade de Iaveh. Traduz ação mediadora e conjuntiva da força criacional. Donde, a natureza humana procede de atributos divinos não ostensivos, discretos, que se traduzem em integridade holística, pluralidade social, sabedoria, compreensão e abertura à transcendência. Nefesh entende-se e revela-se enquanto natureza que se torna compreensível e inteligível. É transbordamento e transparência do Espírito de Deus, que indica transbordamento e transparência no humano, daquilo que relaciona o que está em cima com o que está em baixo. Da leitura de Gênesis 2.7 podemos constatar que o texto fala de respiração e daquilo que o humano passa a ser: ele não tem uma nefesh, ele passa a ser uma nefesh.
O texto e o pensamento literário dos hebreus são sintéticos. Daí que a chave para chegarmos a uma compreensão analítica dele exige identificar com que parte do corpo o ser humano pode ser comparado e onde o agir humano faz interface com nefesh, utilizando para isso textos que apresentam diferentes sentidos de nefesh. Embora a expressão nefesh apareça 755 vezes nas Escrituras hebraicas e seja traduzida 600 vezes na Septuaginta por “psyché”, garganta e estômago podem ser tomados por paradigma e transmitem a idéia de necessidade, de algo difícil de ser saciado. Nesse sentido, a palavra alma nos dá uma tradução incompleta, pois a idéia é que “Iaveh Deus formou o ser humano do pó da terra e insuflou em suas narinas o seu hálito e o ser humano se tornou um ser vivente que necessita Dele para ser saciado”.
Nefesh não traduz algo bom ou mal, mas a realidade das necessidades fundamentais e imprescindíveis da alma humana, que ao não serem ou não estarem preenchidas por Deus produzem alienação, individualismo, descrença, ignorância e idolatria. Mas como o sopro de Deus pode ter gerado um ser humano com tal índole de insaciabilidade? Se entendermos a nefesh como o órgão das necessidades vitais, dos movimentos emocionais da alma, somos levados a entender o pensamento sintético hebreu ao ver a nefesh como síntese da própria vida. Assim, as necessidades humanas criadas pelo próprio Deus só podem ser saciadas por Ele.
“Quem me encontra, encontrou a vida e alcançou benevolência de Iaveh. Quem não me acha, faz violência à sua nefesh. Todos os que me odeiam, amam a morte”. Provérbios 8.39 e seguintes.
No relato de Gênesis 2.7 o ser humano é definido como nefesh hayah, um ser vivente, que necessita ser saciado. Quando integrado ao seu Criador, nefesh é transbordamento e transparência do Espírito de Deus, que indica transbordamento e transparência no humano, daquilo que relaciona o que está em cima com o que está em baixo. Mas essa natureza também se vai constituir enquanto expansão dos significados da imagem de Deus, em graça e amor. “Ele soprou” traduz o fato de que as coisas do intelecto e do coração expressam-se através dos órgãos da fala, em especial, garganta e boca, que possibilitam o sopro. Nefesh como substantivo ganhou vários sentidos, sendo garganta um deles, e assim é usado em Provérbios 23.2, quando diz “põe uma faca à tua garganta, se fores uma pessoa de grande apetite”. A garganta ou goela é por onde entra e sai a respiração, o ar. O ser vivente, então, ganhou a designação nefesh, ser respirador. No caso do humano refere-se basicamente à forma que o espírito e a inteligência, sem forma em si, assumiu ao animar o corpo. Esse padrão simboliza a interioridade da natureza humana. Portanto, para que o humano possa dar intensidade e profundidade a sua inteligência precisa de amor e graça, que nascem da interioridade de Iaveh. Em Gênesis 2.7, “ele soprou” significa que Aquele que soprou o fez numa determinada direção e com objetivo definido. Aqui, direção e objetivo traduzem destinação.
Esse é o destino do humano: ter sua nefesh integralmente saciada por seu Criador e a partir daí relacionar-se com Ele, com o universo, com seus semelhantes e consigo mesmo. Nesse caso, temos uma nefesh em equilíbrio, plena do Espírito de Deus, o que se traduz em integridade holística, pluralidade social, sabedoria, conhecimento e abertura à transcendência. A ruptura dessa integridade produz alienação, individualismo, descrença, ignorância e idolatria. A antropologia da nefesh em Gênesis nos fala sobre a imagem de Deus e nos dirige a uma pesquisa teológica do humano, da humanidade, da pessoa e da comunidade, da pessoa e da ordem social, da pessoa enquanto excluído, da pessoa enquanto eleito, da humanidade e seu destino, ou seja, da vida para o mundo, do amor para o próximo e da criação para todos.
Diante disso, devemos nos perguntar que princípios podem nortear tal pesquisa teológica? Sem dúvida, o princípio arquitetônico, enquanto revelação, fé objetiva, base e eixo da teologia. E logicamente o princípio hermenêutico, ou seja, a interpretação dos aspectos históricos e lingüísticos dessa revelação. Devemos partir, logicamente, da razão filosófica, que produz ordenação, mas não devemos esquecer a razão científica, enquanto leitura fenomenológica da natureza da antropologia e nem da razão ordinária, enquanto universalidade do senso comum. É bom lembrar, que toda análise metodológica, consciente ou inconscientemente, no correr da história da teologia, tem levado inexoravelmente a diferentes compreensões do fato teológico. Isto porque o princípio arquitetônico depende do que colocamos como base da estruturação geral da revelação e porque o princípio hermenêutico parte sempre de uma ou de múltiplas visões filosóficas que podem ser utilizadas como instrumentos de interpretação da história da revelação. Ou seja, quer queiramos ou não, a ideologia define a hermenêutica, pois o saber sempre está sob o risco de ser arrebatado pela ideologia, já que a ideologia permanece à espreita enquanto código de interpretação. Enquanto intelectuais temos amarras, pontos de apoio, somos transportados pela substância ética.
Aqui reside a dificuldade, toda teologia é transitória. Reflete um momento de compreensão da revelação e de sua história. Mas, em nosso trabalho, utilizaremos a antropologia que as Escrituras nos oferecem como um instrumental hermenêutico para compreender o homo brasiliensis. Isto porque embora não seja antropologia, a teologia nos oferece um roteiro antropológico legítimo. No centro da fé cristã se encontra Jesus Cristo, Deus e ser humano, revelador do divino e do humano. E se a teologia fala da divindade, ela fala a homens e mulheres, fala sobre um Deus que encarnou e que ama os homens e mulheres. Está a serviço do humano. Não podemos fugir a essa realidade, por isso, teologicamente, nosso objetivo é fazer a partir da própria compreensão do humano uma leitura da imagem de Deus que responda aos questionamentos e necessidades teológicas das brasilidades.
No livro das origens lemos: “agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão”. (Gênesis 1.26). Ora, se todo o universo é o mundo do ser humano, conforme afirmam os dois relatos da criação e o salmo oito, em que sentido o ser humano é a imagem de Deus? Como Deus conferiu ao humano essa correspondência?
A partir da antropologia bíblica podemos ver que em primeiro lugar o homo sapiens é fruto de uma intervenção de Deus. Há uma concessão de encargo que diferencia o ser humano do resto da criação. Ele é apresentado como um momento sublime, especial, como um ser que coroa toda a ação criadora de Deus. Ele recebe responsabilidade e poder de decisão. Em relação a esta discussão, considero elucidativa a exposição que apresenta a imagem de Deus através de três concepções: substantiva, ou seja, física e psicológica; relacional, ou seja, com um tropismo à transcendência e possibilidade de relacionamento com Deus; e funcional, que se dá através da ação cultural do ser humano. Acredito, porém, que privilegiar uma dessas concepções em detrimento das outras duas é perder a riqueza do ser humano enquanto imagem de Deus. Por isso, aqui correlacionamos as três concepções, já que formam uma totalidade. Em segundo lugar, Deus deixa claro a finalidade da decisão de criar um ser pessoal, segundo sua imagem. Tal ser deverá ter uma relação especial com o restante da criação. Deus cria e entrega ao ser humano sua criação. Este ser pessoal deverá estar sobre ela, numa relação de trabalho, produção e administração. O ser humano relaciona-se com a criação e através do uso e de suas descobertas em relação a ela, mantém uma permanente relação com Deus. Em terceiro lugar, a imagem de Deus é traduzida na relação que mantém com as criaturas, já que é uma relação de domínio. Ele reina sobre o universo produzido pelo poder criador de Deus. Mas aqui há um detalhe sutil: este direito de domínio não lhe é próprio, ele reina enquanto imagem de Deus. Ele não é proprietário, nem tem autonomia irrestrita sobre a criação. Imagem de Deus traduz também abertura à transcendência. Aqui estão dados os elementos que nos permitem entender porque faz parte da humanidade o abrir-se à transcendência e viver com ela. Há um deslumbramento permanente diante do absoluto, do sobrenatural e do mistério. Estamos diante de um ser que pode pensar o que não está aqui e agora, e que pode refletir sobre o que vai além da realidade factual. E é por poder pensar tais realidades que não podem ser vistas, que o ser humano enquanto imagem de Deus pode refletir sobre a eternidade e relacionar-se com o transcendente. Assim, ao ser feito imagem de Deus, o próprio Deus transfere à humanidade a capacidade de relacionar-se com Ele.
Adão é um ser plural. Esse ser humano de que fala Gênesis 1.26, que deve ser uma imagem de Deus, não é uma pessoa em particular, pois a continuação do texto fala que eles dominem. Assim, estamos diante da criação da humanidade e o domínio do universo não é dado a uma pessoa, mas a comunidade dos homens. Ninguém pode ser excluído da autoridade de domínio dada por Deus à humanidade. Da mesma maneira, em Gênesis 1.27 temos uma outra característica fundamental dessa mesma humanidade: ela é formada por homens e mulheres. Para alguns teólogos, como Karl Barth, tal explicação de Gênesis 1.27b, de uma humanidade formada por dois sexos, é apresentada por Deus “quase à maneira de definição”. Logicamente, há uma intenção para que o texto bíblico se aprofunde em tais minúcias. É a de apresentar como o universo criado deveria ser administrado: através da convivência de seres que se completam e se amam. Ou seja, esse ser plural só poderia exercer o domínio através da comunidade, completando-se como homem e mulher.
E para onde aponta o domínio? Todo o universo é o mundo do ser humano, por isso há a total desmitização da natureza. Não há astros divinos, terra divina, nem animais divinos. Todo o universo pode tornar-se o ambiente do ser humano, seu espaço, que ele pode adaptar às suas necessidades e administrar. E como ele consegue isso? Através da cultura, enquanto processo social e objetivo de sujeição da natureza, e através da necessidade de expansão e domínio, pessoal e subjetivo, que é peculiar a todo homem e mulher livres. Mas, o afastamento de Deus fez com que a humanidade perdesse sua capacidade de ser imagem de Deus viva e eficaz. Seu caráter inicial está distorcido e o mal perpassa todas suas ações. Assim, o ser humano lançou-se ao domínio de seus iguais, inclusive através do derramamento de sangue; suprimiu o equilíbrio e a mútua ajuda entre homem e mulher; mitificou a ciência e técnica; e lançou-se à destruição da própria natureza. Cristo é “a verdadeira imagem do Deus invisível” (Colossenses 1.15, cf. 2 Coríntios 4.4) e a Ele cabe fazer, a nível escatológico, aquilo que à humanidade tornou-se impossível. “Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, por isso, indo, fazei discípulos em todas as nações...” (Mt 28.18).
Linguagem, liberdade e mau encontro
Parto da definição de que a cultura é o conjunto integrado de costumes, crenças e instituições, como a arte, o direito, a religião, as técnicas da vida material ou, em outras palavras, os hábitos e aptidões apreendidas pelo ser humano enquanto membro de uma comunidade. Existem nesta definição duas grandes ordens de fatos, uma que diz respeito à imagem de Deus por tudo que somos, desde nosso nascimento, como características legadas por nossos pais e ancestrais, à qual se liga à biologia e à psicologia; e, de outra parte, todo o universo onde vivemos enquanto membros de uma sociedade.
O teólogo, armado de uma hermenêutica antropológica, procura fazer na ordem da cultura interpretação idêntica àquela que o cientista faz na ordem da natureza, na medida em que trata de necessidades fundamentais e de necessidades cujas origens estão na imagem de Deus e por isso são idênticas no seio da espécie homo sapiens. Ao teólogo que se faz filósofo, interessa o geral, mas não pode esquecer as modulações, diferentes segundo as comunidades e as épocas, que se impuseram a uma matéria-prima, por definição, sempre idêntica e presente em todos os lugares. Assim, para o teólogo, como para o antropólogo, um dos pilares de discussão é a linguagem, pois ela faz a ponte entre as características e necessidades estruturais da imagem de Deus e o fato cultural. É uma característica, uma aptidão que vem da tradição externa, mas ao mesmo tempo é instrumento essencial, o meio privilegiado que dá possibilidade à realização da imagem de Deus na humanidade. Mas, ao mesmo tempo em que é a mais perfeita manifestação da ordem cultural, e, nesse sentido, manifestação histórica, permite o estabelecimento de um relacionamento coerente e lógico entre o ser humano e seu Criador.
É verdade, no entanto, que o uso da linguagem na análise da imagem de Deus é mais complexo que em relação a outras formas estéticas, já que usa e combina não somente elementos fornecidos pela linguagem propriamente dita, mas também elementos brutos, que por assim ser estariam fora da cultura. A revelação, e a imagem de Deus faz parte da revelação, não pode ser identificada apenas como “expressão” do Criador, nem somente com os estados que provoca nos sujeitos receptores. Cada estado de consciência subjetiva tem algo de individual e momentâneo que o torna inapreensível e incomunicável em seu conjunto, mas a revelação está destinada a servir de intermediário entre seu autor e a comunidade. A linguagem enquanto representação da revelação no mundo sensível, sem nenhuma restrição, é acessível à percepção de todos. Mas, ainda assim, não podemos reduzir a revelação à linguagem, pois acontece que a revelação, deslocando-se no espaço e no tempo, muda de aspecto e reformata conteúdos: tais mudanças tornam-se palpáveis, por exemplo, quando comparamos os conteúdos originais de nefesh com os conteúdos transmitidos pela “psyché” da cultura grega. A linguagem traduz na maioria das vezes apenas o significante, ao qual na consciência da comunidade corresponde uma significação, dada pelo que têm de comum os estados subjetivos provocados pela linguagem nos membros da comunidade.
Além desse núcleo central, pertencente à consciência da comunidade há em todo ato de percepção da revelação elementos psíquicos subjetivos, que podem ser entendidos como fatores associativos de percepção emocional e estética. Tais elementos subjetivos podem, por sua vez, ser objetivados, mas somente na medida em que sua qualidade geral ou sua quantidade são determinadas pelo núcleo central, situado na consciência da comunidade. Assim, por exemplo, o estado de nefesh, subjetivo, que acompanha em não importa qual indivíduo a percepção de uma revelação específica – como a circuncisão da comunidade liderada por Abraão – é de um gênero inteiramente diverso daqueles estados que a circuncisão em si evoca.
Quanto às diferenças qualitativas, é evidente que a quantidade de representações e emoções subjetivas é mais considerável numa revelação em construção do que naquela que já foi conscientizada coletivamente. O primeiro momento da construção da revelação deixa a cargo do ser humano imaginar quase toda a contextura do tema, enquanto que a revelação conscientizada pela comunidade suprime quase por completo a liberdade de suas associações subjetivas pela enunciação concisa. É desta maneira que, indiretamente, através do núcleo pertencente à consciência da comunidade que os conteúdos subjetivos do estado psíquico do sujeito perceptor adquirem um caráter objetivamente semiológico, similar ao que têm as significações acessórias de uma palavra. Ao negarmos a relação existente entre a revelação com um estado psíquico subjetivo rejeitamos a realidade estética da revelação. Sem esses conteúdos emocional e estético a revelação pode no máximo atingir uma objetivação indireta na qualidade de significação acessória potencial. Porém, não podemos dizer que esses conteúdos emocional e estético fazem necessariamente parte da percepção da revelação, mas, sem dúvida, no processo progressivo da revelação há épocas em que esses conteúdos tendem a reforçá-la, assim com há outras épocas em que perdem força ou mesmo, aparentemente, desaparecem.
É no contexto dos fenômenos sociais que a revelação, enquanto fenômeno social distintivo, é capaz de caracterizar e representar época e história. Por isso, não podemos confundir história da revelação com história da cultura, pois a história humana acontece como subconjunto da história da revelação. É verdade que a relação entre revelação e contexto social muitas vezes nos parece mal amarrada. Quando dizemos que a revelação visa a transformação definitiva do contexto social, não afirmamos com isso que ela coincide necessariamente com ele, mas que como signo, tem sempre uma relação indireta com o contexto social, mesmo enquanto metáfora. Assim, da natureza semiológica da revelação decorre que jamais uma revelação específica deve ser explorada como documento histórico ou sociológico sem a interpretação prévia de seu valor documentário ou da qualidade de sua relação com o contexto dado de fenômenos sociais. Dessa maneira, o estudo objetivo dos fenômenos da revelação deve considerar cada revelação específica como um signo composto de símbolo sensível criado por Deus; de uma significação ou objeto estético e emocional depositada na consciência da comunidade; e de uma relação com a realidade significada, relação esta que visa o contexto social. O segundo desses componentes contém a estrutura propriamente dita da revelação. Ao lado da função de signo autônomo, a revelação tem ainda a função de signo comunicativo. Assim, uma revelação dada – voltemos ao exemplo da circuncisão da comunidade dirigida por Abraão – não funciona somente como revelação, mas também como fala que exprime um estado da nefesh, pensamento, emoção, etc. A revelação tem, portanto, uma dupla função semiológica, autônoma e comunicativa. Por isso, vemos aparecer no movimento progressivo da revelação a antinomia dialética da função de signo autônomo e de signo comunicativo. A história da aliança (Gênesis 15 e 17) oferece exemplos expressivos dessa verdade.
É lógico que não podemos separar ou opor imagem de Deus e cultura, pois se entendermos por revelação o conjunto das manifestações da divindade no universo no qual vivemos, é claro que a cultura faz parte da imagem de Deus. Quando opomos imagem de Deus e cultura, tomamos o termo imagem de Deus num sentido mais restrito, de conteúdo apriorístico. Nesse sentido, imagem de Deus e cultura se antepõem porque a cultura não provém do conteúdo apriorístico, mas da tradição externa, isto é, da educação. Mas podemos dizer que a cultura em si, o fato de que existem homens, de que esses homens falem, sejam organizados em comunidades que se distinguem uma das outras por costumes e instituições diferentes, tudo isso é parte da imagem de Deus, e mais do que isso, é unidade e homogeneidade da imagem de Deus. A nós cabe delimitar um setor de atuação dentro do conjunto de fenômenos culturais que nos interessa pesquisar em relação à antropologia de determinada sociedade ou grupo social. Essa setorização, que só é possível através da linguagem, possibilitará destacar os elementos de descontinuidade entre imagem de Deus e cultura. E do ponto de vista metodológico é exatamente a descontinuidade que deve delimitar nosso campo de estudo.
Nessa descontinuidade, se por um lado temos cultura e linguagem, por outro temos a questão da autonomia da consciência humana, já que o risco calculado de Deus ao criar o homo sapiens à sua imagem e semelhança consistiu em conceder liberdade ao ser humano como pessoa. O ser humano poderia usar essa liberdade para retribuir o seu amor a Deus, seu Criador, oferecendo-se a ele em adoração e serviço. Mas no dom da liberdade, fruto do amor e graça de Deus, estava contida outra possibilidade, a de decidir se opor a Deus e fazer-se a si próprio o alvo de seu amor. A queda consiste nisso, na decisão do ser humano de opor-se a seu Criador. Essa rebelião leva ao abuso da dignidade própria e à distorção da aliança de seu ser à imagem de Deus, colocando-se a si próprio contra Deus, como centro de seu querer e amor, para ser como Deus. Ou como disse Etienne La Boétie,
“que mau encontro foi esse que pode desnaturar tanto o ser humano, o único nascido de verdade para viver francamente, e fazê-lo perder a lembrança de seu primeiro ser e o desejo de retomá-lo?”.
E Pierre Clastres, analisando o texto desse libertário do século 16, que influenciou o pensamento protestante francês, afirma que mau encontro é um acidente trágico, um azar inaugural cujos efeitos não cessaram de ampliar-se, a tal ponto que foi abolida a memória do antes, a tal ponto que o amor da servidão substituiu o desejo de liberdade. Assim, para La Boétie, a passagem da liberdade à servidão deu-se sem necessidade e, desde então, nos vemos obrigados a pensar esse mau encontro. Antropologicamente, mau encontro é corrupção da liberdade do ser humano por ele próprio que, por essa corrupção, se coloca em estado de servidão voluntária. Teologicamente, definimos como a opção do ser humano de não mais confiar a Deus sua vida, mas deixar-se dominar por suas próprias paixões. O entendimento do mau encontro será usado aqui como categoria teológica que traduz as disfunções da imagem de Deus na espécie humana, como as alienações espiritual, psicossomática, sociológica e alienação antropo-ecológica. Mas também enquanto rebelião que passa a fornecer base para a antropologia teológica, já que o mau encontro é crise da liberdade humana.
Na modernidade, a ciência esqueceu que o mau encontro e a degradação da autonomia da consciência humana, assim como a ativação do ser pessoal do humano num sentido contrário à vontade de seu Criador como introdutores da desordem no relacionamento de todo o universo de Deus. A revolta do ser humano contra Deus teve como conseqüência o entorpecimento da responsabilidade e da materialidade do mundo, dando à morte poder sobre o ser humano. Criou distorção na primitiva relação de equilíbrio da imagem de Deus e produziu no ser humano o conflito entre o espírito e o corpo, conflito que não remonta à estrutura original do ser humano, mas se relaciona com a rebelião do ser humano contra Deus. Criou distorção na relação de equilíbrio da imagem de Deus e inverteu a relação entre espírito, alma e corpo, gerando conflitos que tiveram origem no base do distanciamento do ser humano em relação a Deus. O distanciamento do ser humano, que entorpece sua liberdade, nos leva à compreensão do Cristo como figura histórica que representa o penhor de redenção do ser humano, conforme João 1.4. Assim, dois elementos fazem parte da compreensão da encarnação: o primeiro deles é a absoluta irrepetibilidade do acontecimento; e o segundo é o fato material de que o próprio Deus, como ser humano, como membro de uma família, de uma comunidade, de um tempo, entra na corporabilidade, na materialidade da história da humanidade, criando no meio dela a semente de uma radical transformação de todo o modo de ser do humano, abrangendo todas as esferas da natureza humana, material, psíquica e espiritual.
Na teologia cristã, teodicéia, termo cunhado por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), designa a doutrina que procura conciliar o amor e onipotência divinas com a existência do estado de alienação humano e suas conseqüências na vida humana e na natureza. E será a partir dessa doutrina que vamos analisar a questão da alienação, aqui entendida como mal e pecado. A palavra mal se refere aquilo que é nocivo, prejudicial, que fere, que é um estado mórbido, doença, angústia, sofrimento e desgraça. Temos, então, o mal moral, contrário ao caráter do Criador, produzido por agentes morais e temos o mal natural, conseqüência dos desequilíbrios da natureza: furacões, terremotos, epidemias e as seqüências degenerativas. As cosmovisões se posicionam diante da questão do mal de diferentes maneiras. Para alguns pensadores ateus e agnósticos o mal não existe. Jean-Paul Sartre, por exemplo, falará sobre o absurdo da existência. Mas, a posição clássica dos ateísmos humanista, positivista, marxista e mesmo existencialista, relativiza o mal sem, contudo, negá-lo. Assim para um militante comunista, o mal é o imperialismo norte-americano. Já para o panteísmo monista, como é o caso do hinduísmo e setores do budismo, tudo é deus, então nada é mal. Para essa cosmovisão, as coisas parecem más, mas isso é ilusão, pois não há mal.
Para o teísmo, o mal é uma realidade. Mas o teísmo tem muitas leituras, assim, para as correntes dualistas, existem duas forças opostas em equilíbrio, o bem e o mal. Para as correntes teístas finitistas, que negam atributos da divindade, Deus pode ser bom, mas não onipotente. Essa é a cosmovisão de setores do judaísmo contemporâneo. O problema dessa leitura é que apresenta um Deus com limitações, que não controla o universo. Outra afirmação do teísmo finitista é de que Deus pode ser onipotente, mas não é lá muito bom. Essa cosmovisão foi defendida por John Stuart Mill. O problema aqui é que esse Deus se contradiz, já que nas Escrituras Ele diz o contrário. Mas há ainda outras leituras teístas, como a de Irineu e John Hick que acreditavam que Deus criou um universo como lugar de provação e aperfeiçoamento. Aqui também temos um problema é que o conceito de resgate do ser humano diante do mal e do pecado deixa de ter significado, pois Deus é o único responsável pela condição do mundo.
Ora, em Gênesis 1.31; em Tiago 1.17 e em I Timóteo 4:4 vemos que o universo enquanto criação dinâmica é bom no sentido teleológico, ou seja, tem as qualidades adequadas à sua natureza ou função, e que Deus fez seres livres que tinham e têm opção de escolha. A impossibilidade de escolha diante do bem e do mal implicaria na remoção do livre arbítrio, conforme vemos em Habacuque 1.13; Tiago 1.13 e I João 1.5. Dessa maneira, a possibilidade da alienação tem origem no exercício do livre arbítrio dos seres espirituais, conforme Ezequiel 28.12-17, Isaías 14.12-15 e João 8.44, e dos seres humanos, conforme Gênesis 3.1-20 e Romanos 5.12-19. A liberdade de escolha era e é boa, enquanto liberdade dinâmica e progressiva, pois reflete a própria imagem do Deus criador. Mas, tecnicamente, o Criador é responsável pela possibilidade de degradação do livre arbítrio, mas não pela execução da separação, pois o mal moral e o mal natural são fruto do processo de deslocamento da imagem de Deus, é o que teologicamente chamamos de mau encontro, conceito antropológico criado por La Boétie e mais tarde utilizado por Pierre Clastres, que usamos como categoria que traduz as disfunções da imagem de Deus na espécie humana. Assim, o ser humano está alienado, separado, em relação a Deus, a si mesmo, aos outros homens e em relação à natureza, e esta consigo mesma.
Embora cientistas como Galileu, Francis Bacon, Isaac Newton, Pascal e Faraday não negassem a revelação, e Albert Einstein tenha afirmado que “Deus não joga dados com o Universo”, uma grande parte da ciência no século vinte apresentou-se como materialista. E ao negar a ação criadora de um Deus infinito e pessoal, o materialismo retirou a base para qualquer significado no universo. Então, o ser humano e a vida perderam o sentido maior, passaram a ser nada. Por isso, a questão da criação é fundamental para o estudo da alienação, pois posiciona o mal em condições e momentos diferentes, conforme a leitura que se faça de Gênesis.
Vejamos, então, como se dá na tradição judaico-cristã essa relação entre liberdade versus alienação. Nas Escrituras judaicas temos uma espiral conceitual na trindade aliança, fidelidade e constância, cujo centro epistemológico é a autonomia da consciência humana. Nas Escrituras cristãs o vértice da espiral é o conceito de destino.
Paralelamente ao pensamento hebraico, a cultura grega apresentou uma leitura diferente do conceito de destino, que traduzia a maneira de pensar e viver do helenismo. Na sua época, por razões apologéticas, o apóstolo Paulo apresentou um conceito de destino que resgatou e transcendeu o conceito veterotestamentário de aliança. Entre os gregos, a religião e o culto de mistérios traduziam uma luta contra o destino, numa tentativa de colocar-se acima dele. A origem dos cultos de mistérios não pode ser entendida quando os vemos apenas como mitos. Para o ser humano helênico a luta com o destino era inevitável porque o destino tinha qualidades demoníacas. Era um poder sagrado e destrutivo. Envolvia o ser humano numa culpa objetiva. Os cultos de mistério, dessa forma, ofereciam uma purificação das mãos de deuses que manipulando o destino excluía do ser humano qualquer possibilidade de liberdade. Assim, também a filosofia helênica, através do conhecimento, procurava elevar o ser humano à transcendência, despojando-o dos objetivos e formas da vida imediata, para lançá-lo através da abstração em direção ao ser puro. O mundo helênico era um mundo de culpa objetiva e castigo trágico e um profundo pessimismo atravessava todo o conhecimento, desde Anaximandro, passando por Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platão e Aristóteles. Apesar dessa visão trágica, os gregos eram apaixonados pela vida e é esse paradoxo que dará riqueza a essa que foi uma das mais expressivas culturas da humanidade. Mas, em última instância, a luta do filósofo permaneceu inalterada em todo o helenismo: superar o destino. E isso foi tentado através do domínio do pensamento, como forma de elevar-se acima da existência, já que no campo da ação e da transformação da existência é impossível superar o destino. No entanto, nunca essa meta foi alcançada. Possibilidade e necessidade foram conceitos chaves nas discussões do helenismo pós-platônico. Assim, o medo de demônios obscureceu o espírito helênico. O epicurismo tentou, em vão, libertar seus seguidores do medo, mas ao definir o conceito de possibilidade absoluta, ou azar, abriu o espaço para o medo em sua argumentação filosófica.
Dessa maneira, a filosofia grega caminhou para ceticismo, já que a busca de uma certeza transcendente para a existência humana se mostrou nula. Ao mesmo tempo, enquanto força sobre-humana do destino, as nações eram submetidas ao poderio romano. Diante desse destino trágico, o mundo helênico tinha necessidade da revelação. Ameaçado por um destino demoníaco, o mundo helênico ansiava por um destino salvador, necessitava de graça.
O cristianismo é a vitória sobre a idéia da força da matéria que se opõe eternamente ao ser humano, traduz a idéia de que o universo é uma criação divina. É a vitória da crença na perfeição do ser em todos seus aspectos sobre o medo trágico e a matéria que resiste hostil ao divino. É a negação radical do caráter demoníaco da existência em si. Dá a existência um valor essencialmente positivo e valoriza os acontecimentos da ordem temporal. Com o cristianismo, ao contrário do que pensava Anaximandro, a ordem do tempo não leva apenas ao transitório e perecível, mas também à possibilidade de algo totalmente novo, um propósito e um fim que dá pleno significado à vida humana. No cristianismo o tempo triunfa sobre o espaço. O caráter irreversível do tempo bom, kairós, substitui o tempo cíclico, transitório e perecível do pensamento helênico. A partir desse momento, destino outorga graça, que traz salvação no tempo e na história. O mundo helênico e sua interpretação da vida estão superados e com eles, a filosofia, a religião e os cultos de mistério. Antes, a filosofia buscava desesperadamente a revelação, agora a revelação apodera-se da filosofia dando origem à teologia. Assim, a teologia jogou fora o destino demoníaco e se apropriou de suas formas lógicas e de seus conteúdos empíricos. O transitório e perecível da filosofia helenística não teve importância na formação do pensamento ocidental, mas sim a idéia da criação divina do mundo e a fé numa providência divina, através da salvação que se constrói historicamente e acontece num tempo bom. E isso já não é helenismo, mas antropologia teológica cristã.
Mas voltemos um pouco atrás, para entendermos esse processo. Dentro da visão paulina, que traduz o pensamento cristão palestino, destino, no sentido de que os limites estão dados de antemão, é a lei transcendente na qual está imbricado o conceito de autonomia da consciência humana. Assim, destino também implica numa trindade conceitual: (1) o destino está sujeito à liberdade; (2) destino significa que a liberdade também está sujeita à lei; (3) destino significa que liberdade e lei são interdependentes e complementares. Analisando o conceito cristão palestino de destino, exposto por Paulo em Romanos 8.31-39 e também no capítulo 9, podemos dizer que a autonomia da consciência humana está ligada às leis universais, de tal forma que liberdade e leis se encontram intrinsecamente entrelaçadas. Aqui Paulo trabalha com um conceito judaico, de que lei é imposição de limites, que faz parte da revelação, que se expressa pela primeira vez como criação de Deus. Mas para Paulo, se a alienação é uma probabilidade que surge da dialética lei e graça, o julgamento está inerente a tudo na criação, mas também a liberdade.
Assim, a certeza de que o destino é divino e não demoníaco e tem um significado realizador e não destruidor é a peça chave do pensamento do apóstolo Paulo, que coloca o logos acima do destino. Ao fazer isso, Paulo está dizendo que a compreensão do destino não está ao alcance do ser humano, nem pode ser submetido aos processos do pensamento humano. Mas esse logos se reflete através de nossos pensamentos, embora não exista um ato do pensamento sem a secreta premissa de sua verdade incondicional. Veja o que Paulo diz em Romanos 12.2 e I Coríntios 2.16. Mas a verdade incondicional não está ao nosso alcance. Em nós humanos há sempre um elemento de aventura e risco em cada enunciado da verdade. Mas, mesmo assim, devemos correr este risco, sabendo que este é o único modo que a verdade pode ser revelada a seres finitos e históricos. Quando mantemos relação com o logos e deixamos de temer a ameaça do destino demoníaco, aceitamos o lugar que cabe ao destino em nosso pensamento. Podemos reconhecer que desde o princípio o nosso pensamento esteve submetido ao destino e que sempre desejou livrar-se dele, mas nunca conseguiu. Tarefa teológica da maior importância, na análise cristã do destino, é saber relacionar logos e kairós. O logos deve alcançar o kairós. O logos deve envolver e dominar as leis universais, a plenitude do tempo, a verdade e o destino da existência. A separação entre logos e existência chegou ao fim. O logos alcançou a existência, penetrou no tempo e no destino. E isso aconteceu não como algo extrínseco a ele próprio, mas porque é a expressão de seu próprio caráter intrínseco, sua liberdade. É necessário, porém, entender que tanto a existência como o conhecimento humano estão submetidos ao destino e que o imutável e eterno reino da verdade só é acessível ao conhecimento liberto do destino, à revelação. Dessa maneira, ao contrário do que pensavam os gregos, todo ser humano possui uma potencialidade própria, enquanto ser, para realizar seu destino. Quanto maior a potencialidade do ser, que cresce à medida que é envolvido e dominado pelo logos, mais profundamente está implicado seu conhecimento no destino. E destino, aqui, deve ser entendido como missão, é servir ao logos, num novo kairós, que emerge das crises e desafios de nossos dias. Quanto mais profundamente entendermos nosso destino, no sentido grego de “prokeimai”, estar colocado, ser proposto, e o de nossa sociedade, tanto mais livres seremos. Então, nosso trabalho será pleno de força e verdade.
A vontade humana não é neutra e a autonomia da consciência humana sempre se dá dentro de uma realidade condicionada. Assim, a liberdade entende-se como relação dialética entre lei e graça. Quando Hegel afirmava que a liberdade é a consciência da necessidade, como fez questão de mostrar Marx, cometia um erro porque descartava a realização da liberdade. É por isso que para o marxismo liberdade é práxis. Ora, práxis é consciência da necessidade mais ação transformadora. Ou seja, em termos teológicos, consciência da lei diante da existência da alienação humana é arrependimento e ação transformadora do logos produzindo justiça e graça. Dentro da visão cristã e exatamente pelo que acabamos de ver, a alienação, ao contrário do que pensavam os gnósticos, não é um ser, mas um fazer. Em relação ao imediato é um estado e no que se refere à espécie humana é um domínio. Numa definição teológica, a alienação acontece naquele momento em que minha autonomia é desafiada, quando o mal é se torna feitura humana. Nesse sentido, a alienação não se apresenta sem agente moral, sem autonomia. Toda vez que realizo minha liberdade a lei está presente, pois o mal é um contra-tipo da salvação. Por isso só podemos responder à alienação reconhecendo que o mal é feitura minha e de minha espécie, colocando a ruptura desse domínio nas mãos daquele único que pode fazê-lo, o logos. A partir daí, ao nível do pensamento, já que é um desafio teológico, o caminho é a reflexão, como aquela que Agostinho fez frente aos gnósticos, quando esses levantarem a satânica pergunta: “por que o mal existe”, transformando assim o mal em coisa e mundo, dando existência e imagem ao mal. Agostinho responde dizendo que a única pergunta que posso fazer é: “O que me leva a fazer o mal?” E ao nível da vontade e do sentimento, crendo em Deus apesar da alienação, pois a cristologia nos ensina que o logos também sofreu. E por fim, ao nível da ação, pois o mal é o que não devia estar, devemos ter uma ética de responsabilidade social, de combate a este estado e domínio na vida de meu próximo e da comunidade.
Mil anos depois de Agostinho, a questão do mal continuava em discussão e a teodicéia, ainda em construção, oscilou entre dois imperativos aparentemente excludentes, o da soberania de Deus e o da autonomia da consciência humana. Mas, no início do século vinte, a partir da teologia dialética, passou-se a ver tais imperativos como conjunto ou totalidade. Assim eleição e oferta aberta foram lidos como termos complementares, e a cruz como base da salvação e da condenação. Mas aqui vamos analisar a dialética de tais imperativos sob um novo ângulo, a partir de três pensadores da modernidade: Nicolas de Cusa, Lutero e Marx. Para eles, embora o ato livre e a autonomia fossem concebidos de maneiras diferentes e mesmo antagônicas, há na obra dos três uma compreensão fundamental de que a liberdade significa abolição da lei, colapso da determinação exterior e não comportamento que se adequou aos limites da ordem. Assim, liberdade significaria a destruição de toda ordenação que seja exterior e anterior ao próprio ato livre. A revolução teórica empreendida por Cusa e Lutero não é gratuita, nem produto de um simples ato ideal, mas se enraíza no tecido histórico do movimento de decomposição global da formação social pré-capitalista. Cusa e Lutero clamam por essa destruição. Sem entrar nos detalhes das mutações vividas no século dezesseis, com a ruptura do equilíbrio entre a cidade e o campo, o surgimento das manufaturas e consolidação do sistema de trabalho assalariado, vemos que a dimensão negativa da condição humana na incipiente sociedade capitalista será percebida por Cusa e Lutero: a autonomia do sujeito se dá como dor. Mas ambos consideram essa subjetividade liberada pelo início da arrancada capitalista como desequilíbrio. Assim, tanto Cusa quanto Lutero partem da negação dessa subjetividade alienada do nascente capitalismo, considerando que deve ser superada para que o Espírito floresça. Aí, então, teríamos o fim da inessencialidade do sujeito alienado e a inserção deste na totalidade objetiva. Mas isso não pode acontecer sem a transformação dessa realidade objetiva em realidade espiritual, que sustém o ser humano. Dessa maneira, para os dois pensadores, o Espírito constrói num nível superior o universo anteriormente negado.
O jovem Marx, seguindo os passos de Hegel, partirá dessa discussão. Para ele, a religião é a realização imaginária da essência do ser humano. Imaginária porque essa essência do ser humano não tem realidade de fato. Mas há um ponto de interligação nessa perspectiva, quando vê, assim como Cusa e Lutero, a liberdade como abolição da legalidade, como coincidência do momento subjetivo com o momento objetivo, e como responsabilidade suprema do ser humano.
“O cristão é senhor de todas as coisas e não está submetido a ninguém. O cristão é servo em tudo e está submetido a todo mundo”.
Livre e não submisso, servo e escravo. Para Lutero, o ser humano existe como estrutura ontológica dual. Sua conceituação traduz a ansiedade teórica do século dezesseis, mas traduz-se em superação da subjetividade alienada. O cristão é senhor de todas as coisas, não está submetido a ninguém e esse senhorio radical é produto da graça. Sua liberdade é fruto da fé que transforma a subjetividade alienada em realidade objetiva. Nesse sentido, o caráter espiritual da autonomia do cristão se dá como processo. Morre o imediato, o alienado, e tem início a construção de uma segunda natureza. A liberdade surge como deslocamento do ser humano natural, como distanciamento crítico daquilo que foi naturalmente dado. O primeiro momento da liberdade parte de uma concepção trágica, porque o senhorio num primeiro momento implica em servidão, criando tensão e luta...
“É necessário desesperar-se por você mesmo, fazer com que você saia de dentro de você e escape de sua prisão”.
Mas superada a tensão, temos a liberdade enquanto espiritualidade, uma dimensão de combate. O ser humano, que em Cristo vive essa metamorfose, tem a liberdade que vai além, a liberdade que é fonte de realidade e ação. Assim, o cristão transforma-se em receptáculo da fé, em intencionalidade aberta ao absoluto.
A partir daí, podemos dizer que a intervenção de Deus na história da humanidade, assumindo um ato de inconcebível humilhação às condições históricas, materiais e corporais do ser humano, na forma de uma única pessoa histórica, traduzem sua oposição à corrupção que penetrara na natureza humana, reconstruindo assim a imagem de Deus alienada pela rebelião contra Deus. Não estaremos longe da verdade ao dizer que a idéia da humanidade como imagem de Deus é a base e o pressuposto da idéia da encarnação, pois a meta da intervenção do Cristo na história não é o da separação entre espírito e corpo, nem a dissolução da natureza humana espiritual e de sua corporabilidade material, a finalidade é o novo ser em sua totalidade corporal, psíquica e espiritual. A imagem de Deus tem essencialmente um aspecto corporal, que se funde na realidade da encarnação e encontra o seu mais belo significado na ressurreição. Por isso, imagem de Deus deve ser entendida como a irrupção de Deus para dentro da história, da corporabilidade, com o fim de renovar o ser humano, antes arrastado à temporalidade e à morte. Cristo não é somente a figura na qual a encarnação passa a ser um acontecimento histórico, mas, ao mesmo tempo, a meta final do ser humano salvo e restaurado. É através do Cristo que se dá a recriação da imagem de Deus. Em Cristo, Deus realiza sua auto-imagem no humano. Fazendo da humanidade semelhança real, partícipe de sua imagem, constituindo-a parceira de sua auto-realização e de sua auto-revelação. É o que possibilita o surgimento do novo ser humano, recriado em Cristo, conforme nos fala Paulo em Romanos 5.12 e versículos seguintes, que é a verdadeira imagem de Deus, e agora pode encontrar graça e atingir conhecimento moral.
A tarefa de domínio dada por Deus à humanidade está ligada à atribuição da mais elevada responsabilidade pelo universo. Por isso, ela só pode ser desempenhada a contento pelo novo ser em Cristo. Quanto maior for o alcance do domínio do ser humano, tanto maior é a sua responsabilidade perante Deus pelas criaturas que lhe foram confiadas e essa responsabilidade só pode ser plenamente reconhecida e exercida por aquele que recuperou de Cristo e em Cristo a renovação da imagem de Deus. Somente a partir desse reconhecimento é que se pode superar as distorções da imagem e do abuso do domínio, que o ser humano impõe ao mundo. Libertado por Cristo de seus antigos senhores, a alienação, a lei, as práticas materiais da lei, as pressões do mundo e a corrupção, o novo ser humano não deve voltar à escravidão. Ele é livre, filho da nova aliança.
Cristianismo e Reino de Deus
Cultura, linguagem e autonomia da consciência humana nos remetem a um outro conceito do cristianismo, fundamental para o estudo das brasilidades em suas correlações com a teologia, o conceito de reino de Deus. E uma das bases teóricas para a compreensão do reino de Deus é o conceito de situação-limite, que explica desde um ponto de vista teológico como realidades e estruturas colocam em risco a existência humana e como diante dessa ameaça é necessária à proclamação da vida. A este protesto, contra tudo aquilo que por ser idolátrico fere a essência do ser, chamamos princípio protestante. O protestantismo existe onde se proclama o poder do novo ser humano, e onde se prega a situação-limite. É aí que se encontra o protestantismo. É possível que o protestantismo sobreviva nas religiosidades organizadas, mas não depende delas. Talvez, a maioria das pessoas experimente, hoje em dia, a situação-limite mais fora do que dentro das igrejas. O princípio religioso pode ser proclamado por movimentos pertencentes tanto ao domínio religioso como ao secular, mas sem qualquer filiação eclesiástica ou institucional, bem como por grupos ou pessoas que, por meio de símbolos cristãos ou protestantes, ou sem eles, expressam a verdadeira situação humana em face da incondicionalidade da justiça.
“Se nessas situações proclama-se e vive-se melhor e com mais autoridade o princípio protestante do que nas religiosidades oficiais então é aí e não nas igrejas que o protestantismo se torna vivo no mundo atual”.
Quando partirmos desse conceito chegamos a outro, o de kairós, que nos fala de um tempo de plenitude, um tempo de tensão, de possibilidades, qualitativo e rico de conteúdo. Nem tudo é possível sempre, nem tudo é verdade em todos os tempos, nem tudo é exigido em todo momento. Diversos mestres, diferentes poderes cósmicos, reinam em tempos diferentes, e o Senhor que triunfa sobre anjos e poderes reina no tempo pleno de destino e de tensões, que se estende entre a ressurreição e a segunda vinda. Ele reina na alta modernidade que, em sua essência, é diferente dos outros tempos do passado. É nessa consciência da história que está enraizada a idéia de kairós, e é a partir dela que deve ser elaborado o conceito de uma teologia brasileira consciente da história.
Por isso, ao falarmos do reino de Deus devemos levar em conta aspectos históricos, os grandes movimentos ideológicos, pois tal metodologia é relevante para a compreensão do contexto a partir do qual constrói a ética do reino de Deus. Mas reino de Deus significa também a chamada a um posicionamento transcendente, de resistência ao impacto da violência histórica, o que deve levar a igreja a elaborar uma mensagem de esperança para o mundo. Nesse contexto, definir o ser humano da alta modernidade como autônomo implica em compreender que, apesar da insegurança típica da contemporaneidade, ele já experimentou a realidade do protesto e esta é uma experiência que une aquele que protesta àqueles que já conquistaram a autonomia.
O conceito de situação-limite, que se traduz como ameaça final ao sentido da vida é o diferencial do princípio protestante, pois a existência é a elevação do ser humano à dimensão da liberdade. O ser humano se liberta das cadeias da necessidade natural. Torna-se princípio e adquire liberdade de se questionar a si mesmo, o seu ambiente, de questionar a verdade e o bem e de decidir a seu respeito. Entretanto, há nessa liberdade certa falta de liberdade, pois somos todos compelidos a decidir. Essa inevitabilidade da liberdade, de ter que decidir, cria profunda inquietude da existência: é por esse meio que a existência passa a ser ameaçada. Tudo isso, porque somos confrontados por uma exigência incondicional de escolher o bem e de realizá-lo, na mesma medida em que isso não pode ser alcançado. Conseqüentemente,
“o ser humano, na sua dimensão espiritual carrega em si uma ruptura, que também se manifesta na sociedade. Não é possível fugir dessa exigência. Ao enfrentá-la jamais se reveste de segurança absoluta. Esta é uma situação-humana-limite: todas as seguranças que construímos são questionadas e as possibilidades humanas alcançam e descobrem seus limites”.
A expressão situação-limite nasceu em torno da justificação pela fé. Lutero aplicava essa doutrina apenas ao âmbito religioso-moral. O pecador, não obstante ser injusto era justificado. Mas podemos aplicar a mesma doutrina à esfera religiosa e intelectual, já que nenhuma autoridade tem o direito de exigir a aceitação de qualquer crença correta de quem quer que seja. A devoção à verdade é suprema; é devoção a Deus.
“Existe sempre um elemento sagrado na integridade que conduz à dúvida mesmo sobre Deus e a religião. Se Deus é a verdade, Ele é a base e não o objeto das questões a seu respeito. Qualquer lealdade à verdade será sempre religiosa, mesmo quando acabar constatando a falta de verdade, pois parafraseando Agostinho, a pessoa que duvida com seriedade terá de dizer: Duvido, logo sou religioso. O divino se faz presente até mesmo na dúvida. O ateísmo absolutamente sério pode se dirigir ao incondicional; pode ser uma forma de fé na verdade. Vê-se aqui a conquista da falta de sentido pela consciência da presença paradoxal do sentido na própria falta de sentido. Assim é justificado também aquele que duvida. A única atitude fundamentalmente irreligiosa é, então, a do cinismo absoluto com sua completa falta de seriedade”.
A vida na autonomia significa a aceitação da exigência incondicional de realizar a verdade e fazer justiça. Assim, o reconhecimento da existência de uma situação-limite deve traduzir-se em julgamento e transformação e se opõe a qualquer religiosidade que faz a defesa da hierarquia e da tradição. A justificação pela fé deve ser entendida, então, a partir da situação-limite. Mas, sem uma relação universal com a essência, a noção de chamado e vocação pessoal não é a medida correta para se construir uma ética. Ou seja, não se pode fundar uma ética do princípio protestante apenas sobre o terreno dada pessoa. É importante, porém, entender que não existe uma interpretação absoluta da essência, já que essência não é uma grandeza estática, mas se realiza de forma dinâmica na existência. Por isso, não se pode subscrever a construção de uma ética social absoluta.
Toda compreensão da essência e como conseqüência toda ética real são concretas. Essa essência se situa no kairós, naquele momento temporal determinado, pleno, embora sua universalidade comporte riscos concretos. Ela não se move num universal abstrato, separado do tempo e da situação atual, pois o que é válido para a pessoa deve ser também para a consciência ética da comunidade. Exatamente por isso, toda realidade essencial comporta dois aspectos: aquele traz de volta à origem, ao fundamento e abismo de todo ser, e um outro que indica seu caráter particular, sua inserção na finitude. Assim, a realização da essência deve se orientar em direção a ela própria, na medida em que essa manifestação de sua origem criativa remete ao que é eterno. Ela exprime o que lhe próprio, suas solidariedades no plano formal e sua finitude. Por isso, a ética transporta ao Eterno e ao mundo, que em última instância são o bem decisivo de nossa existência concreta. Dessa maneira, ao nos posicionarmos por uma ética que parte da essência, nos posicionamos por uma ética da vida. E tal compreensão leva-nos estudar o desenvolvimento criativo e estratégico desta essência enquanto vida que brota na história.
O cristianismo é em essência uma experiência transcendente ao nível da materialidade humana, uma experiência que acontece em todos os tempos e em todas as situações e é em si mesma independente de formas sociais e econômicas. Por isso, o cristianismo não pode ser identificado com um tipo determinado de organização social, em detrimento de seu caráter transcendente e universal. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo é portador de poder e oferece à humanidade uma mensagem de vida, de conhecimento e de verdade, tanto para a pessoa como particularidade, como para a sociedade como um todo. Exatamente por isso, apresenta-se debilitada toda forma de cristianismo que se fecha na pura interioridade. Também não se pode dizer que o cristianismo é um movimento que parte mecanicamente da interioridade em direção à exterioridade, apropriando-se de formas culturais ou simplesmente passando ao largo delas. Na verdade, ele dá forma às expressões culturais e toma novas formas a partir delas. Dessa maneira, o cristianismo está imbricado às formas de consciência filosófica, ao ideal ético de pessoalidade e aos grandes modelos sociais e econômicos.
É verdade, que o cristianismo tem mais afinidades com determinadas formas de organização social. A ética da solidariedade leva o cristianismo a ter uma postura crítica diante da ordem social que se apóia na opressão e na exclusão social. A ética da solidariedade faz a crítica da ordem social que está erigida sobre o egoísmo político/econômico e proclama a necessidade de uma ordem na qual o sentido de comunidade seja o fundamento da organização social. A ética da solidariedade denuncia o capitalismo selvagem da globalização e dos governos que capitulam a tais propósitos, que levam à expropriação de muitos em benefícios de poucos, e propõe uma economia solidária onde a alegria não seja fruto do ganho, mas do próprio trabalho. E condena o egoísmo de classe, onde cada qual procura se enriquecer através da exploração de seu próximo e as conseqüências desse processo, como o privilégio da educação para uma elite. Mas a ética da solidariedade nega também a afirmação do princípio da luta de classes e propõe a supressão das classes, o fim dos privilégios na educação e a supressão da exploração de setores profissionais por outros. A ética da solidariedade condena também a internacionalização da violência, que justifica as guerras sobre continentes, nações e povos. Assim, a ética da solidariedade prega a submissão dos povos, sejam ricos ou pobres, à idéia da justiça e à construção de uma consciência solidária, soldada sobre a paz, que leve a um internacionalismo real entre as nacionalidades.
Muitos dirão que eliminar o egoísmo como forma de estímulo econômico diminuirá o desenvolvimento e reduzirá a produção. No entanto, a partir do amor vemos que o ser humano não foi criado para a produção, mas a produção para suprir necessidades humanas. Por isso, o objetivo da ética na economia não é a produção da maior quantidade de bens para uma classe em particular, e sim a produção de bens necessários à vida para o maior número de pessoas.
É importante, também, entender que na história, uma ruptura espiritual vem sempre acompanhada de uma ruptura econômica, da mesma maneira que um processo de unidade espiritual vem associado a um processo de unidade econômica. Isto porque a alma da unidade espiritual é a religiosidade humana. O fracionamento espiritual característico de determinadas épocas traduz sempre um fracionamento econômico, distanciamento e choque entre classes. E naquelas épocas em que temos um processo cultural de unidade temos também uma nova base de unidade, de solidariedade social e econômica. Nesse sentido, há um processo de desenvolvimento que se realiza de forma desigual na história, que combina mudanças espirituais e transformações econômicas e sociais. Diante de tais circunstâncias, o cristianismo é exortado pela ética a fazer uma escolha: ou participa do processo, inspirando e atuando a favor desse desenvolvimento ou se retrai e entra em processo de caducidade, ao afastar-se da vida real das comunidades nas quais está inserido.
Seja qual for a opinião ética sobre a relação entre cristianismo e reino de Deus, um fato deve ser ressaltado: é possível e necessário para o cristianismo manter um relacionamento com as formações econômicas e sociais, já que a rejeição do princípio da expansão do reino de Deus em nome do cristianismo contradiz a universalidade do cristianismo. E se o cristianismo não somente pode, mas deve manter uma ação dirigida à expansão do reino de Deus, devemos nos perguntar se o reino de Deus pode e deve ter um relacionamento construtivo com o cristianismo?
Para muitos, o materialismo e o agnosticismo presentes nas sociedades da alta modernidade negam a possibilidade dessa aproximação. Mas se entendemos que estas concepções são culturais e mostram uma relação de causalidade entre fundamento cultural e organização espiritual das sociedades, tal fundamento dá às ciências uma possibilidade metodológica fecunda, que vai além de uma leitura estritamente materialista ou agnóstica. Quanto ao reino de Deus é necessário ver a relação de sua expansão com o cristianismo e também a relação das estruturas hierárquicas da igreja com a expansão do reino de Deus. A história da igreja tanto no passado, como no presente, é passível de muitas críticas. Suas opções e alianças fizeram como que se afastasse e dificultasse seu relacionamento com parte da população excluída de bens e possibilidades. Tal situação facilitou e potencializou a pregação do materialismo e do agnosticismo. Mas, ao contrário do que pode parecer, não podemos dizer que o materialismo e o agnosticismo sejam fenômenos constitutivos da alta modernidade. Antes, são heranças da cultura burguesa. Essas heranças estão presentes na alta modernidade sob a crença de que ajudariam a afugentar o fundamentalismo religioso e abriria o caminho para a construção de um mundo mais justo e racional. Embora, haja razões históricas para criticar a igreja, a alta modernidade erra quando nega a existência da base solidária do ideal cristão, tão próxima daquela proposta pelas comunidades cristãs dos primeiros séculos.. Por isso, não procede a hostilidade contra o cristianismo que setores da intelectualidade expressam. Mas, de conjunto, as idéias da alta modernidade não traduzem oposição essencial ao cristianismo e às religiosidades que vivem o princípio protestante, por isso, os cristãos podem ter uma atitude positiva em relação a este momento dessa modernidade.
Atitude positiva deve ser entendida como a realização do princípio da solidariedade, que entende a necessidade de eliminar as condições que geram miséria e exclusão. Tal atitude traduz a urgência de combater os fundamentos do egoísmo econômico e de ações para a construção de uma ordem social, que sem deixar de ser globalizada, inclua periféricos e excluídos. Isto porque a expansão do reino de Deus não é apenas tarefa de cristãos e religiosos, mas ideal ético que deve traduzir anseios e esperanças dos mais variados setores da sociedade brasileira.
Olhado historicamente, no correr da Modernidade ocidental, o reino de Deus se deu como produto do desenvolvimento espiritual e econômico que foi preparado e que se impôs com a Renascença, a Reforma e o surgimento do modo de produção capitalista. Ele surgiu em oposição à cultura unitária da Idade Média e sedimentou suas bases nas criações culturais dos últimos séculos. Por isso, na alta modernidade, o reino de Deus só pode ser compreendido a partir desta evolução e sua expansão está ligada diretamente a este desenvolvimento. Deve-se reafirmar, porém, que foi do interior do cristianismo que brotou o reino de Deus nas sociedades ocidentais modernas.
A organização espiritual e econômica da Idade Média estava fundada sobre um sistema de centralização da autoridade que, ancorado no sobrenatural, associava a natureza e o supranatural numa unidade poderosa, à qual os povos e as pessoas estavam sujeitas. A Reforma, sustentada pela visão humanista que surgiu com a Renascença, golpeou o sistema de autoridade, trouxe a fé para o plano formal e no plano material valorizou a subjetividade da consciência pessoal, e assim nada pode impedir sua consolidação. Apoiado formalmente sobre as Escrituras, o protestantismo engendrou novas contradições, mas o sistema centralizado de autoridade já estava em frangalhos: as próprias autoridades anularam a autoridade. Coube, então, às pessoas decidirem a que grupo queria se ligar. Por causa das guerras religiosas, essa realidade viveu um processo lento transmitindo a cada lado a esperança de que poderia chegar a uma vitória exclusiva. Mas com o fim dos combates o que se viu foi que as oposições às confissões se tornaram permanentes. Dessa maneira, brotou o princípio autônomo nos mais variados campos, a consciência européia ocidental atacou as muralhas autoritárias das confissões e não deixou subsistir sob o solo protestante nada mais que os destroços do autoritarismo.
A partir do Iluminismo, no domínio espiritual, político, econômico, nada pode ficar de positivo que não fosse pensado e confrontado com a consciência pensante. Os sistemas de fé, as formas de Estado, as definições econômicas sofreram o assalto da autonomia, que não tiveram nenhum respeito pelas autoridades humanas. Lamentou-se a perda do sistema de autoridade ou festejou-se tal acontecimento como um passo em direção à maturidade cultural. De todas as maneiras, há o reconhecimento de que a vida cultural não pode ser pensada sem autonomia e que o reino de Deus está presente em todos os lugares. Líderes e camponeses tiveram o mesmo sentimento, conquistaram a liberdade das mãos do autoritarismo irracional, fosse ele imanente ou transcendente.
Do lado positivo, a autonomia significou o reinado da razão. Pela primeira vez na história, depois de um milênio e meio, a razão humana não viu limites para seu poder. Através da análise penetrou as profundezas da vida cultural e social e através da síntese dos elementos descobertos apresentou um sistema novo, racional. Depois de séculos de arbítrio, os seres humanos foram possuídos por uma vontade de dar forma ao mundo de maneira racional. E a vida econômica também foi formulada racionalmente. Não era mais o prazer de certos pessoas ou povos que deveria fazer a lei, mas eram comunidades inteiras, que se tornaram sujeito e objeto dos processos econômicos, quem deveriam fazê-lo a partir de critérios racionais. A mesma autonomia que substituiu a autoridade, a partir da razão precisava construir um mundo sem arbítrio.
Mas, o pensamento histórico objetivo não pode ser separado da compreensão do reino de Deus, ao dizer que a razão precisa ser separada da decisão humana e colocada ao nível das necessidades objetivas. O processo dialético é racional e a fé nele é uma fé na razão: uma fé que adquire uma força enorme graças à sua amarração metafísica objetiva e que se tornaria o dogma fundamental de milhões de pessoas. Foi o processo da própria história que fez o mundo conformar-se à razão e levou este combate a tornar-se vitorioso. E foi essa vitória que deu cara ao mundo que conhecemos como moderno.
A fé na razão está fundamentada sobre os resultados conquistados pelas ciências. Mas atrás das ciências da natureza veio a cultura moderna. Preparada de várias maneiras a partir do fim da Idade Média, surgiu com uma força irresistível na Renascença e conduziu a uma afirmação alegre deste mundo, que durante muito tempo foi negado e desdenhado por um outro mundo onírico e místico. Mas, os outros mundos empalideceram diante da validade universal das leis da natureza, diante da consciência de unidade do finito e do infinito na filosofia da natureza. É assim que a imanência ressoa no humanismo e na filosofia das Luzes da mesma maneira que o reino de Deus se une à consciência da autonomia e à fé do poder formador da razão na construção de um sentimento unitário da vida e do mundo.
Por ser o reino de Deus, nesse sentido, uma expansão na cultura universal, ele tem uma originalidade que não se restringe aos conceitos, mas à experiência vivida. O conceito de humanidade, que manifesta a vitória da idéia de tolerância, não teve no desenvolvimento das novas classes da sociedade burguesia mais que uma realização acidental, pois a consciência de humanidade foi neutralizada pela divisão em classes, pela educação para uma elite e a formação dos estados nacionais. A humanidade se colocou no campo das confissões, sob formas contrárias a idéia de uma transformação racional do mundo. Mas pela pressão sobre os trabalhadores nos primeiros decênios do moderno capitalismo nasceu uma consciência solidária, no coração do qual está presente o sentimento universal de humanidade, que se opôs àquele que vê no ser humano um meio e não um fim. O combate contra o feudalismo, o capitalismo, o nacionalismo e o confessionalismo constituiu a expressão negativa da consciência incondicional de humanidade, que deveria derrubar barreiras e reconhecer o ser humano em cada pessoa.
O que fica claro é que autonomia e reino de Deus são processos históricos que se complementam, mas que não são idênticos. O processo de autonomia vivido pela sociedade européia no período que se abriu a partir do Iluminismo e que pôs em xeque a tradição e o autoritarismo servirá de base para a ação do reino de Deus. Autonomia é o momento supremo da razão e da imanência, e é a partir daí que o reino de Deus vai construir um sentimento unitário da vida e do mundo, embora sua originalidade não se limite aos conceitos, mas à experiência vivida. A luta dos cristãos e da religiosidade humana contra a alienação e exclusão social vão gerar consciência solidária e sentimento universal de humanidade. Mas, ainda assim, ao se limitar ao campo da autonomia, sem uma atitude que permita à incondicionalidade apoderar-se da própria autonomia, o reino de Deus não se realiza como transistórico, fica então aberto o caminho para o autoritarismo e o arbítrio.
Os elementos formadores do movimento de expansão do reino de Deus são fundamentais para a compreensão das relações entre cristianismo e reino de Deus. Eles abrem a possibilidade para um diálogo construtivo entre cristianismo e reino de Deus. Já os sistemas religiosos erigidos sobre o princípio da autoridade centralizada só podem se opor ao movimento autônomo de expansão do reino de Deus, pois, são opositores exatamente por se afirmarem enquanto sistemas de autoridade. Eles se colocam como opositores mesmo quando tal sistema aceita as exigências do reino de Deus em matéria de economia política. Assim, para o catolicismo da contra-Reforma continua a ser determinante a ética social do tomismo, estabelecida de maneira autoritária, em estreita relação com a dogmática. Ela permite uma ampla margem de manobra, mas a unidade desse catolicismo impõe limites definidos, que uma doutrina econômica autônoma não pode reconhecer.
O protestantismo quebrou o sistema de autoridade em seu princípio-base e deu voz à autonomia. De todas as maneiras, é um erro considerar de forma heterônoma as palavras de Jesus ou dizer que o comportamento da comunidade de Jerusalém em Atos dos apóstolos conduz a uma política econômica do reino de Deus. Do ponto de vista histórico, os fatos não são simples, porque Jesus não levantou um programa de reforma social, mas, convencido de que o reino de Deus estava a brotar apresentou aos seus discípulos as conseqüências éticas do mandamento do amor. Se fizermos uma abstração histórica, devemos reconhecer que no terreno da autonomia, a justiça de uma ética social, ou a verdade de uma doutrina, não depende de sua aparente conformidade com as Escrituras, pois, o reino de Deus pode ter por base, num determinado contexto, um sólido apoio psicológico a seu favor, enquanto convicção pessoal, que não nasce da autoridade imposta. Ou seja, quando os laços do cristianismo com o reino de Deus estão fundamentados de maneira heterônoma sobre as Escrituras não há um protestantismo autêntico, mas uma legalidade sectária. Isto porque o protestantismo como essência é autônomo. E por isso que podemos dizer que os conceitos “pela graça somente” e “pela fé somente” trazem vida ao domínio do conhecimento e rejeitam o legalismo da posse da verdade absoluta e de querer impor tal verdade aos outros.
A religiosidade e o princípio autônomo podem tornar-se um e é somente quando isso se dá que a autonomia se instala e deixa de cair sob o arbítrio. Diante da decomposição da cultura burguesa, o reino de Deus propõe criar uma nova vida cultural e social unida sobre a base de uma economia solidária, mas isso só será possível se a autonomia caminhar em direção a uma teonomia, ou seja, uma atitude que permita à incondicionalidade apoderar-se incondicionalmente de todas as coisas. A idéia de dar forma racional ao mundo fez oposição à concepção do cristianismo que via o mundo como essencialmente antidivino e a razão como corrompida e que via a redenção não como ação que dá feitio ao mundo, e o conhecimento não como razão, mas como revelação. Talvez por isso, nesses últimos séculos, a teologia protestante propôs-se a superar a oposição entre razão e revelação, através da idéia de uma história universal da revelação, humana e imanente, que nada mais é que a história do espírito em geral e da religião em particular. Essa concepção religiosa elaborada pela cultura protestante considerou que a pessoalidade livre e ética é impossível sem o fundamento natural de sua individualidade, com suas particularidades lógicas, fisiológicas e biológicas e que o valor da pessoalidade consiste em ir além, elevar-se acima dessa naturalidade. Tal concepção de mundo, que repousa sobre o absoluto, fundamento de toda liberdade moral, não é um estado ideal, pois seria onírico, desprovido de liberdade verdadeira e de mérito interior. Assim, o cristianismo traduziu uma vontade de dar forma ao mundo de maneira imanente: o reino de Deus vem ao mundo. Mas ao mesmo tempo tal concepção apresentou limitações: já que o dar feitio está situado no âmbito da técnica, não no da ética, no âmbito da categoria de meio e de fim e não dos juízos e do mérito. Fazer é técnica, mas a técnica não é o fim em si, não é um fim último. Mesmo que toda economia fosse uma produção racional, a organização jurídica englobasse todos os povos, a vida material estivesse livre do imprevisível, restaria ainda o mérito da pessoalidade, a revelação do espírito e a idéia criativa que traduzem graça e brotam das profundezas do fazer. Por isso, é importante que o olhar lançado nas profundezas do ser não seja turvado, que a fé enquanto experiência da incondicionalidade apóie a vontade de dar forma ao mundo e a livre do vazio de uma simples tecnificação do mundo.
Podemos então dizer que foi com a experiência da imanência que surgiu o paradoxo entre reino de Deus e cristianismo, já que o cristianismo está comprometido, enquanto religiosidade, com o lá em cima, e o reino de Deus voltado para a expansão do que está aqui embaixo. Mas esta oposição não é correta, porque antes nos remete a uma metáfora: profundidade. E o que significa profundidade?
“Significa que o aspecto religioso aponta em direção àquilo que, na vida espiritual do ser humano, é último, infinito e incondicional. No sentido fundamental do termo, religião é a preocupação última se manifesta em todas as funções criativas do princípio humano. Manifesta-se na esfera moral com a seriedade do imperativo ético; donde, quando alguém rechaça a religião em nome da função moral do princípio humano, rechaça a religião em nome da própria religião. Manifesta-se no reino do conhecimento com a busca apaixonada de uma realidade última; por isso, quando alguém rechaça a religião em nome da função cognitiva do princípio humano, rechaça a religião em nome da própria religião. Manifesta-se na função estética do princípio humano como o anelo infinito de expressar um significado último; donde, quando alguém rechaça a religião em nome da função estética do princípio humano, rechaça a religião em nome da própria religião. A religião constitui a substância e a profundidade da vida espiritual do ser humano. Eis o aspecto religioso do princípio humano”.
Lá onde se está a profundidade última da experiência religiosa, onde a experiência da incondicionalidade é pronunciada sobre todas as coisas e sobre todos os méritos, é onde acontece a supressão da oposição entre o que está em cima, absoluto, perfeito, e o está em baixo, relativo. Sim e não são pronunciados sobre o aqui embaixo, sobre a única realidade. É no coração das pessoas que acontece a separação, o julgamento paradoxal que torna tudo absoluto e relativo, perfeitas e vãs, eternas e terrestres. É assim que devemos entender a teologia do “somente pela fé”, que não admite nem perfeição absoluta, nem conhecimento absoluto, nem estado absoluto, mas que vê brotar o absoluto em todo relativo.
Temos aqui o fundamento da compreensão positiva que o cristianismo nos dá sobre a questão da imanência. Mas também o cristianismo deve oferecer ao reino de Deus alguma coisa sem a qual ele não pode existir: a experiência vitoriosa da incondicionalidade em tudo que está condicionado, imanente, na totalidade do real. Existe uma atitude profana e uma atitude religiosa no olhar o mundo. Essas atitudes se tornam nulas num estado puro, exclusivo. Num, a primeira predomina fortemente, noutra, a segunda. Pode-se conceber um fazer profano, a ciência, a moralidade, a vida jurídica e econômica, a política nacional e exterior e se pode concebê-las de maneira religiosa. Pode-se vê-las como atividades úteis e agradáveis, necessárias e desagradáveis, mas pode-se ver o espírito agir nelas e ver a vida nelas se revelar, e por isso aproximar-se de tais coisas com respeito sagrado.
Tal princípio religioso está vivo no movimento de expansão do reino de Deus: é uma vibração espiritual que circula através das comunidades. Mas há também inumeráveis presenças profanas no movimento, mesmo entre pastores e padres. A santificação da vida cultural no geral e no reino de Deus em particular, é a marca deixada pelo cristianismo no reino de Deus. A santificação da vida cultural não será possível sem uma concentração dos elementos religiosos mais expressivos da cultura e da sociedade, sem a constituição de comunidades que estejam imbuídas em levar e transmitir a experiência religiosa às gerações futuras. É para isso que servem as idéias expressivas, as formas e as instituições que existem com toda a sua riqueza e sua vitalidade no seio das confissões, e que a partir da força de uma tradição provada aliam um vigor popular em oposição a uma interconfessionalidade racionalista e artificial.
Apesar de toda aparência de que estamos apresentando um novo confessionalismo, com suas verdades e suas formas absolutas que suprimem a comunhão com os fiéis de outras crenças, vamos insistir na necessidade de falar sobre a experiência humana universal. Esta experiência tem seu fundamento no próprio cristianismo, já que podemos ver na cruz de Cristo não somente a negação do judaísmo, mas também do cristianismo, no sentido de que se absolutiza enquanto confissão. As igrejas cristãs não podem deixar essa consciência tomar-se efetiva, pois é sobre este terreno que se deram as condições para as sangrentas guerras religiosas. Em relação a isso o princípio deve ser autônomo. O caminho da cultura cristã é entender esta consciência como elemento agregador de culturas e confissões, sem aboli-las, inspirando um sentimento de comunhão mais profundo que as barreiras concebíveis. O cristianismo confere assim seu próprio conteúdo à experiência humana do reino de Deus, pois a solidariedade nascida da pressão exterior deixa de existir quando a pressão cessa.
Não devemos entender o cristianismo como confissão exclusiva, mas como irrupção da fé absoluta, única incondicionalidade, que vê uma só humanidade, sem as barreiras internas e externas que caracterizam as comunidades. Esta fé não se mostra hostil a não ser com os domínios econômicos, políticos e religiosos, que se colocam eles próprios contra os outros. Nesse sentido, é a teonomia, que traduz a experiência da profundidade última, a incondicionalidade do sim e do não sobre todas as coisas e méritos, e a supressão entre o em cima absoluto e o em baixo relativo, que pode levar transcendência ao reino de Deus. O princípio religioso que existe no reino de Deus, enquanto vibração de graça e fé que circula nas comunidades, não deve ser negado, nem execrado pelo cristianismo. Ao contrário, o cristianismo pode fecundar a autonomia do reino de Deus. Estes são os fundamentos de uma unidade entre o cristianismo e o reino de Deus, que deve ser mais que uma associação, que traduz um desenvolvimento de ambos através de uma nova forma de fé e vida. E qual é o papel das igrejas neste desenvolvimento do reino de Deus?
Antes de responder a esta questão, é necessário ver que relação existe entre a alta modernidade e o princípio profético. Falar da situação espiritual na alta modernidade pode significar duas coisas. Pode querer dizer que vamos de uma situação contingente em direção a um ponto de vista superior. A alta modernidade seria, então, parte de uma situação mais geral, já que o momento presente estaria enquadrado no caminhar do processo histórico.
E para fazer a leitura dessa alta modernidade pode-se recorrer à análise histórica, à avaliação crítica ou à construção filosófica. Algumas vezes, porém, alguns desses elementos falham. Por isso, não basta observar a alta modernidade. Estamos excessivamente ligados a ela, o que nos pode levar a escorregar para um julgamento do ser humano enquanto presente no aqui e agora e esquecer que devemos estar voltados para o futuro. O momento é importante, mas transformar o exame da situação espiritual da alta modernidade em apreciação subjetiva é realizar uma redução, é ver a situação como totalidade e permanência. Quando olhamos assim colocamos a situação num patamar elevado e a perspectiva que temos é aparentemente ampla e global, apesar de seu caráter individual e limitado. Tal análise do momento pode levar a uma ampla aprovação e tocar emocionalmente setores expressivos da sociedade e comunidades inteiras. Spengler, em A decadência do Ocidente, parte da profunda crise da Alemanha no primeiro pós-guerra e como conclusão disse que a cultura ocidental chegara ao fim. Esta era uma maneira de ver. Ela poderia ser qualificada como irresponsável, mesmo quando apresentava análises de conjuntura e perspectivas para o futuro. Mas por que então irresponsável? Por não aceitar suas responsabilidades. Por não reconhecer os limites do observador, assim como de seu próprio horizonte.
Mas se existe um nível elevado do que o analisado pelo observador, somos levados a falar da situação espiritual da alta modernidade, possibilidade que pode ser qualificada de responsável. E é possível chegar a tal patamar de observação? Bem, caso exista um ponto de vista mais elevado, a partir do qual se posicione um atalaia da alta modernidade, como deve ser este mirante? Deve estar numa altura absoluta, inacessível a qualquer comparação. Só o absolutamente incondicionado, livre das amarras do historicismo, pode ser de fato responsável. Quando partimos dessa realidade, pode-se dizer que existiram pessoas que interpretaram a situação espiritual de uma época dada. Eis aqui a possibilidade de um ponto de intersecção entre a alta modernidade e o princípio profético. Seguindo a trilha aberta por Troeltsch no combate ao historicismo é possível afirmar que o princípio profético traduz inquietude em relação aos acontecimentos sociais e religiosos concretos.
Há uma busca ética de respostas entre aquele que encarna o princípio profético e a ação consciente do intelectual.
“Se e a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos - entre governantes e governados - é dada por uma adesão orgânica, na qual o sentimento paixão torna-se compreensão e portanto saber (não mecanicamente, mas de forma viva), é somente então que a relação é de representação e que se produz o intercâmbio de elementos individuais entre governados e governantes, entre dirigidos e dirigentes, isto é: que se realiza a vida conjunta que, só ela, é a vida social, cria-se um bloco histórico”.
Ambos representam determinada comunidade, têm função superestrutural e, apesar de sua organicidade, precisam exercer autonomia em relação às pressões sociais que sofrem. É dessa postura que nasce a força crítica e a compreensão de que diante da realidade há alternativas diferentes daquelas expressas pelo poder. Embora o profetismo bíblico não responda às necessidades atuais de análise de situações-limite mostra que não basta o exame da situação espiritual da alta modernidade como totalidade e permanência, ao contrário, mostra que é necessário compreender as exigências colocadas pelo absolutamente inacessível, mostra que é preciso estar livre das amarras do historicismo. Tal compreensão, que faz parte do princípio profético, expressão humana e verbal do incondicionado, é encontrada no profetismo bíblico, que possuía uma concepção unitária do fato e procurava a síntese entre política e ética, pois eram revolucionários voltados para o passado e conservadores impulsionados pela paixão do porvir. Os profetas nada faziam sem invocar a tradição, no entanto, sua grande mensagem eram os novos tempos, sabiam servir-se do passado para as necessidades do presente. Todos pareciam ter em comum uma atitude realista. Abominavam a eloqüência abstrata e ao contrário dos profetas falsos estavam interessados no mundo real. A pregação do futuro não constituía o essencial de seus sermões, antes era o fruto e o resultado final do conhecimento aprofundado do mundo circundante.
Mas isso não basta: o princípio profético na alta modernidade não pode ser apreendido a partir da leitura dos profetas bíblicos e nem das Escrituras cristãs.
“Em primeiro lugar, (os evangélicos radicais) atacavam a doutrina de Lutero a respeito da Escritura. Deus não falara apenas no passado, tornando-se mudo no presente. Sempre falou; fala nos corações ou nas profundezas de qualquer ser humano preparado para ouvi-lo por meio de sua própria cruz. O Princípio habita nas profundezas do coração, não o nosso, naturalmente, mas o de Deus. Thomas Müntzer, o mais criativo dos evangélicos radicais, acreditava que o Princípio podia sempre falar por meio dos indivíduos. No entanto, para se receber o Princípio era preciso participar da cruz. “Lutero, dizia ele, prega um Cristo doce, um Cristo do perdão. Devemos também pregar o Cristo amargo, o Cristo que nos chama a carregar sua cruz.” A cruz, diríamos, representava a situação limite. Era externa e interna. Surpreendentemente, Müntzer expressa esta idéia em termos existencialistas modernos. Quando percebemos a finidade humana, desgostamo-nos com a totalidade do mundo. E nos tornamos pobres de princípio. O ser humano é tomado pela ansiedade de sua existência de criatura e descobre que a coragem é impossível. Nesse momento Deus se manifesta e ele é transformado. Quando isso acontece, o ser humano pode receber revelações especiais. Pode ter visões pessoais não apenas a respeito de teologia como um todo, mas sobre assuntos de vida diária”.
Porque se procuramos um lugar que não possa ser abalado, essa interpretação não pode estar pousada sobre experiência própria e nem mesmo da igreja. Pois, para fazer a leitura deste princípio profético na alta modernidade devemos ver quem nela de forma apaixonada levanta as bandeiras da justiça e da vida criativa. E também procurar onde se encontra o princípio protestante, que se expressa de forma paradoxal, ao fazer a crítica de pontos de vista estabelecidos. Crítica do movimento de expansão do reino de Deus e crítica da tentativa de limitar a profecia a um ponto de vista particular.
Submetido a este tribunal, a alta modernidade ganha em profundidade. E esta negação do tempo a partir da eternidade tem uma conseqüência fatal. Recusa-se a ser um simples ponto de vista. Considera que tudo depende, então, do grau de proximidade existente entre um clamor e o que acontece no mais íntimo de uma época. Tudo depende do grau de concretude e do tipo de força em seu interior disposto a anunciar o sentido da alta modernidade.
“O Deus do tempo é o Deus da história. Isso significa em primeiro lugar, que é o Deus que atua na história com destino a uma meta final. A história segue uma direção, algo novo há de criar-se nela e por intermédio dela. Essa meta designa-se de várias maneiras: bem-aventurança universal, vitória sobre os poderes demoníacos representados pelas nações imperialistas, chegada do Reino de Deus na história e, mais além da história, transformação da forma do mundo, etc. Os símbolos são muitos – alguns mais imanentes, como no profetismo antigo e no moderno protestantismo, outros mais transcendentes, como nas doutrinas apocalípticas posteriores e no cristianismo tradicional --, mas em todos os casos o tempo dirige, cria algo novo, uma “nova criatura”, como chama Paulo. O trágico círculo do espaço foi superado. A história tem um princípio e um fim definidos. No profetismo, a história é história universal. Negam-se as limitações espaciais, as fronteiras entre as nações. Para Abraão todas as nações serão benditas, todas poderão adorar a Deus no monte Sião, o sofrimento da nação escolhida tem o poder de salvar todas as demais. O milagre do Pentecostes supera as diferenças do idioma. Em Cristo salva-se e une-se o cosmo, o universo. Em sua tentativa de criar uma consciência humana indivisa, as missões têm um caráter universal. O tempo alcança plenitude na história e a história a alcança no reino universal de Deus, o reinado da justiça e da paz. Isso nos leva ao ponto decisivo da luta entre o tempo e o espaço. O monoteísmo profético é o monoteísmo da justiça. Os deuses do espaço suprimem, necessariamente, a justiça. O direito ilimitado de todo deus espacial choca inevitavelmente com o direito ilimitado de outro deus espacial. A vontade poder de um dos grupos não pode fazer justiça ao outro. Isso é válido para os grupos poderosos que operam dentro da nação e para as próprias nações. O politeísmo, a religião do espaço, é forçosamente injusto. O direito ilimitado de todo deus do espaço anula o universalismo implícito na idéia de justiça. Este é o único significado do monoteísmo profético. Deus é um porque a justiça é uma. A ameaça profética que pende sobre o povo eleito, de ser rechaçado por Deus, por causa da injustiça, é a verdadeira vitória sobre os deuses do espaço. A interpretação da história que nos dá o dêutero-Isaías, segundo o qual Deus chama os demais povos para castigar o povo por Ele escolhido, devido à sua injustiça, confere a Deus um caráter universal. A tragédia e a injustiça são próprias dos deuses do espaço; a realização histórica e a justiça o são de Deus que atua no tempo, e por seu intermédio, unindo no solidariedade o vasto espaço de seu universo”.
Quando analisamos o princípio profético a partir desta problemática, vamos constatar que ele não testemunha em benefício do presente, diferentemente da profecia clássica dos hebreus. Ele profere um não à alta modernidade, um não amplo, já que não critica a alta modernidade em concreto, de forma particular, pelo simples fato de que não aceitar os símbolos das forças demoníacas de nosso tempo. Ao renunciar a um não concreto à situação presente, apresenta um sim a esta situação. O não abstrato torna profanas todas as oposições e as rebaixa de tal modo que deixam de ter importância última. E por isso a paixão profética perde sua razão de ser. O individualismo religioso é, quando consideramos a situação da alta modernidade, movimento reacionário. E é terrível ver que, muitas vezes, está sob a proteção de um falso profetismo, cuja mensagem consiste em congregar tudo sob o mesmo não. Assim, o combate profético concreto perde força e fica amarrado diante das forças demoníacas da época.
Ao contrário, o princípio profético está envolvido na situação histórica concreta, tem a coragem de decidir e colocar-se sob julgamento, ao nível do particular. Sem esquecer que sua relação aponta ao incondicionado e que o ponto mais elevado que é possível alcançar no tempo está submetido ao não, mas nem por isso deverá perder a audácia do não e do sim concretos. E é a partir dessa compreensão do que significa o princípio do clamor profético na alta modernidade, que voltamos ao kairós, mas agora com novos conteúdos, construído enquanto responsabilidade irrecusável.
“Segundo o apóstolo Paulo sem sempre existe a possibilidade de acontecer o que, por exemplo, aconteceu no aparecimento de Jesus, o Cristo. A vinda de Jesus se deu num momento especial da história em que tudo estava preparado. Vamos discutir agora essa “preparação”. Paulo fala de kairós, para descrever o sentimento de que o tempo estava pronto, maduro, ou preparado. Esta palavra grega exemplifica a riqueza da língua grega em comparação com as línguas modernas. Só temos um vocábulo para “tempo”. Os gregos têm dois, chronos e kairos. Chronos é o tempo do relógio, que se pode medir, como aparece em palavras como cronologia e cronômetro. Kairós não tem nada a ver com esse tempo quantitativo do relógio, mas se refere ao tempo qualitativo da ocasião, o tempo certo. Algumas histórias do Evangelho falam desse tempo. Determinados fatos acontecem quando o tempo certo, o kairós, chega. Quando se fala em kairós se quer indicar que alguma coisa aconteceu tornando possíveis ou impossíveis certas ações. Todos nós experimentamos momentos em nossas vidas quando sentimos que agora é o tempo certo para agirmos, que já estamos suficientemente maduros, que podemos tomar decisões. Trata-se do kairós. Foi nesse sentido que Paulo e a igreja primitiva falaram de kairós, o tempo certo para a vinda de Cristo. A igreja primitiva e Paulo até certo ponto tentaram mostrar por que esse tempo era o tempo certo, e de que maneira o seu aparecimento tinha sido possibilitado por uma constelação providencial de fatores”.
Kairós significa tempo concluído, o instante concreto e, no sentido profético, a plenitude do tempo, a irrupção do eterno no tempo. Kairós não é um momento pleno qualquer, uma parte ou outra do curso temporal: kairós é o tempo onde se completa aquilo que é absolutamente significativo, é o tempo do destino. Considerar uma época como um kairós, considerar o tempo como aquele de uma decisão inevitável, de uma responsabilidade irrecusável, é considerá-lo enquanto princípio profético. Diante dessa responsabilidade irrecusável existem três posições que se definem na sua compreensão da alta modernidade: a concepção conservadora e a concepção progressista, que se apresentam com variáveis e modulações.
A concepção conservadora admite o surgimento do eterno no tempo, que repousa no passado, por essa razão nega toda mudança, presente ou futura. A força dessa concepção repousa no fato de que considera o eterno como dado e não como resultado da ação religiosa do ser humano. A concepção conservadora também reconhece o kairós, mas o situa no passado. Desconsidera que se aconteceu no passado como acontecimento único, é ele quem se revela também em todos os sim e não do passado, do presente e futuro. Sob tal visão repousam os conservadorismos. Perderam os sentidos supratemporal e transistórico do kairós.
A concepção progressista considera o eterno um alvo infinito, existente em cada época, mas que não se apresenta enquanto irrupção. Assim, os tempos tornam-se vazios, sem decisão, sem responsabilidade. Na concepção progressista existe uma tensão diante do que foi, mas a consciência de que o alvo é inacessível a debilita e produz um compromisso continuado com o passado. A concepção progressista não oferece nenhuma opção ao que está dado, transforma-se em progresso mitigado, em crítica pontual desprovida de tensão, onde não há nenhuma responsabilidade última. Este progressismo mitigado é a atitude característica do fundamentalismo religioso. É o perigo que ameaça constantemente, é a supressão do não e do sim incondicionados, a supressão do anúncio da plenitude dos tempos. É o verdadeiro adversário do princípio profético. Mas ao contrário de negarmos o conservadorismo e o progressismo, constatamos que reação e progresso estão entrelaçados na consciência do kairós. E é esse entrelaçamento que leva a um terceiro caminho.
E o terceiro caminho é a utopia. Sem o espírito utópico não há protesto, nem princípio profético. Isto é exato na medida em que cada tensão orientada para adiante comporta uma representação daquilo que deve vir e de como se entende a realização desse ideal. Eis porque o espírito da utopia está presente em todo agir incondicionalmente decidido, em todo agir orientado à transformação do presente. A utopia quer realizar a eternidade no tempo, mas esquece que o eterno abala o tempo e todos seus conteúdos. É por isso que a utopia leva, necessariamente, à decepção. Progresso mitigado é o resultado da utopia social desencantada.
A idéia do kairós nasce da discussão com a utopia. O kairós comporta a irrupção da eternidade no tempo, o caráter absolutamente decisivo deste instante histórico enquanto destino, mas tem a consciência de que não pode existir um estado de eternidade no tempo, a consciência de que o eterno é, em sua essência, aquele que faz a irrupção no tempo, sem fixar-se nele. Assim, a realização da visão profética se encontra além do tempo, lá onde a utopia pode perder força, mas não a sua ação.
Por isso, metodologicamente, toda expansão exige uma compreensão do momento vivido que vá além do meramente histórico, do aqui e agora. Deve projetar-se no futuro, deve entender que há no princípio profético da responsabilidade irrecusável um choque entre este kairós e a utopia, que pensa poder fixar a eternidade na alta modernidade. Tal desafio não pode ser resolvido por um ser humano, por mais que encarne o princípio da profecia. O sujeito da expansão serão, em última instância, as comunidades humanas.
Dessa maneira, quando falamos em expansão do reino de Deus nos vemos desafiados a discutir conceitos referentes às comunidades religiosas, quer os de ordem psicológica e sociológica, como de ordem histórica e social. Em termos formais, a comunidade religiosa consiste numa associação de pessoas que, na associação, se submetem à coletividade. A pessoa se transforma em quantidade e qualidade passando a interagir com o movimento da comunidade. A psicologia da religião nos mostra como o indivíduo toma a forma da comunidade religiosa e como muitas vezes entra em contradição com ele próprio, já que é um ser singularizado. No movimento psíquico desse tipo de comunidade alguns elementos se separam e se isolam, adquirindo eficiências por eles próprios. Isto porque um indivíduo é o resultado de uma longa evolução interior e sua pessoa está ligada por liames à vida em sua totalidade, que assim torna-se autônoma. Na comunidade religiosa, as forças de inibição, de reflexão e de matizações se transformam. Assim, podemos resumir essas transformações em duas leis:
A lei da imediaticidade, segundo a qual a comunidade religiosa não reflete, mas é, e por isso tem uma existência objetiva, é em si, não para si. Tal comunidade nem sempre sabe por que ela faz aquilo que faz. Quando acede é sempre através de certos indivíduos, mago, profeta ou sacerdote. A comunidade é imediata, vive o presente, mesmo quando aparentemente se baseia em promessas escatológicas. Esta lei da imediaticidade mostra a existência de um princípio espiritual imediato que se faz presente, que pode ser traduzido como o abandono ao instinto do momento em direção à disponibilidade da revelação espiritual do presente, revelação de uma espiritualidade subjetiva. Ou seja, a irracionalidade das motivações pode dirigir à demência ou à novidade criadora.
A outra lei da psicologia das comunidades religiosas é a lei da amplificação. Se a vida espiritual do indivíduo perde inibições, se tal fato se repete em cada indivíduo presente, o vivido por um suscita em outra pessoa experiência idêntica, porque a comunidade vivencia ela própria o ser comunidade religiosa. Essa lei nos leva a dois aspectos da vida da pessoa, o aspecto emocional e o aspecto intelectual. Em todo movimento da comunidade religiosa podemos observar a força do entusiasmo, a amplificação das paixões, que podem levar ao sacrifício. Do lado intelectual, a lei da amplificação age de forma mais discreta, porque o processo de reflexão não convém à comunidade religiosa por causa de sua complexidade.
De certo ponto de vista, o indivíduo está mais alerta que a comunidade religiosa, mas a comunidade pode se elevar bem acima das consciências subjetivas, com suas intuições mais simples, mas também maiores e também com sua clarividência disso, que prepara o princípio objetivo no momento presente. A amplificação pode levar ao monumental, mas também ao demoníaco. Por isso, podemos dizer que as leis da psicologia das comunidades religiosas são leis naturais. Elas são válidas onde as pluralidades religiosas se encontram reunidas.
Vemos, então, que a imediaticidade da comunidade religiosa faz com que desabroche nela instintos que estavam inibidos no indivíduo, o que traz à tona um princípio espiritual imediato: a disponibilidade à revelação espiritual. Essa imediaticidade é o que leva a comunidade ao irracional de baixo, à demência, ou ao irracional de cima, à novidade criadora.
Ao lado da imediaticidade, os aspectos emocional e intelectual são amplificados. As forças do entusiasmo são amplificadas de tal modo que podem levá-la ao sacrifício e destruição. Assim, a comunidade religiosa se eleva acima das consciências individuais com intuições simples, mas com clarividência disso. Este processo prepara o princípio objetivo no momento presente. Quando objetivamente a comunidade religiosa vive esse processo de espiritualização, nela, religião e cultura se misturam. A esse momento de desenvolvimento da comunidade religiosa chamamos de comunidade mística.
No contexto geral de uma análise da expansão do reino de Deus não se pode deixar de levar em conta que o desenvolvimento histórico dá nascimento a diferentes tipos de comunidades religiosas, conforme o modelo de desenvolvimento das relações entre religião e cultura. O primeiro estado consiste em uma unidade onde os dois ainda não se distinguem. Uma segunda etapa é marcada pela autonomia da cultura: assim, ela se diferencia mais e mais da religiosidade mística, em direção às religiosidades secularizadas da alta modernidade.
Mas esta ruptura e separação são catastróficas tanto para a cultura como para as religiosidades, por isso caminham para uma superação através da teonomia, que se caracteriza pela presença do conteúdo religioso nas formas autônomas da cultura. Podemos reconhecer os elementos desse processo na descrição dos diferentes tipos de comunidades religiosas.
A comunidade mística corresponde à religiosidade de origem: é a fusão dos indivíduos numa comunidade que engloba tudo. Vem em seguida a etapa da autonomia, onde os indivíduos se diferenciam cada vez mais da comunidade mística de origem, até tornarem-se completamente independentes e separados. Mas ainda é comunidade religiosa sem forma e cultura, que não se colocou em movimento e caminhou para um estado de individualização. Essa é o estado de comunidade religiosa dogmática, característica da moderna sociedade industrializada. A partir daí surge a perspectiva de uma etapa onde a comunidade religiosa e a pessoalidade formarão uma síntese nova chamada comunidade religiosa orgânica, que corresponderá ao ideal da teonomia. Logicamente, nem sempre se caminhará nesta direção, mas o tempo histórico que orienta nessa direção é o da comunidade religiosa dinâmica ou missionária.
Dessa maneira, a comunidade dinâmica ou missionária é sempre kairótica no sentido de fé espiritual e social. É necessário que ela seja kairótica, porque o sentido de seu movimento é precisamente ir além do estado de comunidade religiosa e todas as formas que são responsáveis por este regulamento. Assim, o movimento da comunidade religiosa dinâmica ou missionária parte da comunidade dogmática e é essencialmente um movimento do kairós, pois o movimento da comunidade dinâmica parte da comunidade dogmática, já existente ou em perigo de aparecer, e por visar à comunidade orgânica, não importando que esse começo seja ou não atendido, visa, em última instância ao reino de Deus e à supressão de toda e qualquer comunidade.
Na perspectiva da expansão do reino de Deus vemos que os movimentos de comunidades religiosas dinâmicas ou missionárias são encontrados nos movimentos religiosos da época do cristianismo primitivo helenístico, no movimento religioso da Reforma, nos movimentos avivalistas norte-americanos e nos movimentos evangélicos brasileiros a partir de 1950. Embora esses movimentos possam ser encontrados em diversas épocas, também o são em diferentes esferas da cultura, mas são sempre movimentos do kairós, já que são parteiras de escravos, de povos excluídos e de pessoas destituídas de bens e direitos.
Tal visão abre perspectivas na compreensão da ética e expansão do reino de Deus e na análise de diferentes situações históricas, em especial do momento vivido hoje no Brasil. A questão da transformação da sociedade, por exemplo, pode ser compreendida melhor através do caminho metodológico que propomos a partir da leitura e expansão do reino de Deus no Brasil.
Dessa maneira, podemos exprimir numa linguagem metafísica dois elementos do conceito Deus: como o ser mais real de todos, ou seja, como soberano de um reino, e Deus como pessoalidade, o Cristo da igreja cristã.
Na consciência das comunidades religiosas é o primeiro elemento que domina, e na consciência protestante é o segundo elemento. Para as comunidades religiosas, a graça é uma comunicação da substância divina, para o protestante, a graça é a comunhão ética com a pessoalidade ética de Deus. A explicação dessa diferença parte do fato de que as religiosidades produzem comunidades de massa e uma mística suprapessoal que não se opõe às religiões de massa, mas, ao contrário são muitas vezes decorrência delas. Já o protestantismo, que foi beneficiado pela emergência de personalidades e também comunidades, elementos que não se excluem, perdeu as massas.
A história das religiões mostrava que o elemento fundamental das religiosidades é a aspiração não-racional presente nas formas, que vibra interiormente sob o efeito da irradiação do que não pode ser capturado através da lógica e da lei ética. Fenômeno este que nos remete ao conceito de reino de Deus enquanto dimensão intrínseca à fé humana e, por extensão, presente também no cristianismo. Este conceito pode ser então compreendido a partir de três elementos: a intuição da presença do sagrado; comunidades religiosas que reúnem pessoas antes separadas umas das outras; e autoridade essencial à vida, que se manifesta através da tradição e dos símbolos.
Embora a igreja protestante, e por extensão evangélica, tenha nascido de um protesto crítico contra a absolutização desses elementos do reino de Deus na instituição católica romana, tal substância universal deve ser entendida como princípio do cristianismo, que deve também se fazer presente no protestantismo.
Por isso, dizemos que o princípio protestante é subconjunto e centralidade do reino de Deus, enquanto relação entre a manifestação da essência na existência e a afirmação do significado do evento crístico. Ao afirmamos que o princípio protestante é subconjunto do reino de Deus estamos dizendo que o reino de Deus apresenta-se sob as dimensões históricas e transistóricas como identidade subjacente. Ou seja, quando nos referimos à história e à cultura é a substância que, para além de toda a situação, nos fornece os símbolos de uma situação última, a unidade universal do reino de Deus. Dentro dessa unidade universal do reino de Deus encontra-se o princípio protestante enquanto evento fundante do cristianismo, que tem uma relação de centralidade com o reino de Deus. É o princípio protestante que retira da figura humana de Jesus tudo que nela poderia ser materializado como idolatria, por sua facticidade histórica. É por meio do símbolo da cruz que desaparecem as particularidades e o finito do evento Jesus, dando lugar ao significado presente do Cristo.
O paradoxo do aparecimento do Cristo na existência sem a deformação da existência é uma interpretação radical do símbolo da cruz que, segundo Dourley, salva o significado da crucifixão da idolatria de se permanecer na adoração de um objeto histórico e por isso limitado, finito, enclausurado num tempo e espaço passados. O princípio protestante, lido sob tal perspectiva, apresenta a cruz como presente e fim, como revelação e escathon que remetem ao kairós.
Mas, o protestantismo reformado caiu numa armadilha ao abandonar a unidade universal da substância, que mantém e possibilita o resgate do sentido de Deus nas profundezas do humano. Devido a esse deísmo bíblico, em sua aridez do “deo dixit”, da palavra que se resume na ética do texto, as profundezas da interioridade humana foram esquecidas e perderam seu vigor teológico. Por isso, propomos a manutenção da relevância do kerigma cristão, tão a gosto de Barth, em aliança com o reconhecimento da presença do sagrado expresso na cultura e nas dobraduras da secularidade.
É a partir daí que trabalhamos com o conceito de comunidade religiosa, como definição de um processo de essencialização, já que o significado da vida, existencial e pessoal consiste na recuperação do ser essencial em Deus. É claro que para o protestante tal comunidade religiosa é latente antes do encontro com a revelação crística e é manifesta depois desse encontro. E nesse processo de essencialização, ainda para o protestantismo, Cristo é o elemento que possibilita o kairós, pelo qual a história humana sempre esperou. A partir daí entendemos que há um processo de essencialização das pessoas e das comunidades, que vivem processos de essencialização sob o poder crístico, enquanto membros de uma comunidade mística. E mais, consideramos que esta comunidade mística está teologicamente ligada à comunidade dinâmica ou missionária e por ela pode ser levada ou não a Cristo, cuja fé, solidariedade e cruz estabelecem o fenômeno da conversão, enquanto mudança de sentido de uma participação latente para uma participação manifesta no reino de Deus. Dessa maneira, é a fé e a solidariedade que levam à autocrítica radical capaz de estabelecer distinção entre o essencial e as formas através das quais o essencial se manifesta. A afirmação de que a comunidade mística se complementa na comunidade dinâmica ou missionária justifica a missiologia cristã, pois a comunidade mística está relacionada com a cultura e a presença espiritual torna necessária uma mudança radical na atitude para com o que é incondicional. Apesar dessa leitura da relação existente entre princípio protestante e reino de Deus, devemos combater toda expressão de arrogância na relação entre comunidade dinâmica ou missionária e comunidade mística, ao reconhecer a presença da espiritualidade nas religiosidades e na cultura. Por isso, a missiologia precisa combinar ofensiva e mediação. Ofensiva no sentido barthiano e mediação no sentido de correlacionar o kerigma com a questão cultural.
Assim, o conceito de reino de Deus é valioso para a compreensão da missiologia, principalmente no protestantismo. A missão cristã, partindo desta leitura admite que a realidade manifesta no kairós está em ação na cultura. Dessa maneira, a tarefa missionária consistiria em procurar identificar as maneiras por meio das quais o que é essencial, manifesto no evento Cristo, se faz presente na cultura. Tal procura possibilita a apropriação missionária da experiência cristã ao considerá-la enquanto manifestações do essencial, além de sinalizar caminhos nos quais a autocompreensão cristã pode ampliar contatos com culturas e povos.
Tomemos como exemplo o protestantismo batista que em suas origens, e aqui nos remetemos aos movimentos religiosos separatistas da Inglaterra no século dezessete, apresentou-se com duas vertentes, uma cognominada “batistas gerais” e outra “batistas particulares”. Os primeiros desenvolveram posições que os aproximaram do pensamento teológico arminiano e os segundos do pensamento calvinista. Assim, não é de estranhar que os primeiros sempre tenham tido uma compreensão de aspectos do reino de Deus na forma de universalismo, inclusivismo e luta pela plena liberdade de expressão religiosa de todo e qualquer comunidade. Essa era a visão de John Smyth, primeiro pastor (1610-1612) batista na Inglaterra, que coerente com sua compreensão teológica levantou a bandeira da “liberdade de consciência absoluta”, dando início à trajetória batista de ação política engajada na luta pela liberdade religiosa. Outro pensador batista geral, Guilherme Dell, conhecido por suas fortes convicções teológicas a respeito da livre expressão do ser humano, em 1646, destacou-se pela luta a favor da liberdade religiosa na Inglaterra. Escreveu o livro Uniformidade Examinada, que postulava a tese de que a unidade deve existir sem uniformidade, uma vez que a última era má e intolerável, excluindo toda a liberdade concedida por Deus. Essa era uma nova argumentação favorável a liberdade religiosa. Mas, talvez o livro mais revolucionário da teologia batista, que apresenta uma visão do reino de Deus entendida em um de seus aspectos, o do universalismo, seja o de Hosea Ballou (1771-1852), Tratado sobre a Expiação, escrito em 1805. Ballou considerou que o sacrifício de Cristo ao invés de ser uma posição jurídica tem base moral. Assim, Cristo sofreu pela humanidade, mas não em seu lugar. Com base neste argumento, afirmou a salvação universal de todos os seres humanos, porque a morte leva a alma não regenerada ao arrependimento. Logicamente, por ser uma confissão protestante de forte cunho missionário, as reflexões teológicas sobre o universalismo influenciaram a ação missiológica batista. E o pai das missões modernas, o batista inglês William Carey (1761–1834), apesar de ter iniciado seu trabalho a partir dos batistas particulares, no correr de sua obra missionária na Índia, construiu uma visão de missões até então inédita: dela participariam todas as igrejas e comunidades, todas as classes sociais, e sua ação, considerada civilizatória na época, passou a ser calcada num entendimento não paternalista de ação social. Depois de sua morte, esta visão missiológica, que tinha por base uma compreensão instintiva do reino de Deus, cedeu lugar a novas propostas.
Mas a partir do final do século vinte, a experiência de Carey e as leituras de outros pensadores batistas gerais voltaram à baila, trazendo para a missiologia uma compreensão da importância do reino de Deus. Assim, Don Richardson, professor de missiologia, vê na história exemplos de ponte entre o que ele chama de revelação geral e o kerigma, a revelação crística. Ou seja, Deus se mostra na espiritualidade de pessoas e comunidades, o que leva ao reconhecimento do evento crístico. Ele chama esta presença do essencial na existência humana de “fator Melquisedeque”, recorrendo ao nome do sacerdote a quem Abraão prestou homenagem.
Em seu livro O Fator Melquisedeque, best-seller entre os protestantes de missões no Brasil, Richardson enumera casos de comunidades as quais Deus falou mesmo antes da presença cristã, citando com bom humor alguns casos relatados nas Escrituras, como o de Nínive, capital da Assíria, que ouviu as imprecações mal-humoradas de um judeu, aceitou a exortação e foi essencializada. E pergunta quem reconheceu que o Messias havia nascido em Belém, além dos pastores? Claro, nós sabemos: os astrólogos do Oriente, considerados pagãos pelos judeus. Ou ainda o caso do funcionário etíope que foi a Jerusalém e só encontrou o preconceito. Mas ouviu da revelação crística através de Filipe. Richardson fala ainda de comunidades que possuem relatos semelhantes aos da criação e do dilúvio descritos na Bíblia e mesmo de comunidades místicas que contam que, em seu caminhar nômade, perderam o livro que falava sobre o Deus que criou o mundo.
John Sanders, pensador arminiano, seguindo o caminho aberto por Hosea Ballou, considera que o amor de Deus pelos seres humanos nunca ficou suspenso esperando que missionários levem o Evangelho àqueles que não conhecem o evento crístico, embora deseje que todos ouçam acerca das coisas que seu Filho tem feito. Assim, afirma,
“o Espírito age ativamente quando, onde e como ele quer, trazendo pessoas para um relacionamento com Deus, antes mesmo que o Evangelho as alcance”.
E o escritor C. S. Lewis, tão querido e estudado pelos batistas, considerava que os que se entregam em fé àquele que está por detrás de toda verdade e bondade serão salvos, mesmo que nada saibam sobre o evento crístico. Diz Lewis:
“Há, pessoas em outras religiões que estão sendo guiadas pela influência secreta de Deus para se concentrarem naqueles pontos de sua religião que estão de acordo com o cristianismo e que assim pertencem a Cristo sem o saber”.
Em outro lugar trecho escreve:
“Eu acho que toda oração que é feita sinceramente, mesmo a um falso deus (...) é aceita pelo Deus verdadeiro e que Cristo salva muitos que não acham que o conhecem.”
E nas Crônicas de Nárnia, Lewis conta a história de um homem chamado Emeth, verdade em hebraico, que fora criado num país onde o principal deus chamava-se Tash. Emeth lutou contra o país de Nárnia, cujo Deus era Aslan, uma figura crística. Através de uma série de circunstâncias, nosso herói Emeth tem uma visão do deus Tash e percebe que Tash é o maligno. Impelido pela visão, ele vagueia pelos bosques. Lá Aslan o encontra, e acontece o seguinte diálogo:
-- Ai de mim, Senhor! Não sou filho teu, mas, sim, um servo de Tash.
-- Criança, todo o serviço que tens prestado a Tash, eu o considero como serviço prestado a mim... por sermos o oposto um do outro é que tomo para mim os serviços que tens prestado a ele. Pois eu e ele somos tão diferentes, que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim e nada que não seja vil pode ser feito para ele. Portanto se qualquer pessoa jurar em nome de Tash, e guardar o juramento por amor a sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mesmo sem saber, e eu é que o recompensarei. E, se um ser humano cometer alguma crueldade em meu nome, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Tash que está servindo e é Tash quem aceita suas obras...
E constrangido, Emeth acrescenta:
-- Mesmo assim tenho aspirado por Tash todos os dias da minha vida.
-- Amado, não fora o teu anseio por mim, não terias aspirado tão intensamente, nem por tanto tempo. Pois todos encontram o que realmente procuram.
Para Lewis, Deus salva pessoas e comunidades de acordo com o princípio da fé descrito por Paulo em Romanos (2.7), “Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal”.
Assim, podemos ver que o protestantismo de missões e os batistas, não enquanto instituição, mas em sua ação missiológica têm vivido uma prática de expansão do reino de Deus. Assim, podemos dizer que essa leitura apresenta as bases para uma esperança maior no modo específico no qual o desejo de Deus de essencializar os seres humanos pode ser realizado. O ponto de vista defendido é que Deus ama todos os seres humanos e deseja que sejam salvos. Todos são essencializados em razão do evento crístico, quer sejam conscientes ou não desse evento que projeta o kairós. Dessa maneira, o universalismo dos batistas gerais apresenta a comunidade mística como comunidade que caminha, pela obra expiatória que desconhecem em direção à essencialização. Ou em linguagem batista, Deus aceita todos os que exercem fé nele, sem levar em consideração até que ponto vai o conhecimento dessas pessoas.
É importante dizer que o conceito de reino de Deus se encontra em processo de correlação com o princípio protestante, e que mesmo nas mais diferentes confissões protestantes, como é o caso dos batistas, encontramos defensores da expansão do reino de Deus como fundamental para a vida teológica. É o caso de A. H. Strong, um dos teólogos mais respeitados no meio batista, que entende dessa maneira o processo de essencialização, embora não utilize nossa terminologia. Tais considerações nos permitem dizer que, provavelmente, o conceito de reino de Deus represente a abordagem mais próxima de um consenso entre os pensadores cristãos na atualidade.
Mas aqui queremos acrescentar algo: é impossível entender a cristologia do princípio protestante sem analisar a importância da antropologia. Essa antropologia baseia-se na compreensão de que a humanidade é imagem de Deus e se encontra em choque com a alienação da alta modernidade. Mas a memória humana persiste como impulso na direção da recuperação do mau encontro exposto por La Boétie. Esta dialética traduz e explicita a presença da espiritualidade do espírito humano.
Quando afirmamos que a brasilidade é universalmente espiritual, partindo da tensão entre universal e particular, localizamos o particular no contexto do universal. Em vez de considerar a realização plena do universal na revelação cristã, objetivamos a particularidade no contexto dessa brasilidade universalmente espiritual. Tal ênfase exige que apreciemos as manifestações do essencial no multiculturalismo brasileiro. Mas nem por isso o compromisso com a fé cristã é diminuído. Ao contrário, a fé é aprofundada por meio do reconhecimento das variações daquilo que os cristãos percebem no evento Cristo, tanto nas religiosidades como nas dobraduras da secularidade. Assim, a radicalidade do princípio protestante pode ser aplicada às materializações do reino de Deus na direção da essencialização do humano, denunciando as expressões idolátricas que ameaçam a comunidade humana.
Afrobrasilidade e Princípio Protestante
Ao percorrer os caminhos da afrobrasilidade ao longo dos últimos três séculos encontramos as raízes que explicam a miséria da nação. As bandeiras da emancipação, da democracia e da justiça social continuam urgentes hoje tanto quanto em épocas passadas. Essas bandeiras, sociais e políticas, traduzem a fragilidade do protestantismo evangélico no Brasil, que, no correr das últimas décadas, parece ter crescido muito, mas pouco tem feito em relação aos excluídos. Embora o princípio da liberdade religiosa tenha sido parte integrante da fé dos primeiros batistas ingleses e a luta pela liberdade vista como um direito humano, é importante lembrar que o protestantismo histórico brasileiro, herdeiro das tradições sulistas norte-americanas, se não foi abertamente escravista, foi condescendente e omitiu-se diante da exclusão forçada dos afrobrasileiros. E a história batista no Brasil confirma isso.
A Denominação Batista também foi atingida pelo divisionismo ocasionado pelas atitudes frente à escravidão. Em 1845, os batistas norte-americanos separaram-se conforme o posicionamento contra a escravidão. Organizou-se a Convenção Batista do sul para abrigar as igrejas que admitiam o trabalho escravo, representando delegações de oito estados do sul escravista. Foi a Convenção Batista do Sul dos EUA que estabeleceu a Denominação Batista em solo brasileiro. A guerra de Secessão, na década de 1860, concretamente demonstrou a divisão vigente na sociedade e no protestantismo norte-americano. "Nos Estados Livres, a ascensão dos evangélicos de mentalidade reformista tinha dado um novo sentido de direção e de propósito moral a uma classe média ascendente tentando se adaptar a uma nova economia de mercado. O Sul com seus degredados trabalhadores cativos e seus brancos pobres e preguiçosos - parecia estar, para a maioria dos nortistas, num processo de violação flagrante da ética trabalhista protestante e do ideal da concorrência aberta".
Após a derrota do sul dos Estados Unidos, muitos confederados, inclusive ex-combatentes, vieram tentar a sorte no Brasil, especialmente em São Paulo. A relação entre o protestantismo e a vida política, para os agentes da imigração norte-americana para o Brasil, era olhada de maneira estreita. Parte deles, pastores protestantes, a exemplo do reverendo B. Dunn, via o país como uma nova Canaã onde os confederados derrotados poderiam reconstruir suas vidas, seus lares e suas propriedades, incluindo a mão-de-obra escrava. Em seu livro “Brazil, The Home for Southieners”, Dunn apresentou o país dessa maneira, o que ajudou os sulistas olharem o Brasil como uma alternativa segura. O médico M. F. Gaston, por exemplo, veterano do Exército Confederado e originário da Carolina do Sul, que escreveu Hunting a Home in Brazil, faz no livro um relato minucioso das vantagens que os sulistas encontrariam aqui. O sudeste brasileiro, com terras quase virgens, era apresentado como possibilidade para bons empreendimentos. Ele disse, após ter visitado as terras da região de Campinas, que “as vantagens para o cultivo do algodão nessa região dão-lhe primazia sobre a parte meridional dos Estados Unidos. O elemento adicional do trabalho escravo está aqui apto a trazer resultados que não podem ser assegurados pelo trabalho assalariado nos Estados Sulistas; e tão logo os negros se tenham familiarizado com o modo adequado de trabalhar o algodão, poderemos antecipar uma produção excedendo a qualquer uma que já tenha sido realizada nos Estados Unidos”.
A propaganda desses agentes da imigração surtiu efeito: cerca de dois mil e quinhentos sulistas se deslocaram para São Paulo. A esperança de encontrar terras em abundância com mão-de-obra escrava mobilizou famílias inteiras. E assim chegaram as primeiras famílias batistas à colônia de Santa Bárbara D’Oeste. Porém, nem todos os batistas aqui chegados eram favoráveis à escravidão. Na verdade, os batistas tiveram duas atitudes frente à ela: os primeiros colonos eram favoráveis e foram proprietários de escravos. Já os missionários e os batistas brasileiros em geral, após a abolição, em 1888, condenaram o escravismo como incompatível com a fé cristã. Essas diferentes atitudes demonstram as dificuldades que tinham para tratar do assunto. Em Santa Bárbara D’Oeste, primeiro núcleo batista, o trabalho escravo existiu como mão-de-obra usada na agricultura e em tarefas domésticas. Os colonos batistas eram senhores de escravos, a exemplo da senhora Ellis, dona de um sítio e que providenciara hospedagem nos primeiros meses ao casal de missionários W. Bagby, fundador da Primeira Igreja Batista do Brasil. Conforme o diário da senhora Bagby, “depois de dormir uma noite na capital paulista, os missionários tomaram o trem para Santa Bárbara, onde chegaram sob forte aguaceiro. Na estação os aguardavam os enviados da senhora Ellis, com dois cavalos e um escravo, para carregar a bagagem. A estrada até o sítio estava bem lamacenta mas ao chegar, foram carinhosamente recebidos”.
Conforme conta Crabtree, a Junta de Richmond, nos EUA, ao avaliar, em 1859, as possibilidades de envio de missionários para o Brasil, admitiu que havia similaridades entre os dois países e uma vantagem que deixaria os missionários norte-americanos bem aclimatados em terras brasileiras, o fato de, em ambos os países, haver escravidão: “o Brasil era como os Estados Unidos, tem escravos e os missionários enviados pela Convenção Batista do Sul não podiam sentir-se constrangidos a combater a escravatura e assim envolver-se na política do país”.
E o missiólogo batista Donaldo Price confirma as razões de tal escolha: “Os primeiros batistas que aqui chegaram, chegaram como imigrantes, não como missionários. Chegaram depois da derrota sulista na guerra entre os estados, ou a guerra civil norte americana. E queriam vir para uma nação que ainda tivesse escravatura, assim escolheram o Brasil”.
Passados quase 120 anos do decreto que reconheceu o direito do povo negro à liberdade, a ideologia do ocultamento ainda domina o pensamento protestante. Assim, Elisabete Aparecida Pinto e Ivan Antonio de Almeida denunciam que na organização do IV Ciclo de Reflexão e Debates do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Etnicidade e Saúde da FALA PRETA!, em 1998, que teve como tema Religiões e a Inclusão/Exclusão de Pobres, Negros, Mulheres no Mundo Globalizado, “esta dificuldade foi percebida pela ausência (...) das Igrejas Pentecostais, Neopentecostais e Batistas. Essas instituições aceitaram o convite, confirmaram presença, porém no dia e hora marcados não se sentiram preparadas para a natureza do debate”.
Em razão da ideologia do ocultamento, é necessário entender que as bandeiras emancipatórias são indissociáveis da pregação das boas novas, e precisam ser vividas como tradução do cristianismo que professamos. Assim, ética cristã e democracia não podem ser olhadas como excludentes. Ao contrário, se complementam e precisam ser vivenciadas na Igreja e além-muros, se desejamos fazer com que o significado histórico do projeto protestante evangélico marque nossa presença no futuro da nação.
A partir dos clamores éticos da profecia bíblica, lida através da cosmovisão luterana da Reforma protestante, Paul Tillich apresentou uma compreensão da práxis cristã que ele chamou de princípio protestante. Assim, o princípio central do protestantismo seria a doutrina da justificação pela graça apenas, significando que nenhuma pessoa ou comunidade humana pode reivindicar para si a dignidade divina em conseqüência de conquistas morais, de poder sacramental, de sua santidade ou de sua doutrina. Conseqüentemente, a autonomia profética precisa sempre criticar, condenar e transformar o status quo ou os sistemas morais, políticos e sociais que se consideram sagrados. Cada protestante tem que decidir por si próprio se determinada conjuntura, doutrina ou sistema social é verdadeiro ou falso, se os profetas existentes em seu meio são verdadeiros ou falsos e se o poder estabelecido é divino ou demoníaco. Para os protestantes a decisão será sempre pessoal.
Tal protestantismo entendido como expressão crítica e autônoma existe onde quer que se proclame o poder do novo ser e onde se denuncie situações-limite que ameacem o sentido da vida. É aí que se encontra o protestantismo e em nenhum outro lugar. É possível que o protestantismo sobreviva nas religiões organizadas, mas não depende delas, talvez por isso a maioria das pessoas experimente o sentido da situação-limite fora das igrejas, já que o princípio protestante pode ser proclamado por movimentos pertencentes tanto ao domínio secular, sem qualquer filiação eclesiástica, assim como por pessoas e grupos que por meio de símbolos protestantes expressam a situação humana em face do incondicional. Se nessas situações proclama-se com mais autoridade o princípio protestante do que nas igrejas, então é aí e não nas igrejas que o protestantismo se torna vivo e atual. Tomando-se por base tal compreensão, entendemos a luta histórica do povo negro e de seus descendentes no Brasil como um clamor permanente contra situações-limites a que estiveram e estão expostos.
A chamada a um posicionamento transcendente, de resistência ao impacto da herança de exclusão deveria levar a Igreja protestante a elaborar uma mensagem para o mundo afrobrasileiro. Mensagem de esperança. Mas a igreja que não aprendeu a protestar é sempre tentada a emancipar o afrodescendente através da submissão à hierarquia e à tradição, esquecendo-se que ele já experimentou a autonomia e que esta é uma experiência transformadora.
O conceito de situação-limite traduz aquela ameaça a tudo que dá sentido final à existência, e este o diferencial do protestantismo. Esta expressão, como vimos, nasceu em torno da justificação pela graça, através fé, já que a vida em liberdade significa a aceitação da exigência incondicional de se realizar a verdade e se fazer o bem. Assim, o reconhecimento da existência da situação-limite traduz-se em juízo e transformação, realça a diferença entre a religiosidade que faz a defesa da hierarquia e da tradição e o princípio protestante. A justificação pela fé é, então, entendida a partir da situação-limite. Por isso, sem uma relação universal com o mundo ético a noção de autonomia da pessoa não basta para construir uma ética. Ou seja, não se funda uma ética protestante apenas sobre o terreno da pessoalidade. Mas é importante entender que não existe uma interpretação absoluta da essência, fonte da ética, já que essa essência não é uma grandeza estática, mas se realiza de forma dinâmica na existência. Por isso, não se pode subscrever nem a construção de uma ética social absoluta, nem uma construção de tipo racionalista. Toda compreensão real da essência e como conseqüência toda ética real são concretas. Essa essência se situa naquele momento especial, pleno de liberdade e que revoluciona conceitos, ações e destinos. A universalidade desse tempo de kairós comporta riscos concretos, já que não se move num universal abstrato, separado da situação atual, o que é válido tanto para a pessoa, quanto para a consciência ética de um grupo social, no nosso caso da brasilidade em sua relação com a afrodescendência. Exatamente por isso, toda realidade essencial comporta dois aspectos, aquele a traz de volta à origem, ao fundamento de todo ser e um outro que indica seu caráter particular, sua inserção na finitude.
Assim, a realização da essência da brasilidade, em sua relação com a afrodescendência, deve se orientar em direção a ela própria, na medida em que essa manifestação de sua origem criativa remete ao que é perene nela. Exprime o que lhe é próprio, suas solidariedades no plano formal e sua finitude. Por isso, uma ética da brasilidade deve transportar ao transcendente e ao mundo, que em última instância são o bem decisivo de nossa existência concreta. Ao nos posicionarmos por uma ética que parte da essência de nossa brasilidade nos posicionamos por uma ética da vida. E tal compreensão leva-nos a estudar o desenvolvimento criativo desta essência brasileira enquanto vida que irrompe na história, criadora de um novo ser.
E a partir daí podemos afirmar que a experiência do cristianismo protestante em sua essência pode ser uma experiência transcendente ao nível da materialidade afrobrasileira, uma experiência que deve acontecer em todas as situações. Nesse sentido, tal protestantismo não poderia ser identificado com um tipo determinado de organização social, mas ser portador de poder e oferecer aos afrobrasileiros uma mensagem de vida, tanto para a pessoa como particularidade, como para as comunidades como um todo. Exatamente por isso, apresenta-se capenga toda forma de cristianismo, protestantismo, evangelicalismo que se fecha na pura interioridade. Mas também não se pode dizer que o cristianismo do princípio protestante é um movimento que parte mecanicamente da interioridade em direção à exterioridade, apropriando-se de formas multiculturais afrobrasileiras ou simplesmente passando ao largo delas. Na verdade, ele toma forma a partir delas, mas também dá forma às expressões multiculturais afrobrasileiras. Dessa maneira, um tal cristianismo do princípio protestante está interpenetrado pela consciência experiência estética, ética e pelos modelos sociais da afrobrasilidade.
O princípio protestante, ao fundamentar-se numa ética do amor-companheiro, daquele que parte e reparte o pão, tem uma postura crítica diante da ordem social que se apóia na opressão e na exclusão social. Nesse sentido, clama pela necessidade de uma ordem na qual o sentido de comunidade seja o fundamento da organização social. Esta ética do amor propõe uma economia solidária onde a alegria não seja fruto do ganho, mas do próprio trabalho. E condena o egoísmo de classe, onde cada qual procura enriquecer através da exploração de seu próximo e das conseqüências desse processo, como o privilégio da educação para uma elite. Tais pecados sociais são limitação do bem, porque impedem a universalização do amor; alienação da vontade, porque degradam a possibilidade de escolha dos agentes morais; e dependência do mal, porque aprofundam raízes e escravizam a comunidade. Diante disso o princípio protestante propõe que se enfrentem tais pecados com autonomia crítica, solidariedade e transformação social, por acreditar que esses posicionamentos políticos geram justiça, paz e participação solidária.
Ora, se rupturas espirituais estão sempre associadas a rupturas econômicas, da mesma maneira que um processo de unidade espiritual vem associado a um processo de unidade econômica, como considerou Tillich, o fracionamento espiritual característico de nossa épocas traduz fracionamento econômico, distanciamento e choque entre classes. Tal situação nos exorta a buscar a construção de um novo processo multicultural de unidade de onde brote unidade e solidariedade social e econômica, mas também espiritual. Ora, se é viável sonhar e lutar por processos de desenvolvimento que combinem mudanças espirituais e transformações econômicas e sociais, podemos afirmar que o protestantismo está eticamente obrigado a fazer uma escolha, ou participa do processo, atuando a favor desse desenvolvimento ou entra em processo de caducidade, ao afastar-se da vida real das comunidades afrobrasileiras nas quais está inserido.
Seja qual for a nossa opinião ética sobre a relação protestantismo e afrobrasilidade, um fato deve ser ressaltado: é necessário para o protestantismo manter um relacionamento com as pessoalidades, comunidades e a multicultura afrobrasileira, já que a rejeição da afrobrasilidade em nome de um protestantismo sem raízes contradiz a universalidade do cristianismo. E se o cristianismo não somente pode, mas deve manter um relacionamento com a afrobrasilidade, devemos nos perguntar se o contrário da premissa é verdadeira: pode a afrobrasilidade ter um relacionamento construtivo com o protestantismo? Para muitos, a tradição histórica de ausência e negação da negritude nega a possibilidade dessa aproximação, mas devemos ver que tal concepção mais que nada traduz uma relação de causalidade ideológica. Por isso, as pessoalidades, comunidades e as multiculturas afrobrasileiras estão desafiadas a construir atitudes diferentes em relação ao princípio protestante e em relação às estruturas ideológicas do protestantismo. A história do protestantismo no passado e no presente é passível de muitas críticas. Suas opções fizeram como que dificultasse seu relacionamento com parte da população afrobrasileira excluída de bens e possibilidades. Mas, ao contrário do que pode parecer, não podemos dizer que a ideologia branca do protestantismo de missões seja um fenômeno constitutivo do protestantismo. Antes, é uma herança da cultura burguesa.
Embora, haja razões históricas para criticar o protestantismo, erramos quando negamos a existência da base solidária do ideal cristão. Quer dizer, há setores do movimento de resistência do povo negro que vê com desconfiança o protestantismo. Mas, se as idéias de emancipação do povo negro não traduzem nenhuma oposição essencial, de princípio, ao cristianismo que vive o princípio protestante, aos cristãos cabe ter uma atitude solidária e fraterna com as reivindicações e lutas da afrobrasilidade. Atitude solidária e fraterna deve ser entendida como a realização do princípio do amor cristão, que entende a necessidade de eliminar as condições que geram miséria e exclusão. Tal atitude traduz a urgência de combater os fundamentos da exclusão racial e social e de ações para a construção de uma outra ordem social, que inclua excluídos e desapropriados de direitos e bens. Isto porque o princípio protestante só existe como ideal ético quando traduz anseios e esperanças dos mais variados setores das comunidades.
Joaquim Nabuco foi o primeiro brasileiro a apresentar uma visão globalizadora de nossa formação histórica. E o fez numa pequena obra de propaganda: O Abolicionismo. Nela, ele mostrou que a escravidão, que durou três séculos, não constituía um fenômeno a mais, de modo que deveria ser analisado em igualdade de condições com a monocultura e a grande propriedade agrária.
Para Nabuco, foi a escravidão que formou o Brasil como nação. Ela é a instituição que ilumina a compreensão de nosso passado. E é a partir dela que se definiram entre nós a economia, a organização social, a estrutura de classes, o Estado, o poder político e a própria cultura. A escravidão foi a protagonista por excelência da história brasileira. Historiadores, sociólogos e antropólogos começam a entender assim; porém, como representantes da Igreja, nós protestantes, raramente reconhecemos essa dívida intelectual, cultural e social. O autoritarismo tão típico de nossa elite, a dificuldade na construção da cidadania e a exclusão social estão intimamente ligadas a esses trezentos e setenta anos de escravidão e são as heranças trágicas da brasilidade. Assim, a escravidão gerou miséria e exclusão.
Devemos entender que nossas culturas são relacionais, o que significa que as relações entre as classes aparecem de forma difusa, sobre a base de relações sociais aparentemente pouco intervencionistas diante de uma sociedade civil incipiente, onde a interação entre o público e o privado se figura flexível e amorfa. Por isso, nessas culturas, as relações dentro das classes e, muitas vezes, entre elas se mostram mais gratificantes do que os motivos e fins que deram origem a essas relações. Assim, em nossas culturas relacional, os seus códigos devem ser entendidos a partir de uma chave dupla: é necessário partir das matrizes antropológicas, mas não se podem esquecer as pressões globalizadoras. E as matrizes antropológicas foram construídas a partir da polaridade de dois mundos e de duas realidades que têm suas origens com a escravidão: a casa, enquanto dimensão social permeada de valores, de espaços exclusivos e lugar moral, e a rua, enquanto movimento, trabalho, tripalium. O tripalium dá origem à palavra trabalho. É um instrumento de três piquetes usado para fixar animais quando se pretendia fazer intervenções veterinárias ou marcá-los a ferro. Foi utilizado pelos romanos, depois na Idade Média e posteriormente importado pelos colonizadores portugueses. Era utilizado nas fazendas brasileiras para conter os escravos quando castigados ou marcados a fogo. Essa situação traduz a relação existente entre senhores e escravos. A afirmação antropológica do padre Antonil, nosso primeiro economista, no século dezoito, de que “o Brasil é um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos” não é uma constatação biológica. Era um inferno para os negros porque para estes não havia esperança a não ser a morte, geralmente prematura. Para os portugueses era o purgatório porque estes acreditavam na possibilidade de fazer fortuna e voltar a Portugal. E era um paraíso para os mulatos porque estes já livres da escravidão: podiam transitar entre brancos e negros, crescendo em importância social pelo papel mediador que lhes era confiado.
Assim, o paraíso aqui é definido como resultante de um relacionamento cultural. Locus do mulato ou mulo, animal ambíguo, híbrido, incapaz de reproduzir-se enquanto tal. Apesar da grosseria racista do termo, será ele aquele que rompe a dualidade cultural, tão típica das sociedades protestantes e calvinistas, que opõe bem e mal, deus e diabo. Aqui, ao contrário, com a construção da multicultura afrobrasileira e com o mulato, dão-se as sínteses que traduzem nossas culturas relacionais. Ótimo exemplo é o nosso Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Nos países de cultura protestante burguesa, o negativo é o que está no meio. Aqui, o que está no meio é a virtude.
Antonio Manzatto (1994) analisa a antropologia dos personagens amadianos. Para ele, Jorge Amado vai além do regionalismo e realiza uma síntese magistral das identidades do brasileiro, extrapolando os marcos estéticos da literatura, para formalizar as bases das culturas relacionais afrobrasileiras, embora não faça a crítica do que se esconde atrás e por baixo da aparente cordialidade do brasileiro. As culturas relacionais escondem a injustiça social e a opressão sexual. Afirmamos que o Brasil foi formado por matrizes multiculturais: brancos, índios e negros, o que filtrado pelas culturas relacionais leva a uma ilusão, a uma mentira, como se brancos, índios e negros tivessem optado pela construção do país. A verdade é que portugueses brancos e aristocráticos exterminaram índios e escravizaram negros. Mas dessa maceração de povos, etnias, cores e culturas surgiram as brasilidades presentes em cada canto deste país, com riquezas particulares, diversidades que formam a multiculturalidade brasileira.
Claude Lévi-Strauss em O cru e o cozido (1964) nos leva a conhecer, por meio de uma abordagem estruturalista, como foi determinante no desenvolvimento da humanidade a passagem da alimentação crua para a cozida. A partir do título de inspiração culinária, Claude Lévi-Strauss refere-se às exigências do corpo e aos laços elementares que o ser humano mantém com o mundo. Assim, através da oposição aparentemente trivial entre o cru e o cozido, apresenta a força lógica de uma mitologia da cozinha, tal como concebida pelas tribos sul-americanas. Depois, traz a tona as propriedades gerais do pensamento mítico, onde descobrimos uma filosofia da sociedade e do espírito. E é interessante que este pensamento mítico vai empapar a multicultura relacional brasileira. No Brasil há códigos relacionais que traduzem equivalência entre comida e sexualidade, que tem como fundamento o prazer, e apresenta novos parâmetros para cru e cozido, que relaciona alimento, comida e sexo. Para a multicultura afrobrasileira, alimento é o que mantém os seres vivos, a comida, aquilo que dá prazer, e o sexo é sempre um tipo de comida. O alimento é geral e universal, mas a comida dá identidade e, como conseqüência, quem come tem o controle. O alimento cru por excelência é a salada, algo de pouco sabor, sem maiores atrativos, diferente da comida que é bem cozida, como papa ou pirão. O alimento é aquilo que é difícil de engolir, já a comida é arroz com feijão, síntese da afrobrasilidade. Herdeiros que somos das culturas das comunidades de angolanos, benguelas, jejes, nagôs e outras, onde o cuidado pela preservação da vida da comunidade cabia à mulher, na multicultura afrobrasileira é ela quem faz a mistura e quem dá a comida. Por isso, para Jorge Amado, mulher é dona Flor, moquequeira, articuladora de temperos, de cama e mesa. Ou Gabriela, de cravo e canela.
Na multicultura relacional afrobrasileira, o tempo vivido disputa com tempo lembrado. O tempo vivido é a rua, o movimento, é o tripalium. O tempo lembrado é o sonho, é o que foi e que deveria continua a ser. O tempo vivido é o suor e o cansaço. E a festa é a ruptura do tempo vivido. É o momento em que o corpo deixa de ser gasto pelo tripalium e é gasto pelo prazer. Talvez por isso, o maior acontecimento relacional da afrobrasilidade é o carnaval. É o momento do contrário. Troca-se o dia pela noite, a casa pela rua. A regra é o excesso. Não é uma festa de máscaras mas de fantasias. É uma leitura da liberdade considerada fim das regras e convenções. Vive-se o fim da miséria, o fim da escravidão, o fim do pelourinho. É a utopia socialista em versão brasileira, onde todos somos iguais diante da possibilidade do prazer. Ou como canta Ney Matogrosso: “Não existe pecado do lado de baixo do Equador / vamos fazer um pecado rasgado / suado / a todo vapor / me deixa ser teu escracho / capacho / teu cacho / diacho / riacho de amor / Vê se me usa / abusa / lambuza / que a tua cafusa não pode esperar / quando a lição é de escracho / olha aí / sai de baixo / que eu sou professor / deixa a tristeza pra lá / vem comer / vem jantar / sarapatel / caruru / tucupi / tacacá / vê se me esgota / me bota na mesa / que a tua holandesa não pode esperar / deixa a tristeza pra lá / vem comer / vem jantar / sarapatel / caruru / tucupi / tacacá”. (Ney Matogrosso, “Não existe pecado ao sul do equador”. Letra e música de Chico Buarque e Ruy Guerra, in: "Feitiço Elektra", 1978).
Esses códigos da afrobrasilidade caminham ao lado da questão racial. A solução relacional para a injustiça social foi a miscigenação e para a opressão sexual, o sincretismo. A oposição entre as culturas latinas, as culturas indígenas e as culturas negras não se tornaram irreconciliáveis, mas deram origem a uma diversidade de sínteses, à multicultura popular afrobrasileira. Essa multicultura mestiça é entendida como a maneira de o brasileiro viver a vida, seu gosto pela festa, pela música, pela dança, pela comida e pelo sexo. Mostra uma forma de viver em que a vida não é algo acabado e definido, mas que se vai construindo no concreto do cotidiano vivido. Essa é uma característica muito especial da multicultura relacional afrobrasileira, na qual a vida tem de ser reelaborada a cada dia. Não é uma forma multicultural fixa, mas vai-se modificando conforme se vai vivendo. Esses dados são fundamentais para se entender a questão da identidade do afrobrasileiro. Sua identidade não existe como algo dado. Também a identidade vai sendo construída e os elementos externos e as pressões mais novas, isto é, globalizadoras vão sendo deglutidas e vividos no hoje que se vive.
O concreto e imediato da vida do afrobrasileiro o leva a ser um ser relacional. Mais do que estar situado diante das coisas e da natureza, o realizar-se do afrobrasileiro como ser dá-se através do relacionar-se. Assim, não se considera prisioneiro do destino, das forças das coisas ou da natureza. É um ser que procura aliados, quer para a realização de seus prazeres, quer para enfrentar os desafios impostos por elementos ou realidades alheias a seu cotidiano. A essa procura de alianças, o afrobrasileiro chama de amizade e companheirismo. E se ele pode relacionar-se com seus pares, também o pode fazer com a transcendência. Para o brasileiro, o relacionar-se com o transcendente jamais significa uma negação do humano. Daí a intimidade que aparenta ter com a divindade. E nas religiões afrobrasileiras, que nasceram do sincretismo, das quais a Umbanda talvez seja o caso mais peculiar, os elementos constitutivos da personalidade dos orixás são traduções antropológicas do afrobrasileiro, inclusive de seus códigos relacionais.
Tanto o ideal de liberdade como outras características do afrobrasileiro traduzem uma profunda dimensão coletiva. Isso não elimina ou massacra sua pessoalidade, mas, na maioria dos casos, lhe permite reafirmá-la. E o massacre não acontece porque o afrobrasileiro é coletivo e comunitário, mas porque não sobrevaloriza as estruturas sociais. Assim, ao desprezar as estruturas, ao negar qualquer redução ao papel de simples engrenagem, reafirma a amizade e a solidariedade como formadoras do coletivo. Para ele, a liberdade, a amizade e a solidariedade acontecem na comunidade. É difícil imaginar o afrobrasileiro solitário. Ao contrário, a imagem cultural e social que temos dele, e que toda a cultura popular reflete é a do homem e mulher cercados de amigos, conhecidos e parentes. A sua práxis religiosa é sempre coletiva. A religião é sempre um acontecimento comunitário, quer falemos da Umbanda ou do pentecostalismo popular. Para o afrobrasileiro, a religião não pode ser vivida individualmente. A idéia de que a religião é questão de foro íntimo é uma abstração branca, calvinista ou tridentina. Ao contrário, na multicultura afrobrasileira todos discutem a religião do outro, opinam e querem vê-lo junto na mesma comunidade. E em relação às festas não poderia ser diferente. E festa implica comida, música e dança. Em condições normais, o afrobrasileiro não come, nem bebe sozinho. A comunidade é o espaço onde sua pessoalidade e criatividade atingem os níveis mais altos.
Um pensamento protestante que parta da realidade da multicultura relacional afrobrasileira não pode desrespeitar a negritude. Não pode negar os mundos negros considerados parte integrante da humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Ao contrário, deve partir da realidade antropológica da criatividade afrobrasileira, que em amplo espectro se traduz numa antropologia da aventura e do risco enquanto fonte da liberdade que busca.
Razões geográficas, históricas e raciais, nos últimos três séculos, levaram ao mergulho no desconhecido e plasmaram no afrobrasileiro essa atração pela aventura e pelo risco. O afrobrasileiro ama o desafio, não como futuro planejado, mas como espaço para a criatividade. Para ele, desafio é sempre se lançar à aventura da ruptura de regras, é dizer não às convenções e sobreviver pela coragem. Quando enfrenta esses desafios, que vai da sobrevivência no trapézio da economia informal ao transformar-se em Mané Garrincha nos gramados do mundo, está de fato modelando sua identidade. Mulato, não teme mergulhar nos desafios da cultura branca e globalizada. Aventura implica a possibilidade do fracasso. E fracasso faz parte do risco. Mas ao viver a dialética desse movimento, o afrobrasileiro constrói sua identidade, ainda que a um preço muito alto. Na verdade, é fazendo assim que ele sente-se livre e dá asas à sua criatividade, sem se preocupar com a construção do futuro. E se não fosse assim não estaríamos diante do afrobrasileiro. A dificuldade em globalizar o afrobrasileiro repousa aí: na cosmovisão de que a vida humana deve ser entendida como aventura e prazer. Como algo que não pode ser planejado, organizado, dimensionado, mas vivido. Dessa maneira, viver é estar aberto ao novo, ao desafio, ao que ainda não foi vivido, nem mesmo se planejou viver. A ação antropológica do afrobrasileiro nasce da possibilidade de escolher a vida que sonha viver, que ele tem liberdade para escolher viver. Nesse sentido, quer viver a cada dia um novo sonho. E como para ele ficção e realidade se entrelaçam, sua maior construção é o carnaval, já que gira ao redor da festa e do prazer. Comida e sexo, futebol e carnaval surgem como expressões maiores da possibilidade da utopia.
O pensamento protestante não pode estar preocupado em adaptar o homo afrobrasiliensis à globalidade excludente, mas em entender os elementos da imagem de Deus que permeiam essa riqueza civilizatória.
A afrobrasilidade é um modo de ser, uma maneira de existir. O afrobrasileiro não se diferencia simplesmente pela sua cor de pele. A pele negra tem uma história, uma história de negações e de resistências. É preciso, pois, compreender que o afrobrasileiro se autocompreende, num primeiro momento, em sua história de negação, e por isso se afirma negro. A afrobrasilidade é afirmação deste que é negro e negra: é negação da negação. Este afrobrasileiro, destituído de sua história, vive imerso em si mesmo e numa sociedade que promove a ruptura de seus valores étnicos, sociais e culturais, mas quer iniciar uma outra história, onde não é João ninguém, Maria nenhuma. Mas a história do povo negro não começa com a escravidão. Afirmar a afrobrasilidade é afirmar uma proposta em que a afrobrasilidade é mais do que uma evidência, é afirmar uma história que foi excluída. Implica compromisso com a causa de um povo. Se a multicultura relacional afrobrasileira tem um caráter mágico, fortemente empapado no maravilhoso, isso se dá porque o dia-a-dia desse ser humano está ligado à busca da transcendência. Nesse sentido, o elemento que vai além e ultrapassa o concreto do dia-a-dia do afrobrasileiro é o transcendente. Essa presença do maravilhoso caldeia toda a malha relacional, indo do afrobrasileiro simples ao que alcançou o sucesso e a glória. É importante, no entanto, entender que o maravilhoso relacional da multicultura afrobrasileira não nasceu de um processo pacífico, mas violento, do choque entre o universo transcendental de brancos e a matriz sacralizadora da natureza da religiosidade negra. A contra-Reforma produziu genocídio e escravidão, macerando o universo religioso de povos e nacionalidades.
A recuperação da história do povo negro como tradição e culturas liga-se à necessidade de conscientização da identidade afrobrasileira. Aquele que esquece nega o esquecido, reprimindo ou suprimindo. A identidade está imbricada à memória. Evocar a memória é provocar e transformar. Dessa maneira, reconhecendo os elementos negativos da multicultura relacional afrobrasileira, que se traduziu na tentativa de esconder as injustiças sociais sofridas, podemos resgatar o que ela construiu de positivo. Afirmar a cultura à qual pertencemos é o primeiro passo para construir um pensamento protestante afrobrasileiro, que compreenda a identidade do povo negro em sua busca de felicidade e transcendência.
A antropologia mostra-nos um afrobrasileiro em busca da felicidade imediata e da transcendência, possibilitando ao pensamento protestante uma compreensão dos elementos da revelação e da imagem de Deus aí embutidos. Isto porque o ser humano tem um destino. O termo destino conota vocação, aponta para aquele conteúdo intrínseco que constitui uma dimensão da natureza humana. Destino tem matizes de dom, propósito e alvo. A concepção cristã do ser humano trabalha com a idéia de que todos os seres humanos são chamados à construção de destino pleno de sentido. Não devemos temer o afrobrasileiro, mas conscientemente reconstruir raízes e memória. Esse caminho dará fundamentos a velhos sonhos, traduzirá a boa notícia como resposta imediata e concreta para a utopia que se desfaz na quarta-feira de cinzas.
Ser negro traduz metanóia e por isso a afrobrasilidade constitui-se num desafio não só para os negros. A afrobrasilidade deve ser uma práxis, uma atitude de resgate diante da história de negação do negro. Desse ponto de vista, colocar para a nova igreja a afrobrasilidade como princípio protestante implica resgate de uma história de sofrimento e dor e redenção diante das possibilidades que estes sofrimento e dor construíram. A expressão nova igreja traduz a consciência de que o cristianismo deve apresentar um evangelho integral, holístico, ao mundo. Esse evangelho não se limita ao privatissimum da salvação individual e nem se fecha entre as quatro paredes do templo, mas está preocupado com o ser humano enquanto totalidade social, política e multicultural. Essa consciência vem se estendendo ao conjunto das igrejas evangélicas no Brasil sejam elas históricas ou pentecostais. Tal realidade, porém, não deve esquecer que o lugar fundamental da gestação da afrobrasilidade do ponto de vista do princípio protestante dá-se no locus da comunidade negra, espaço de formação da identidade negra, como vida resgatada. Mas, considerando que o princípio protestante possui dimensões que transcendem o locus, é importante estabelecer paradigmas que o viabilizem. Paradigmas esses que possibilitem a cada comunidade traçar seu caminho de liberdade, de acordo com sua realidade e necessidade, sem perder o vínculo com o conjunto da mensagem de redenção. Nesse sentido, não basta construir um pensamento da negação, mas um pensamento da afirmação da afrobrasilidade. Não somente uma práxis do protesto, mas uma práxis da proposta, uma práxis da libertação que permita levar a riqueza dos sonhos ancestrais à sociedade afrobrasileira de conjunto.
Num primeiro momento, abertura à transcendência é sofrimento e cruz. Motor da liberdade cristã, quando esta se revela no aspecto da supressão do ser humano imediato. É a exigência de romper com o existente aceito. Essa ruptura, no entanto, exige persistência na determinação e no sofrimento em nível imediato, sem a qual não há liberdade dentro da ordem existente (Ballestero, 1970, p.110-111). Contudo, abertura à transcendência não se resume a esse primeiro momento. Na verdade, é diametralmente oposto a ele, traduz outra realidade, outra natureza. A unidade transcendência, humilhação e cruz é superficial como realidade imediata. Por isso, a emergência da transcendência passa pela morte do mundo, porque a realidade entrou em caducidade. Sofrimento e cruz refletem essa impossibilidade de vida e de eternidade. A transcendência é regeneradora porque acontece no mais fundo da própria raiz humana. É no momento da morte de seu consciente, que o mais profundo da intencionalidade humana se revela.
A interioridade cristã não é consciência cartesiana. É um tempo de negação de todo objeto possível, tempo de vazio interno que possibilita a abertura ao sagrado. É nesse momento que a transcendência aparece como disponibilidade transparente da consciência. Dessa maneira, a transcendência do afrobrasileiro não pode realizar-se a não ser como articulação viva da subjetividade e como sua obra. A morte do afrobrasileiro imediato é o ato que faz possível ressurgir o verdadeiro afrobrasileiro, a partir daquilo que lhe é inalienável e próprio. Fazendo uma releitura de Lutero podemos dizer que o cristão “é servo em tudo e está submetido a todo mundo”, então o cristão “é senhor de todas as coisas e não está submetido a ninguém” (Luther, 1955, p. 225). Se entendermos a dialética desse processo, teremos elementos para construir uma práxis afrobrasileira do princípio protestante. Uma práxis que parte da negação, mas vai além, transcende, e que fará de todos nós senhores da vida que nos foi entregue.
O desafio das brasilidades
“Pra refazer o trabalho/ pra semear minha vida/ já bate a cancela/ bate o tempo do pilão/ já bate o atabaque/ rebatendo a imensidão/ o céu pegando fogo/ uma estrela vai queimar/ eu sou de quem me chama/ eu não sou desse lugar/ Serra do mar noite alta/ vou preparar minha volta./ Na volta do caminho/ tem os anjos pra velar/ a gente lá de casa/ bate roupa pra lavar./ Pra renascer todo dia/ pra descobrir o compasso/ já bate a correnteza/ bate asa no sertão/ o boi puxando o carro/ o candeeiro a direção”.
Um poema de Cacaso pode parecer estranho num trabalho que pretende analisar questões referentes à imagem de Deus e os desafios da natureza humana na multiculturalidade brasileira. Mas método e conteúdo fazem parte da mesma totalidade. Imagem de Deus e os desafios das brasilidades não estão separados da emoção, da ação em comunidade e objetivamente de nossa práxis teológica. Ao contrário, nos dão elementos para entendermos por que e quando nossas ações teológicas descambam para a falsa consciência e alienação. Por isso, descartamos a possibilidade de uma práxis do reino de Deus formadora e transformadora na igreja local, sem a compreensão de que o desafio consiste em pensar globalmente, mas agir localmente. A universalidade do trabalho, da volta ao espaço de vida e do renascimento a cada dia, traduzidos no poema de Cacaso, norteiam o caminho que desenvolvemos até aqui.
No mundo atual as relações de força não mais se realizam de maneira centralizada, como eram antes. Temos um mundo que desorganiza centros, mas que se organiza a si mesmo. Hoje, as empresas supranacionais realizam uma nova centralidade, atuam a partir de centros frouxos, mas são socialmente cegas, já que abandonaram qualquer objetivo ético ou solidário. A idéia de finalidade inexiste para esses condutores na economia globalizada. Para a democracia de livre comércio não há nacionalidade. Por isso, quando falamos em benefícios para o Brasil, num mundo globalizado pela não espacialidade do capital financeiro, seqüestramos o conceito de nacionalidade. Haverá benefícios, sem dúvida, mas não para a nação nomeada e sim para os agrupamentos supranacionais. Algumas migalhas poderão chegar à população, mas não enquanto finalidade. O conceito de nação implica em territorialidade, isto porque é a partir dela que temos a expressão mais ampla de uma comunidade. Território é isso, a área através da qual um estado exerce sua força e poder. Nesse sentido, a globalização choca-se com um adversário, que é a realidade do território. Não há, em termos de globalidade, a possibilidade de se definir o que deve ser feito dentro de cada território, em todos os territórios existentes no mundo. Atualmente, os estados são coadjuvantes da democracia de livre comércio. Mas a nacionalidade continua existindo porque a sua base é o território e como conseqüência temos a realidade do estado, ainda hoje um elemento de força expressiva. A tradução viva do território é a sociedade, enquanto maioria da população, das empresas e instituições. As empresas supranacionais não necessitam de território, mas de centros frouxos que são as alavancas da realização de sua riqueza. Dizer que o estado nacional acabou, que não é possível um projeto nacional, é, ao menos até agora, uma afirmação superficial. O estado planetário, no nível atual de previsão, é um sonho distante.
Por isso, a utilização da contracultura como forma de ação é insuficiente para responder as transformações registradas nas sociedades. É necessário assumir o discurso cristão. Na verdade, é necessário proferir um não ao tempo presente. E nessa crítica o fundamental é envolver-se na situação histórica concreta, ter a coragem de decidir e colocar-se sob julgamento, ao nível do particular. O cristão deve olhar o mundo com atenção. E a luta dos povos em diáspora deve sensibilizar os intelectuais que fazem parte do corpo da igreja, pois estamos vivendo uma era de kairós, e as utopias dos povos em diáspora são partes do clamor contra a opressão globalizadora que caracteriza este início de século. Não é correto classificar as utopias dos povos em diáspora como simples conflito racial e religioso, ou como problema localizado em regiões distantes do globo. Ao contrário, hoje estávamos vendo um clamor global do desterrado e excluído. As utopias de liberdade dos povos em diáspora não serão revoltas raciais e religiosas se estivermos interessados em praticar a fraternidade com aqueles interessados em viver de acordo com essas utopias. Porém, pregou-se, por muito tempo, uma doutrina cristã da fraternidade vazia, que não significava mais que o desejo de que os povos aceitassem passivamente o seu destino colonial. As nações industriais do Ocidente subjugaram culturas, nações e povos por razões econômicas. Essas ações de saques internacionais golpearam os continentes e são os responsáveis pelo baixo padrão de vida que prevalece em todo o mundo chamado subdesenvolvido.
A empatia do cristão com os clamores dos povos em diáspora traduz a compreensão de que deve apresentar uma mensagem de vida tanto ao nível da pessoa como particularidade, como das comunidades como um todo. Assim, os clamores não traduzem apenas solidariedade, no sentido de um movimento preocupado com a pessoalidade dos excluídos, mas a compreensão que deve nortear a luta daqueles que se encontram em situações semelhantes. Nesse sentido, solidariedade e clamor profético contra a exclusão são entendidos como práxis do reino de Deus. Ou seja, o cristão deve integrar estas três linguagens: a da contracultura como forma de ação, a reflexão teológica e a discussão da instância diretamente política.
A questão dos povos em diáspora nos remete a uma discussão central, a das causas da fome no mundo. É interessante notar que em todo o mundo a produção de cereais em grão tem crescido e que isso, aparentemente, está em contradição com a fome no mundo. Mas não é assim. Temos que levar em conta a lógica da economia de mercado. Porque para a economia de mercado, superprodução de gêneros alimentícios num mundo onde a metade de sua população não ganha o suficiente para comer, é uma má notícia. É um desastre para os produtores de alimento, seja de larga ou pequena escala. Isso leva a possibilidade de queda de preços. Então, o negócio lógico acontece: a produção é destruída a fim de proteger preços. Isso explica porque os grandes produtores diminuem a área agriculturável quando os preços caem no mercado internacional. A lógica da produção para a economia globalizada exportadora é inevitável, pois, quando se pode ganhar muito mais dinheiro criando gado de corte para ser vendido à Europa, do que produzindo alimentos para a população local, então esta é a direção que a agricultura vai seguir. Não importa que milhares de crianças morram de fome, o fundamental é que as exportações continuem a crescer.
Nas últimas décadas se falou muito de revolução verde, mas tal revolução não produziu resultados positivos, porque na verdade significou a introdução da agricultura globalizada exportadora nos países pobres, eliminando lavouras de subsistência e em desenvolvimento. A transformação deste tipo de lavoura em agricultura exportadora significou uma polarização social, um êxodo das zonas rurais e a progressiva substituição da força de trabalho humano pela maquinaria agrícola. E como não houve uma expansão paralela na indústria e no comércio, este processo fez com que trabalhadores sem terra fossem empurrados para as periferias, tanto nas zonas rurais como nas favelas das grandes cidades. E parte dessa população, impedida de ter acesso à terra, passou a sofrer de desnutrição e de enfermidades provenientes dela. Assim, é fundamental dar solução imediata ao problema da fome e da subnutrição através da organização econômica e social do que concentrar numa explosão populacional imaginária as causas da falta de alimentos. Dessa maneira, posicionar-se por uma ética do amor-companheiro implica em clamar contra o egoísmo da economia globalizada e dos governos que servem a essa economia, que leva à fome e à morte de muitos em benefícios de poucos. Significa propor em nome de ética do amor-companheiro uma economia racional e solidária.
Assim, as realidades internacional e brasileira obrigam às igrejas a procurar novos conteúdos para velhos conceitos. Aceitar novos conteúdos não é repousar nos antigos, nem procurar as origens de onde um conceito pode nascer. Aceitar novos conteúdos é antes de tudo demonstrar a força de um conceito e através dessa força demonstrar que ele é capaz de lançar fora todas as ameaças de esclerose. Não existe conceito que não seja ameaçado pela esclerose, porque todo processo de vida tem tendência a envelhecer. Por isso, são as tensões que desafiam os processos a se superarem e manterem-se vivos. Estar vivo é isso, é superar-se, é ir além de si mesmo. E isso se dá em todas as esferas da vida, do menor dos organismos ao ser humano. Onde há vida, há a tensão entre ser um comigo e ser separado de mim. O cristão deve ter a sensibilidade de intuir o perigo da esclerose ao dizer não ao velho, porque quem não conhece esta tensão, que é apenas um consigo mesmo, caminha para a morte. E um movimento histórico está morto se ele está apenas consigo mesmo, quando não pode se separar de si mesmo, nem ir além de si mesmo. Qualquer movimento que deseje se exprimir através de novos conceitos, que deseje dar novos conteúdos a velhos conceitos e antigas formas de vida, enfrenta um momento de negação: deve superar-se a si mesmo. Deve negar seu direito de fazer parte do processo de vida, porque se tornou um ídolo, que rouba a vida, se opõe a ela, um ídolo que ninguém pode tocar.
Os domínios são obras do movimento que se esclerosou, que traduz a morte, que quer transformar em ídolos as formas antes vivas do movimento do reino de Deus. Através de sua cúpula sacerdotal idólatra, estes domínios desejam conferir uma durabilidade atemporal a uma única imagem do reino de Deus, e consideram sacrilégio quando a vida procura ela própria novas formas e novos conceitos. E onde se localizam os desafios que cristão deve enfrentar? Não somente na ortodoxia, entre aqueles que resistiram heroicamente por tantos anos, mas também entre os radicais, que vêem no combate frontal a melhor forma de enfrentar novos problemas. De certa forma, ambos se mostram velhos frente à realidade. Não é somente a ortodoxia que envelhece, também os grupos radicais que fazem a crítica idolátrica, para manter assim suas próprias posições de domínio pontifical. E no que se refere ao pensamento formal a escola marxista também seguiu esse caminho. Mas é por obra de velhos crentes que as pessoas querem o novo, apesar do risco, apesar da ameaça de que pode dar em nada. Os velhos crentes, enquanto cúpula sacerdotal, conduzem ao endurecimento e às idolatrias. Mas aquele que conhece sua fé compreende o que se trama por trás da ortodoxia. Esta questão deve ser levada em conta, tanto nas discussões ao redor dos planos para a economia e a política, como para a postura que o cristão deve tomar diante do reino de Deus. Assim, quem não obtém do real mais que uma imagem deformada pela mídia está cometendo um erro perigoso. Compreender a ortodoxia, mesmo a ortodoxia cristã, deve nos levar a fazer julgamentos isentos de um radicalismo irresponsável. Para a ortodoxia não se pode aceitar o perigo, mesmo quando ele representa aquilo que é profundo. Mas, o medo ao perigo é a porta de entrada de todo endurecimento, de todas as violências e de toda caducidade. É certo que se deve superar o perigo e a perda, apesar dos riscos, sem esquecer, no entanto, que no reino de Deus o novo pressupõe risco. O risco nunca deixa de existir, porque viver é avançar no indeterminado.
Assim, foi o não à ortodoxia que possibilitou o surgimento da utopia. E como muitos conheciam o que propunham os velhos, optaram pelo risco do novo. O risco é o contrário da adaptação oportunista. Com efeito, a adaptação jamais quer colocar em jogo o que ela possui. Ela quer conservar, ela não quer o novo. Ela sente que necessita do novo, mas não tem a coragem de arriscar. E isso acontece porque deixou que o velho coagulasse em seu interior. Esta é a maneira mais comum e a mais terrível de não ir além de si mesmo, porque favorece a aparência, ilude a realidade. Isto jamais deveria acontecer na política, que deve lutar para realizar possibilidades. No radicalismo o risco é bem diferente. O radicalismo é uma idolatria de signo contrário. Nega a tradição e deseja arriscar porque acredita que no risco está a realização daquilo que espera. Esquecem que é também sob os impulsos das tensões e das dúvidas interiores provocados pelos conceitos transmitidos pela tradição que somos lançados aos novos conceitos, que levam às soluções e nos fazem avançar. Por isso, quem aceita os riscos do reino de Deus deve também colocar em risco os conceitos. A ortodoxia tem de aprender a arriscar no que se refere aos conceitos, pois quando se prende aos conceitos procura aquele lugar onde a mobilidade é menor. Aqui dois perigos são inevitáveis: o ficar no si mesmo e o separar-se de si mesmo. O conceito, se ele é vivo, deve reunir nele as duas tendências. Toda mudança deve incluir o ficar em si mesmo, pois esse em si mesmo é a sua origem. Quem arrisca um conceito, quem tira proveito das tensões engendradas por uma forma de pensamento, deve se lançar às coisas novas sem esquecer o fundamento de seus conceitos.
Um exemplo do que estamos falamos é a situação dos milhões de trabalhadores sem terra. A cada dia que passa a organização desses homens e mulheres, com suas famílias, assusta o establishment e horroriza a classe média, que teme um nascer do comunismo no Brasil. Mas a verdade é que 2% dos grandes proprietários detêm 48% das terras cultiváveis. Tal situação explica a existência de um movimento que se reúne sob a bandeira de um Brasil sem latifúndio. Segundo o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra/ MST, conforme dados do ano 2.000, cerca de cinco milhões de famílias deveriam ser assentadas para se por fim ao problema do desemprego de trabalhadores rurais. Naquele mesmo ano, em torno do MST gravitavam quatrocentas associações de produtores, 49 cooperativas de produção, 32 de prestação de serviços, duas de crédito e quase cem micro-agroindústrias. Mantinha em todo o país mais de mil escolas para 75 mil alunos. Por isso, segundo João Pedro Stédile o governo deveria ser grato ao MST por organizar essas populações que, sem emprego na cidade, estariam engrossando a marginalidade. Goste ou não de reforma agrária, os governos têm que dar um destino a este povo, produto do êxodo que nos últimos quarenta anos trouxe para a cidade 40% dos 70% da população que vivia no campo. Mais que números, algumas peculiaridades do movimento chama a atenção: um deles é a ativa participação das mulheres e de toda a família. Disso vem, talvez, a permanência dos filiados, que permanecem juntos ao movimento, às vezes durante anos, e mesmo depois de terem sido assentados. Por isso, é comum ouvirmos histórias como estas:
”Não tínhamos emprego nem casa. Não temos estudo, nada o que fazer na cidade. Lucas estaria por aí, cheirando cola. Nosso lote há de vir um dia. Até lá, a gente se vira como bóia-fria, o que aparece. Ninguém fica parado esperando cesta básica”.
“Sou assentado há doze anos, mas fora do MST jamais vou conseguir empréstimo para produzir. É o MST que arranca verbas do governo para nós”.
Isto não é o reino de Deus, dirão alguns. Outros dirão: esta é uma compreensão espúria do reino de Deus Só se decide o poder que tem um conceito de estruturar e de reestruturar o real quando ele mesmo já é esta realidade. É a esta decisão que nós submetemos os conceitos do reino de Deus, quando anunciamos o risco e pedimos ajuda àqueles que querem conosco se lançar sobre aquilo que vem, sem tentar fugir da realidade presente. Mas por que falar de reino de Deus como risco? Porque acreditamos que o reino de Deus é vivo, que tem força para se projetar por ele próprio sem se perder. E também porque acreditamos que o reino de Deus tem a vitalidade suficiente para ser o fundamento, a força e o objeto de uma transformação do presente orientada para o futuro. Acreditamos na força do reino de Deus em razão do seqüestro incondicionado por parte daqueles que tem o reino de Deus como objetivo, em razão da indissolúvel aliança interior daqueles que colocam na espiritualidade o sentido de sua existência, de uma existência espoliada de sentido. Uma espiritualidade assim fundada tem suas raízes num conhecimento muito mais profundo do que aquele enraizado no dogma, mas que ao longo do tempo pode se transformar num ídolo. Esta fé unida à ação e à decisão é ela própria um risco.
A fé na força do reino de Deus está enraizada no fato de ser percebida incondicionalmente naquilo que o reino de Deus é. Eis porque todos os conceitos últimos nos quais o reino de Deus tem depositado seu sentido são símbolos e não representações demonstráveis. As possibilidades de uma sociedade justa, livre e pacífica são símbolos do reino de Deus. Alguns desses conceitos vão além daquilo que enunciam. O conteúdo de um conceito muda e deve mudar com a situação cultural e espiritual onde está sendo aplicado. Aquilo que é visto como um fim, inacessível, não muda nunca. E se não muda, esclerosa. Por isso, a idéia de reino de Deus implica na idéia de espiritualidade, mas não podemos dissolver a igreja e o cristianismo no reino de Deus. Mas, também não podemos, ao contrário, em nome da igreja e do cristianismo negar a realidade do reino de Deus.
Ora, o reino de Deus deve então nos levar a compreender a igreja e o cristianismo de maneira nova e concreta, pois um movimento que não tem a profundidade necessária para apresentar uma resposta à questão do sentido da vida não poderá obter um sim incondicional. Nós acreditamos que o reino de Deus pode apresentar uma resposta e trabalhamos para que essa resposta não se torne prisioneira do provisório, mas direcione ao que é fundamental. Dessa maneira, em lugar de falar de justiça, de liberdade ou de paz, pode-se falar da exigência de uma sociedade onde será possível a cada pessoa e a cada grupo satisfazer o sentido da vida. A questão do sentido da vida se faz presente em todas as esferas da sociedade atual, principalmente em relação àqueles que estão excluídos. É a questão mais profunda e ao mesmo tempo a mais global: todos estão inseridos nela. Quando se fala de liberdade damos mais importância à pessoa, quando se fala de comunidade damos mais importância ao grupo, mas o sentido da vida inclui a pessoa e a comunidade. Por isso, falar do sentido da vida não é ser utópico, porque fala somente da possibilidade do sentido que a vida deve ter. Da mesma maneira, não é uma postura ideológica, porque coloca a questão do sentido da vida sobre a base das tensões concretas do presente. Também não pode ser uma postura reacionária, porque o sentido da vida jamais se completa, está sempre para se cumprir. E, portanto, não é um ideal vago, é a realidade viva, aquilo que faz a vida possível. Reino de Deus é, então, aquela construção que coloca na teoria e na prática a questão da possibilidade que a vida tenha sentido para todas as pessoas e que responde a esta questão no plano da realidade e do pensamento. Reino de Deus não é apenas um movimento cristão e é mais que um movimento de excluídos. É um movimento que apreende cada aspecto da vida. Assim, a busca do sentido da vida é um desejo universal, do qual ninguém está excluído. Quando percebemos a sua profundidade, percebemos também sua universalidade. Por isso, deve tornar-se o fundamento da ação de transformação espiritual e política dos cristãos.
Tal constatação fica mais fácil de ser percebida quando tomamos como exemplo a vida de alguns cristãos. E aqui vamos expressar nossa empatia com a ação de um negro norte-americano: Martin Luther King Jr.
Em 1955, uma costureira negra, dirigindo-se do trabalho para casa em Montgomery, Alabama, recebeu ordens de um motorista branco para que se transferisse para a parte de trás do ônibus. Rosa Parks estava sentada, em um dos bancos da frente, e simplesmente recusou-se a mudar de lugar. Foi presa por violação às leis de segregação do Alabama. A comunidade negra enfureceu-se. Os negros disseram que já vinham sendo insultados há demasiado tempo por motoristas de ônibus brancos, e declararam que não tomariam mais qualquer ônibus até que a segregação fosse eliminada e certo número de motoristas negros fosse admitido. Liderados pelo jovem ministro batista Martin Luther King, os negros de Montgomery simplesmente boicotaram os ônibus até que a empresa, quase á bancarrota, submeteu-se ás exigências. Em breve, os negros de muitas cidades do Sul recorreram à técnica do boicote para conseguir melhor tratamento nas lojas e outras casas comerciais, e para assegurar melhor emprego para sua gente. Se os autores do boicote usavam a não-violência, eram ao mesmo tempo militantes e obstinados. Certamente, tiveram importância na obtenção de certas mudanças que o Sul dos Estados Unidos, com sua veemente resistência a toda e qualquer transformação, consideraria revolucionária. Treze anos mais tarde, no dia 4 de abril de 1968, o pastor King preparava uma marcha dos negros na cidade de Memphis, Tennessee, quando foi atingido por tiros.
Martin Luther King, formado em Filosofia e Teologia em Boston, premiado com o Nobel da Paz em 1964, reconhecido por todos os negros, inclusive pelo líder do Black Muslim, Malcom X, estava morto. Ele que havia pregado e lutado pela não-violência era uma de suas vítimas mais trágicas. Desde a época em que chefiou o boicote dos ônibus em Montgomery inúmeras foram as ameaças à sua vida. Foi publicamente denunciado e alvo de abjetos epítetos. O próprio clima tornou-se tão carregado que, considerando-se agora as coisas, percebe-se que um fim violento para o grande líder negro era inevitável. Todavia, a América branca não podia antecipar a reação da América negra ao assassinato a sangue frio de um de seus líderes mais poderosos. Vários dias de incêndios e pilhagens em muitas cidades traduziram a louca manifestação de um amargo desespero e frustração. Mesmo os que prantearam a morte de Martin Luther King sem qualquer mostra exterior de emoção revelaram-se tão sensíveis no apreço de seu significado quanto aqueles cuja reação foi violenta.
Anos antes, no dia 15 abril de 1955, Martin Luther King Jr. finalizou sua dissertação sobre “A Comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and Henry Nelson Wieman”. Luther King conhecia o pensamento de Tillich e, por isso, a ação desse combatente pelos direitos civis deve muito às suas leituras do teólogo em questão. Tanto para Luther King como para Tillich, o poder último, autêntico, é a verdade. Por isso King disse:
“É chegado o momento para tornar reais as promessas da democracia. É o momento para sair do escuro e desolado vale da segregação para o caminho ensolarado da justiça racial. Este é o momento para elevar nossa nação das areias movediças da injustiça racial aos sólidos rochedos da fraternidade. Este é o momento de se fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação menosprezar a urgência deste momento. Este verão escaldante do legítimo descontentamento do negro não passará, até que chegue o revigorante outono da liberdade e da igualdade. Mil novecentos e sessenta e três não é o fim, mas o começo. Aqueles que esperavam que o negro perdesse o fôlego e agora se sentiam satisfeitos terão um tumultuado despertar se a nação voltar à rotina habitual. Não haverá descanso nem tranqüilidade na América até que o negro assegure seus direitos de cidadão. Os vendavais da revolta continuarão a sacudir as estruturas de nossa nação até o claro dia em que a justiça emergir. Mas há uma coisa que devo dizer ao meu povo postado no limiar que conduz ao palácio da justiça. No processo de conquista de nosso justo lugar, não poderemos ser acusados de atos errôneos. Não busquemos a satisfação de nossa sede de liberdade bebendo no cálice da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir nossa luta pelos elevados caminhos da dignidade e da disciplina. Não podemos permitir que nosso criativo protesto degenere para a violência física. Mais e mais precisamos nos elevar às altitudes majestosas e combater a força física com a força espiritual. A maravilhosa militância que tem contagiado a comunidade negra não pode levar ao descrédito de todos os homens brancos, porque muitos de nossos irmãos brancos, como é evidente pela presença deles aqui, já perceberam que o destino deles está ligado ao nosso destino. E eles perceberam também que a liberdade deles está ligada à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos. E enquanto caminhamos, precisamos reafirmar o compromisso de sempre e caminhar em frente. Não podemos voltar atrás. Existem aqueles que perguntam aos que lutam pela causa dos direitos civis: Quando vocês vão se considerar satisfeitos?. Nós nunca ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos indescritíveis horrores da brutalidade policial. Não ficaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, cansados de viagem, não puderem encontrar pouso nos motéis de estrada e nos hotéis das cidades. Não ficaremos satisfeitos enquanto a mobilidade do negro for apenas de um pequeno gueto para um gueto maior. Não poderemos nunca estar satisfeitos enquanto nossos filhos forem espoliados em sua dignidade por avisos como somente para brancos. Não ficaremos satisfeitos enquanto um negro do Mississipi não puder votar e enquanto um negro de Nova York achar que não há nada em que valha a pena votar. Não, não estamos satisfeitos e não ficaremos satisfeitos até que a justiça jorre como água e o direito flua como um poderoso rio. Não desconheço o fato de que alguns de vocês têm passado grandes provações e atribulações. Alguns acabam de deixar alguma apertada cela de prisão. Alguns vêm de regiões onde a luta pela liberdade foi respondida com temporais de perseguições e reprimida com os ventos da brutalidade policial. Vocês têm se tornado veteranos do sofrimento criativo. Continuem seu trabalho com a convicção de que o sofrimento imerecido redime. Voltem ao Mississipi, voltem ao Alabama, voltem à Carolina do Sul, voltem à Geórgia, voltem à Louisiana, voltem aos cortiços e aos guetos de suas cidade no norte, com a certeza de que esta situação pode e deve mudar. Não nos arrastemos pelo vale do desespero. Eu lhes digo hoje, meus amigos, mesmo encarando as dificuldades de hoje e de amanhã, que eu ainda tenho um sonho”.
Entretanto, esta verdade não é uma norma abstrata que se impõe à realidade e a modifica, mas é, sobretudo, a expressão concreta da tendência última do real. A verdade só tem poder se ela é verdade real, se é uma tendência de vida, se é a verdade de uma sociedade, a verdade de um grupo que detém, interiormente, na sociedade, o poder. Tanto para Tillich como para Luther King, a conquista violenta dos instrumentos de poder social não decide a vitória de uma utopia. Isso só acontece quando se estabelece uma nova estrutura de poder, amplamente reconhecida. É um erro pensar que amparar a utopia no poder do aparelho de estado garante a vitória. O aparelho de estado e seu poder devem ser renovados constantemente a partir das forças da sociedade, forças pessoais, materiais e ideais. Caso contrário, a utopia se desvanecerá mesmo quando os meios técnicos permitam que se imponha por tempo maior àquele normalmente possível.
Mais do que palavras, a ação cristã de Martin Luther King Jr. traduziu a compreensão de que há uma dialética de ferro entre verdade e poder. E que o poder verdadeiro nasce da verdade última, aquela que transcende o momento presente e permanece no coração e mente dos excluídos. Essa compreensão, mesmo quando não é corretamente traduzida pelo grupo que chega ao poder, continua a marcar o horizonte último da ética cristã. E o discurso de Luther King no Monumento a Lincoln, em Washington, a 28 de agosto de 1963, transformou-se em manifesto dos excluídos e afrodescendentes norte-americanos.
Mas outro cristão deve estar presente em nossa memória, apesar de ter recorrido a uma tática equivocada, à guerrilha. Apesar desse erro, o Camilo Torres soube combinar o cristianismo com seu ideal utópico. Camilo Torres foi um símbolo de uma geração influenciada pelo êxito da revolução cubana. Camilo foi também um marco no desenvolvimento da igreja dos excluídos, aquela que nasceu com Medellin. Depois de décadas da morte de Camilo Torres, ativista do grupo guerrilheiro Ejército de Liberación Nacional/ ELN, o povo colombiano ainda duvida das versões oficiais que à época descreveram o encontro dos guerrilheiros com as tropas regulares, no lugar conhecido como Patio Cemento. Os comunicados governamentais informaram que o padre Camilo caíra em combate, a 15 de fevereiro de 1966, atingindo por balaços de carabina automática ponto 30, disparados por um sargento da patrulha, emboscada pelo agrupamento guerrilheiro. Ele morrera de forma instantânea, não dizendo uma só palavra, não tentara render-se, nem pedira clemência. O povo colombiano, pelas ruas de Bogotá, ou pelos caminhos de Barrancabermeja e Bucaramanga atribui, no entanto, o assassinato a um plano organizado pelo general Álvaro Valencia Tovar, amigo de Camilo Torres desde a infância. Tovar comandava a Quinta Brigada do Exército, responsável pelo combate ao ELN. Tudo teria sido organizado para que o padre fosse morto em emboscada, sem a possibilidade, nem o direito a se entregar vivo. Esse homem mostrou que seu cristianismo não somente podia, mas devia manter um relacionamento frutífero com o reino de Deus, pois é fundamento que dá à cultura possibilidades fecundas, que vão além do momento presente.
Mas na experiência cristã militante poucos foram tão amados como Ernesto Cardenal, cristão, poeta e combatente da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. Cardenal, nomeado chanceler, pela Frente Sandinista, teve como tarefa buscar a solidariedade dos povos para a revolução nicaragüense. Mas uma questão atravessava o coração dos cristãos sociais, como ele tinha chegado à compreensão de que era necessário lutar pela libertação da Nicarágua? Em 1979, em entrevista ele diria que seu compromisso com Deus era um compromisso com os excluídos de seu país, por isso havia fundado a comunidade de Solentiname, que se dera como tarefa conscientizar os trabalhadores do campo. Mas o que os levou à ação foi o Evangelho que liam e comentavam com os trabalhadores na missa, todos os domingos “e esses comentários sempre foram de uma grande profundidade teológica”, afirmou.
“Os jovens de minha comunidade entenderam que para serem fiéis ao Evangelho deviam ser revolucionários. E sendo revolucionários deviam entrar para Frente Sandinista. Eles desejavam deixar a comunidade e ir lutar na montanha. Mas, a direção da Frente Sandinista informou que a comunidade devia manter-se como estava porque tinha uma grande importância política, tática e estratégica. Devíamos manter-nos ali até nova ordem”.
As palavras de Cardenal traduzem o pensamento de que o cristianismo está eticamente obrigado a fazer uma escolha, inspirando e atuando a favor do desenvolvimento do reino de Deus, ou se retrai e entra em processo de caducidade, ao afastar-se da vida real das comunidades nas quais está inserido. Tal processo de desenvolvimento, que se realiza de forma desigual na história, combina mudanças espirituais e transformações econômicas e sociais. Cardenal tinha consciência dessa realidade e, por isso, tornou-se um exemplo para os cristãos preocupados com a expansão do reino de Deus.
Mas os exemplos cristãos não chegam apenas de além-fronteiras, no Brasil eles são contundentes. E não podemos nos esquecer que no final dos anos 1970, quase cinqüenta mil Comunidades Eclesiais de Base organizavam cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas. Elas identificavam o pecado social com a opressão e diziam que “esse grande pecado se chama sistema capitalista”, conforme concluiu o III Encontro Intereclesial de Comunidades de Base, em julho de 1978 na Paraíba. Já não se contavam mais nos dedos as Comissões Diocesanas de Justiça e Paz. A Igreja católica foi o primeiro setor organizado, com peso efetivo na sociedade brasileira, a empunhar a bandeira de luta pelos direitos humanos. Ligada às parcelas mais exploradas do povo, sofrendo a perda de religiosos perseguidos e mortos, os católicos se organizaram para combater as ameaças à justiça e à paz. Foi, aos poucos, se distanciando dos poderosos, mas não sem contradições e conflitos dentro de sua própria estrutura.
“A velha igreja ainda pesa. Esse processo de descolamento se dá em toda a América Latina. Desde Medellin, há 10 anos, nasce uma igreja combativa, voltada para os problemas das sociedades pobres e dependentes. É aí que aparecem Pedro Casaldáliga, Tomás Balduíno, D. Pelé, Benedito Uchoa, Cândido Padim. Para um jornal que se coloca junto às lutas populares este é um debate fundamental. Qual é o papel da Igreja hoje? O que acontecerá em Puebla? Dentro de alguns dias, centenas de religiosos se encontrarão no México, para decidirem o destino de suas comunidades, arduamente trabalhadas durante anos e anos. O Papa vai a Puebla: rompe-se a tradição anticlerical da kairós mexicana, mas, é certo, podemos esperar a aberta interferência de um Vaticano endividado, atolado na falta do dinheiro, recebendo ajuda americana, e alemã... um papa polonês, um golpe nos estados operários, golpe nas comunidades de base?”
E Dom Adriano Hipólito, então bispo de Nova Iguaçu, explicava que a luta entre as tendências conservadoras da Igreja e os setores progressistas haveria de continuar, pois não era apenas um fenômeno superestrutural, mas refletia um processo mais amplo de lutas sociais, e fazia parte da movimentação política das massas latino-americanas, então num processo de construção histórica. É bom lembrar que Nova Iguaçu, cidade onde Adriano Hipólito era bispo, àquela altura era o oitavo município mais populoso do país: ali faltavam esgotos, escolas, hospitais, transportes, segurança pessoal. Uma região de operários, funcionários mal remunerados, comerciários, subempregados, que já não podiam esperar soluções senão de si próprios.
Diante da desconfiança de muitos cristãos sociais ao engajamento da igreja católica na luta pelos direitos dos oprimidos, por causa de sua heteronomia, ficava a questão de que se as pessoas são também aquilo que fazem, a Igreja estaria sendo aquilo que seus sacerdotes estavam praticando? Ou seja, a questão era: qual espírito orientava o trabalho comunitário da igreja católica no Brasil? Segundo Dom Adriano Hipólito, a Igreja, na sua essência, é comunidade de fé, de esperança e de amor e sua maior tarefa é fermentar e renovar a comunidade humana. Por isso, sem dimensão comunitária a igreja não é igreja. Sem abertura para os problemas da comunidade, a igreja não está em condições de realizar sua missão, ser continuação da ação libertadora de Jesus Cristo, ser sinal de esperança para a pessoa angustiada e sofredora.
“É verdade que nem sempre a consciência comunitária da igreja funcionou com tanta clareza. Houve períodos históricos em que os cristãos, inclusive em nível de hierarquia, se deixaram envolver demasiadamente pelos interesses de grupos do poder, e assim se acomodaram. Essas colocações são importantes para entender o interesse da igreja pelos problemas da humanidade e os instrumentos que ela criou, como por exemplo as Comunidades Eclesiais de Base (CEB), as Comissões de Justiça e Paz, etc... Não visam dominar, elas visam servir melhor”.
Ou seja, a ação da igreja deve-se dar na comunidade, porque é onde as pessoas se aproximam livremente, se sentem responsáveis, descobrem e atuam nas mais diversas áreas de interesse comum. Tal ação deve ter a igreja local como o ponto de partida e de chegada, pois aí estão os elementos formadores, aglutinadores e os métodos de ação. Mas essa ação tem que partir das bases, pois a comunidade tem como princípio fundamental o relacionamento primário de pessoas que se conhecem, que se estimam, se ajudam mutuamente. Por isso, aqueles organismos católicos receberam o nome de comunidades eclesiais de base e tinham como tarefa se preocupar com os problemas cristãos e participar dos processos de autonomia da consciência cristã. Tinham a preocupação de integrar as pessoas no processo social, como direito/dever da pessoa humana, e de levá-la à participação consciente e crítica.
Mas para participar do processo social, as pessoas precisam de instrumentos políticos eficientes. Entre esses instrumentos estão os sindicatos, organizações de classe e os partidos. Os sindicatos e as organizações de classe devem ser órgãos de participação na defesa dos direitos das pessoas, a serviço dos trabalhadores como comunidade de trabalho que constrói a nação e não a serviço de grupos do poder. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro sempre procurou corromper a filosofia dos sindicatos e organismos de classe, reduzindo-os a instituições de beneficência e lazer, por isso partidos de trabalhadores que correspondam a correntes de pensamento dos trabalhadores se fazem necessários. Mas partidos desse tipo deveriam estar de fato nas mãos dos trabalhadores e não serem manipulado pelas aristocracias, sejam elas operárias, sindicais, ou desejem apenas conquistar o poder em benefício próprio.
É necessário entender que há uma luta comum que une o cristianismo e o reino de Deus, é a justiça social. Sem o cristianismo como pano de fundo, o reino de Deus não se explica suficientemente. Muitos elementos do reino de Deus são de fato cristãos. Ora, sabemos que a história da igreja é passível de muitas críticas, pois muitas vezes suas alianças com grupos de poder fizeram com que se afastasse e dificultasse seu relacionamento com parte da população excluída. Assim, embora haja razões históricas para criticar a igreja por ter freado a expansão do reino de Deus, quando, por exemplo, apoiou e fomentou guerras contra povos e religiosidades, também o reino de Deus erra, quando nega a existência da base solidária e comunitária do ideal cristão. Está questão nos remete à necessidade da aliança prática entre cristãos, trabalhadores e excluídos.
Uma das questões presentes nesta discussão é o futuro possível, sobre a possibilidade de setores da hierarquia tentarem afastar a igreja da política. Esse perigo existe quando os períodos de conflitos aparentemente tiverem sido superados. Porém, se tal superação realmente se concretizar, como se poderia exigir da igreja mobilizada politicamente, uma volta dos cristãos unicamente às suas atividades religiosas? Para Gramsci, uma concepção ativa do mundo, ao contrário do fundamentalismo, conduz a uma expressão partidária e ao questionamento do poder, sempre que seja essa uma igreja historicamente necessária. Antes o exercício das atividades internas da igreja não é incompatível com sua expressão exterior em face de uma prática política pluralista. Ao contrário, elas se reforçam. Já vai longe o tempo em que a igreja podia aspirar uma unicidade sem diversidade, ou o controle disciplinar da instituição eclesiástica. Assim, o surgimento de setores sensibilizados politicamente gera um potencial de atuação partidária, que pode ser naturalmente canalizado para orientações voltadas à expansão do reino de Deus.
Por isso falar de reino de Deus nos leva a falar de ação transformadora em geral? Isto porque o movimento de expansão do reino de Deus é o lugar onde a experiência da falta de sentido da existência tem uma expressão decisiva. De fato, por trás do movimento de construção do reino de Deus está o destino dos excluídos. E no destino dos excluídos se encontram o mais profundo dos destinos humanos. É na situação do excluído que a questão do sentido está colocada concretamente, porque em cada um de seus momentos, a vida excluída se vê confrontada com a falta de sentido. Nas classes sociais as possessões espirituais ou materiais, a execução de empreitadas providas de sentido ou ainda de propósitos atraentes dissimulam a ausência de sentido. Mas o excluído não tem nenhum meio de dissimular a falta de sentido da existência. Mesmo as realizações mais simples da alma, como o amor, a família, os prazeres, estão na maioria das vezes desfiguradas. O excluído e o reino de Deus estão juntos e permanecem unidos, mesmo quando as igrejas não contam em suas fileiras com nenhuma pessoa socialmente excluída. Por impulsos concretos, a paixão e a abnegação natural a favor do reino de Deus nascem lá onde a existência está destituída de sentido. O excluído pode desenvolver a situação presente, porque pode dar à comunidade uma estrutura com sentido. Lá onde é possível empreender uma transformação significativa no domínio do espírito e na política é onde se encontra uma relação estreita com o excluído.
Mas não podemos idolatrar o excluído. Não necessariamente o excluído é o mais apto para indicar o caminho da transformação, na verdade freqüentemente é o contrário que se produz. Mas seu papel está definido porque ele aponta o lugar onde a estruturação espiritual e social tem uma exigência real. Colocar os problemas a partir do lugar onde a ausência de sentido se faz presente não é necessariamente procurar a resposta neste próprio lugar, não é fazer do excluído o vencedor da falta de sentido e o portador do novo sentido. Não se pode erigir o excluído em messias ou ainda fazer positivamente de sua situação o lugar de onde sairá a solução para o problema do sentido. Aqui está a questão mais difícil do reino de Deus. Não se pode afirmar que uma comunidade de excluídos será bem sucedida na condução de uma sociedade plena de sentido. Pensar que uma reviravolta política pode transformar a ausência de sentido em sentido é arriscar na loteria. Não queremos dizer com isso que negamos as comunidades ou partidos políticos construídos por excluídos e trabalhadores. Eles podem ser uma via para construir uma sociedade nova há tempos em gestação. Tudo depende daquilo que é realizado. E a situação da exclusão não diz o que realizar. Assim, existe uma coisa que o excluído deve aprender: ele deve estar integrado a uma comunidade provida de sentido. É o excluído mesmo quem deve procurar se integrar, porque é somente na luta que ele manifesta e ao mesmo tempo desenvolve o poder que lhe é possível conquistar e conservar. Essa integração não cairá do céu, e na medida em que não pode existir uma comunidade com sentido se o excluído não está integrado nela e provido de direitos e responsabilidades, a luta contra a exclusão representa a condição necessária para que a questão do sentido tenha resposta. Nessa medida, o excluído é não somente o lugar da questão da expansão do reino de Deus, mas também o portador da resposta à esta questão. Sem a luta contra a exclusão, a partir dela própria, não há reino de Deus, sem a vitória dos excluídos não há resposta para a questão de uma sociedade plena de sentido.
Por isso dizemos que o reino de Deus que nós temos em mente é um reino da justiça, da liberdade e da paz. Podemos dizer, que nesses dois mil anos, o reino de Deus tem vivido três momentos distintos que, no entanto, se correlacionam. Momentos heróicos, de martírios e, às vezes, de extermínios, que foram sementes da expansão do reino. Momentos de ação transformadora, exteriormente fácil, mas interiormente difícil. E momentos sublimes, em que colocou de lado coisas que convinham ao primeiro momento e iniciou, elaborou e realizou um número de coisas novas em cada domínio. Cuidar para que tais elaborações tenham por base o sentido último da vida e que seja o mais universal possível é o desafio desse momento especial de expansão. Mas, o reino de Deus não deve ser um programa, mas um risco que autoriza o sentido da vida e que mantém aquilo que é humano em toda sua amplitude. Este é o reino de Deus que servimos, que é o fundamento, a força e o propósito da estruturação plena de sentido daquilo que vem.
Mas é impossível buscar o sentido da vida sem fazer a defesa da vida. O clamor permanente da ameaça à vida é uma tarefa prioritária. E se falamos de fome, de exclusão social e racial, devemos olhar a situação de abandono de milhões de crianças brasileiras. No final da década de 1970, mais precisamente em 1979, nasceram 4,5 milhões de crianças no Brasil, dessas 450 mil foram condenados à morte antes de fazerem o primeiro aniversário. Ou seja, de cada mil brasileiros que nasciam, cem morriam antes de completar o primeiro ano de vida. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância/ UNICEF morria no Brasil uma criança por minuto com idade abaixo de um ano. Os índices oficiais, embora conflitem em décimos percentuais, são os maiores e os mais exorbitantes do mundo.
Ao lado do clamor e crítica social, que tem por base a ética do amor-companheiro, é necessário fazer a defesa de uma atitude positiva que entende a necessidade de eliminar as condições que geram miséria e exclusão. Tal atitude traduz a urgência de combater os fundamentos do egoísmo econômico, mas também de gerar ações para a construção de uma outra ordem social que inclua periféricos e excluídos. Isto porque o reino de Deus não é só tarefa e necessidade de trabalhadores e excluídos, mas um ideal ético que traduz anseios e esperanças dos mais variados setores das comunidades.
As crianças pobres brasileiras defrontam-se ainda com uma luta maior, pois milhões delas aos sete anos ou menos dependem somente de suas forças, já que existem no Brasil dezesseis milhões de crianças abandonadas e carentes. Assim, hoje em nosso país, as crianças são responsáveis por 83% dos furtos cometidos; 29% das tentativas ou homicídios consumados; e 46% dos delitos sexuais. Da mesma maneira, a delinqüência juvenil vem crescendo nas últimas décadas a um ritmo de 300%. Estes números confirmam uma única coisa: os menores brasileiros roubam e matam por motivos diferentes, entre os quais estão a desintegração familiar, desemprego e abandono. Por isso, quando associamos pobreza e desintegração social entendemos porque o índice de marginalização do menor chegue a 90% nos municípios brasileiros.
Mas a preocupação com a pobreza e o abandono de milhões de crianças não pode ser entendida como uma preocupação apenas legal, técnica, que visa responder aos princípios da lei natural presentes na constituição brasileira. Faz parte da ética do reino de Deus a defesa da vida, e o amor se coloca para além das perspectivas legais, mesmo quando recorre à legislação vigente para defender os direitos das crianças abandonadas pelo sistema, pois o amor está acima da lei, tanto da lei natural do estoicismo, como da lei natural de qualquer heteronomia. A ética do amor tem um caráter ambíguo, porque se por um lado é um mandamento incondicional, por outro é o poder que está por detrás de todos os mandamentos. É precisamente este caráter ambíguo do amor que possibilita a solução da ética num mundo em transformação. Assim, até mesmo os princípios da lei natural expressos na constituição se traduzem enquanto concretização do princípio do amor em dada situação, representam o amor-companheiro ao estabelecer a liberdade e os direitos iguais para todos contra as arbitrariedades, repressões e a destruição da dignidade das pessoas. Em última instância, a resposta à necessidade de uma ética num mundo em transformação deverá ser determinada pelo kairós, mas somente o amor-companheiro consegue aparecer nos momentos de kairós. O amor-companheiro, ao realizar-se de um kairós a outro, cria uma ética além da alternativa entre ética absoluta e a relativa.
O Brasil necessita de uma ética, mas aparentemente está longe dela. Na busca de soluções, nos perguntamos quais as razões da mortalidade infantil e da criminalidade infanto-juvenil? Este é um problema muito discutido, mas as respostas não estão dadas. E aqui deve-se relacionar entre suas causas a catastrófica distribuição de renda, a miséria endêmica e o racismo. Na verdade, não podemos esquecer que o problema não é somente o menor abandonado, mas as famílias abandonadas. Então, até que ponto o racismo é um sério entrave para um movimento de expansão do reino de Deus no Brasil? Analisemos alguns dados. A população baiana, por exemplo, tem um índice de mortalidade que triplica o índice de Angola, mesmo considerando a sua densidade demográfica e o pós-guerra. Os maiores índices de mortalidade infantil ocorrem nos estados de maioria negra, ao contrário dos estados do sul e sudeste. Todos os números apresentados, de desnutrição, doenças, retardamento mental dizem respeito muito mais aos negros destes estados que ao número de brancos, em sua maioria situados abaixo do trópico de Capricórnio. E as unidades de bem estar social são guetos estruturalmente construídos com capricho superior ao das prisões, mas não lhes fica devendo nada em relação ao tratamento dispensado. Mas, no Brasil vê-se a questão do racismo individual, quando este é uma versão cuja conseqüência brutal é institucional, que gera desemprego, criminalidade e morte de milhões de negros. O sonho de embranquecimento do Brasil vai a todo vapor, pois aliado a imperiosidade da miscigenação, vai diluindo a população negra no Brasil. A análise da situação das crianças abandonadas nos leva a enfrentar a realidade da discriminação racial no Brasil. Mais uma vez, tal questão poderia ter sido encarada apenas como mera questão técnica, mas aqui o amor-companheiro tem uma tradução: justiça. Quando tomamos o conceito de justiça significa lei e instituições portadoras do amor-companheiro em situações especiais. Para o reino de Deus, a justiça deve representar sociedade plena de sentido de vida, sistema de leis e formas capazes de manter e de desenvolver a segurança necessária para todas as pessoas. Mas, por não existir tal sociedade, a justiça, mesmo como princípio secundário, que traduz um momento do amor-companheiro, deve ser buscada. Fica, então, uma constatação: o amor-companheiro é a própria vida em sua unidade concreta. As formas e estruturas do amor-companheiro são as formas e as estruturas que possibilitam a vida, nas quais as forças destrutivas são superadas. Este é o sentido da ética: expressar as diferentes maneiras da concretização do amor-companheiro e da manutenção e salvação da vida.
É importante dizer que as lutas operárias, que acontecem nas fábricas e sindicatos, traduzem essa busca de sentido. É assim, que vemos recentes acontecimentos históricos, conscientes, no entanto, de que se perderam no desencanto da utopia. É o caso da vanguarda operária que começou a surgir no final dos anos 1970, quando nomes até então desconhecidos pela população passaram a ter destaque nos noticiários. O nome de Lula, líder sindical metalúrgico, foi um deles: começou a ser conhecido no país no dia 12 de maio de 1978, a partir da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O surgimento desse sindicalista traduziu, no entanto, um fenômeno maior, um quase levante dos trabalhadores do ABC paulista, que na seqüência dos dois anos seguintes destroçaram a legislação antigreve do governo e abriram caminho para o fim do regime militar. Dessa maneira, em 1978, depois de quatorze anos, os trabalhadores conquistam um direito que sempre fora seu: a greve. Mas para que isso acontecesse foi preciso coragem e operários decididos que iniciassem um movimento nacional. A explosão das greves por reivindicações salariais iniciadas no ABC se estendeu às novas categorias de trabalhadores. Os metalúrgicos da Belgo Mineira, em João Monlevade, iniciaram o mês de setembro em greve, reivindicando melhores condições de trabalho e de salários.
O ensinamento fundamental da greve do ABC, na sua significação social, de organização, foi marco histórico que assinalou a divisão entre os trabalhadores e os grupos multinacionais que centravam sua atuação em São Paulo. A política econômica exportadora, seguida do arrocho salarial e conjugada com a falta de representatividade dos sindicatos se tornara insuportável. O empobrecimento dos assalariados no Brasil era tal que se tornava difícil falar em classe média. Daí que o movimento grevista, que prosseguia, foi um clamor contra a fome, uma rebelião contra a negação de um dos mais elementares direitos da pessoa humana: o de comer.
“´Sua extensão aos demais estados e as demais categorias vai depender da grande atividade das lideranças sindicais e da preparação das bases para esse tipo de movimento. E essa extensão é um a conseqüência lógica da reconquista democrática. Quando o povo brasileiro tiver liberdade de expressão do pensamento, de reunião, de organização estudantil e sindical, e um mínimo de acesso aos meios de comunicação – rádios, jornais e televisão -, este povo terá condições de ele mesmo, pacificamente, liquidar com este processo de exploração dominante no Brasil através do apelo à greve fraterna e pacífica como sua única arma. E a greve é um direito legítimo do trabalhador, ela não pode ser regulada. Deve existir apenas como uma arma, como a última razão do trabalhador’, como disse o ministro Prado Kelly, autor da introdução do direito de greve na Constituição, na Constituinte de 46. E não existe direito de greve no Brasil de hoje, nem nunca existiu. O grande ensinamento que o sindicato do nosso grande amigo e líder Lula está dando ao Brasil é esse: nós vamos conquistar o direito de greve. Ainda que para essa conquista muitos morram nas prisões, muitos morram torturados´. Dídimo Miranda de Paiva, jornalista profissional, iniciou sua participação na vida sindical em 1965, quando se elegeu suplente na diretoria do sindicato. Em 1975, atendendo a uma solicitação de quase trezentos jornalistas, encabeçou a chapa de oposição. Eleito, sua diretoria foi a primeira, desde 64, a ´ignorar´ as leis de exceção. Na sua opinião, os sindicalistas de 45 a 64 ´eram piores que os atuais´, pois naqueles anos eles tinham relativa liberdade, mas preferiram entrar na linha populista de Getúlio, Jango, etc. Por isso, olha com desconfiança o ´ressurgimento´ de certos elementos que, tendo sido governo, nada fizeram para ´quebrar´ a estrutura corporativa-fascista da CLT”.
Aqueles operários e sindicalistas estavam fazendo história, já que história é quando determinamos em liberdade, mas também onde somos determinados pelo destino em oposição à liberdade. Mas, em determinadas épocas, o estabelecimento do poder de ditadores faz predominar as necessidades, como conseqüência da catastrófica destruição do sistema liberal de vida. Nesses momentos, em que a vida humana perde seu valor e prevalece a falta de sentido, o reino de Deus é chamado a fazer história. É uma postura ética, um desafio à situação-limite, quando a vida humana se vê confrontada pela mais tremenda ameaça. E por haver trabalhadores, excluídos e cristãos, mesmo nos mais terríveis períodos, sempre há uma ação contrária à opressão, pois o ser humano está sempre agindo, mesmo que o conteúdo de sua ação seja a inatividade.
Assim, o movimento sindical não morrera ao longo dos anos militares de política de arrocho salarial, de fundo de garantia por tempo de serviço, de administração coercitiva e autocrática. Ele acumulava forças. E o problema salarial e as condições sociais do operário levaram a um ponto de saturação. As lideranças sindicais surgidas lá no ABC eram fruto de uma conscientização de base. Realmente existia o espírito de classe e uma identidade entre as direções e as bases. A espontaneidade do movimento existia dentro do sindicato, porque as pessoas que ocupam o sindicato saíram da fábrica com essa mentalidade. Os frutos que se colheu disso é que as reformas que o trabalhador pretendia ele teria que fazê-las. Não se podia esperar que fossem entregues gratuitamente. As greves mostraram que era o momento do trabalhador se conscientizar da importância histórica da sua posição, de acabar com o atrelamento das entidades sindicais ao Ministério do Trabalho, e de iniciar a contratação coletiva de trabalho, aproveitando a experiência dos companheiros, de sucesso absoluto através da greve.
“Mesmo nos grandes centros industriais, grande parte dos trabalhadores ignora ainda hoje a extensão do movimento operário lá em São Paulo, pois a censura no rádio e na televisão impediram a nação de tomar conhecimento dele. No interior, o desconhecimento é quase total, a não ser que os sindicatos cuidassem de divulgá-la, como em Monlevade, onde transcrevemos todas as notícias publicadas no jornal. Mas mesmo onde a notícia chegou sutilmente, os trabalhadores já estão dispostos a colocar fatos novos. Teremos uma noção da amplitude dessa repercussão no momento de se discutir com as empresas o novo contrato de trabalho, as campanhas salariais. Em Minas Gerais, o momento da atitude firme dos trabalhadores exigindo melhorias salariais e de condições de trabalho, vai ocorrer de agora em diante, quando as grandes categorias vão começar a negociar com as empresas as condições do novo acordo”. João Paulo Pires Vasconcelos já foi securitário, eletricista e desde 1960 e metalúrgico. ‘Em 1961 eu me sindicalizei, participe ativamente do movimento sindical em Monlevade tanto no período anterior a 64 como posteriormente’. Está a frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Monlevade desde 1972. Atuando na linha de frente dos sindicatos de metalúrgicos do país, João Paulo, ao lado de Lula, Marcílio e outros, teve importante participação no 5º Congresso da CNTI”.
E porque a luta de classes é uma realidade estrutural do capitalismo, os juízos morais sobre ela na maioria das vezes vêem-se transbordados por abordagens ideológicas. Mas, é impossível fechar os olhos diante de sua existência, porque a luta de classes é uma realidade, uma realidade sem dúvida demoníaca, uma tendência destrutiva do sistema. Por isso, não é possível conceber a construção de um reino de Deus sem conflitos, pois significaria mentir sobre a situação real do excluído. Pensar assim seria favorecer o desencantamento da utopia. Assim, as greves fazem parte da luta dos trabalhadores, que permitem experiências de organização e solidariedade, que fortalecem e preparam esses mesmo trabalhadores para novos enfrentamentos. A cada luta particular, trabalhadores e excluídos buscam em última instância levar à plenitude do ser e ao sentido da vida. Assim, visam superar o demoníaco que se revela através de seu poder destrutivo. E através dessa luta a vida do excluído adquire sentido. Por isso, o significado das greves no final dos anos 1970 foi grande, mesmo quando se davam ao redor de aumentos salariais, pois a fome suplanta qualquer lei. Nesse sentido, trabalhadores e cristãos, unidos, são combatentes do reino de Deus, investidos de uma missão profética de transformação do conjunto da sociedade. Nessa práxis, trabalhador e excluído perdem a insegurança e não consideram a situação como sem saída. Em meio a ausência de sentido, passa a ver um sentido: ele é o instrumento da luta contra uma situação que rouba da pessoa todo sentido humano.
Para muita gente, as lutas salariais são questões meramente sindicais que não têm relação com os problemas do reino de Deus. Mas, a política é o real. Ela está no mundo. Por isso, quando trabalhador e excluído lutam, combatem politicamente. E realizam esta luta animados por uma fé na comunidade de justiça, liberdade e paz, no reino de Deus. A greve, nesse sentido, representa a volta do sindicalismo ao seu leito normal. As águas foram represadas depois de 1964, mas os trabalhadores redescobriram que as soluções para os seus problemas devem sair das suas próprias cabeças e mãos, da força da sua união. Resolveram romper diques e desconhecer a lei de greve, a legislação salarial, a decisão dos tribunais. Puseram de lado os códigos impostos pelas classes políticas dominantes, que são ao mesmo tempo as classes econômicas dominantes. E souberam se portar maduramente e com grandeza nesse episódio, captando o reconhecimento de toda a nação. As greves fizeram com que os trabalhadores voltassem a confiar em si próprios e se dispor a seguir o exemplo do ABC paulista. Era a hora dos trabalhadores ocuparem seus espaços. E não deixar de dar um passo adiante, quando a hora fosse de avançar.
“Arlindo José Ramos, foi reeleito para a presidência do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte. É bancário há 33 anos, dirigente sindical há 13. Segundo suas próprias palavras é uma pessoa que sempre esteve dentro do sindicato, desde 46 e que depois que entramos não pudemos mais sair”.
Assim a relação entre a questão salarial e a democrática permitiu o surgimento de uma vanguarda. E essa vanguarda estava a surgir mais como necessidade do que como consciência. Era a passagem da questão democrática à política, só que ficava no meio. Explicando: a necessidade de unificar as lutas, de dar respostas democráticas, de conseguir vitórias salariais, levou um setor da vanguarda a tentar uma resposta sindical e democrática para o país, mas esta resposta não estava surgindo da consciência de que o problema do país era político e, por isso, partidos deveriam nascer das lutas dos trabalhadores. Para a maioria dos trabalhadores esta situação não estava clara, nem mesmo para um setor de vanguarda. Eles entendiam, empiricamente, que era necessário criar um instrumento que permitisse o avanço das lutas, e que este instrumento não eram os partidos existentes criados pelo regime militar. A vanguarda fazia, de fato, a mediação entre a questão salarial/democrática e a questão política. Mas era necessário fazer a ponte entre as lutas salariais e democráticas e a questão política, os trabalhadores precisavam se organizar em partidos para enfrentar politicamente o regime militar. Assim, determinadas lideranças sindicais começaram a perceber tal necessidade, a cada greve, a cada experiência nova diante da luta de classes e, aos poucos, os trabalhadores foram entendendo o papel que lhes cabia na democratização da sociedade.
Essas lideranças traduziram naquele momento o clamor profético, já que o profetismo bíblico traduzia no antigo Israel a inquietude e o descontentamento da população em relação a acontecimentos sociais e religiosos concretos. Os profetas hebreus, no cumprimento de sua missão, não entravam em choque físico, militar, como em outros lugares, com as barreiras intransponíveis levantadas pelos governos centrais. Ao invés disso, utilizam a palavra, o discurso crítico, como forma de trazer à superfície novas soluções e de influenciar aqueles que exercem o poder. Há, por isso, uma semelhança metodológica entre o profetismo bíblico e o conceito de intelectual, desenvolvido a partir dos trabalhos de Gramsci. Para esse pensador italiano, o intelectual representa organicamente uma determinada comunidade, tem função superestrutural e, apesar de sua organicidade, precisa exercer autonomia em relação às pressões sociais que sofre. É dessa postura que nasce sua força crítica e sua compreensão de que diante da realidade há alternativas diferentes daquelas expressas pelo poder. Quanto ao profeta bíblico, sem negar sua característica enquanto homem de Deus, expressão humana e verbal da vontade divina, é importante analisar também o fato de que possuía uma concepção unitária do fato e que constantemente procurava a síntese entre política e ética. Eram revolucionários voltados para o passado e conservadores impulsionados pela paixão do porvir. Nada faziam sem invocar as experiências do passado, no entanto, sua grande mensagem eram os novos tempos. Sabiam servir-se do passado para as necessidades do presente, já que todos tinham algo em comum, uma atitude realista, os quais abominavam o palavreado inútil, a eloqüência abstrata. Ao contrário dos falsos profetas interessavam-se pelo concreto e procuravam não viver envoltos em ilusões. A pregação do futuro não constituía o essencial de suas prédicas; era, antes, fruto e resultado de conhecimento do mundo adjacente, da atualidade e do passado.
É triste ver que parte da intelectualidade brasileira tenha sido cooptada pelo establishment, perdendo assim sua força crítica e sua capacidade de elaborar e apresentar alternativas diferentes daquelas colocados pelo status quo. Nossa intelectualidade é formada, tradicionalmente, por filhos da oligarquia, o que faz dela uma expressão ideológica ligada ao poder, e o que em parte explica a realidade desse tropismo em direção ao poder. E quando os intelectuais optam por ser poder abandonam sua vontade crítica, sua missão. É próprio do profeta e do intelectual criar o desconforto. Ambos têm que ser fortes para trabalhar se necessário na solitude e continuar exercendo seu papel. O que outros pensam no imediatismo do presente deve ser indiferente. É um equívoco pensar que vantagens imediatas sejam uma vantagem política. O fruto da política é sempre abrangente, realiza-se enquanto totalidade. Assim, quanto maiores os frutos ou vantagens que uma determinada política produz maior a sua abrangência social. O trabalho do intelectual é plantar idéias políticas e lutar para que elas floresçam. Trocar essa missão por benesses e imediatismos é um trágico equívoco. A defesa de idéias corretas de transformação social tem um custo, que pode ser a perda momentânea de privilégios pessoais, imediatos, quando a preocupação é participar do establishment. Mas se o intelectual tem consciência de seu papel na sociedade, não há de fato uma perda.
Atualmente, na sociedade brasileira, a alienação de um número importante de intelectuais, em relação à missão que receberam da sociedade, tem como pano de fundo a globalização. Há uma forte tendência, subjetiva, para a cooptação. É essa realidade que deve levar o cristão social a substituir objetivamente o intelectual de corte gramsciano na sociedade globalizada.
”Cada instituição teológica, consciente ou inconscientemente, também tem suas pressuposições e tendências ideológicas, mas duvido que a maioria desses centros educacionais tenha refletido com muita claridade e seriedade sobre essa realidade. Essa orientação ideológica estaria vinculada à história da instituição, à formulação da missão da igreja e o papel da educação teológica no cumprimento dessa missão. Donde, cada instituição educará seus estudantes para certa classe de leitura popular de acordo com suas obrigações. Tenho a impressão de que as instituições ecumênicas articulam com maior claridade seus compromissos ideológicos e que se esforçam para que esses se reflitam em seu propósito, curriculum e estruturas. (...) Quanto às leituras de uma orientação ideológica, existem dois perigos possíveis. Uma instituição pode enfocar tanto a convicção de sua responsabilidade sociopolítica que perde sua relação com a igreja nacional e suas congregações. (...) É importante que a instituição teológica vá adiante da igreja e que a oriente, mas que não se adiante a tal ponto que a igreja a perca de vista (...) Por outro lado, uma instituição teológica de convicções mais conservadoras pode cair na armadilha de preparar ministros de molde histórico de acordo com modelos eclesiásticos que funcionaram nas igrejas por longos anos. Declarações do propósito da instituição e de sua filosofia educacional podem limitar-se a critérios denominacionais e à esfera da igreja local. Essas áreas são importantes e fundamentais, mas pode ocorrer que se preste pouca atenção ao contexto maior na qual se encontra a instituição, e seus graduados não estejam adequadamente preparados para ajudar aos membros das igrejas locais ou a igreja nacional a confrontar a realidade nacional”.
É claro que nem sempre foi assim. No fim dos anos 1950 e começo dos anos 1960, a comunidade intelectual brasileira buscou contribuir para um projeto de sociedade. A diferença básica entre aquele momento e os posteriores é, em essência, o projeto. Naquela época havia a busca de um projeto nacional, sem uma preocupação unívoca, ou seja, ninguém desejava uniformizar soluções. Em torno do poder aconteceram discussões e floresceram divergências que permitiram à sociedade como um todo pensar alternativas. E havia os partidos que tinham credibilidade social e participavam do processo de discussão. Tínhamos uma gama ampla de opiniões, indo de uma União Democrática Nacional até o Partido Comunista do Brasil, todos com projetos explícitos.
Fomos golpeados pelo neoliberalismo da globalização excludente e estamos todos tontos, parece que os projetos se tornaram inviáveis, que a utopia está definitivamente desencantada. Mas, é necessário entender que sem projetos políticos não pode haver discussão política. Num país onde o aparelho de estado não tem um projeto os partidos ficam capengas. Não há o que discutir. Sempre foi, dentro da democracia burguesa, função do estado a produção de um projeto próprio de governo. A política é exatamente isso, a discussão dos vários projetos existentes e o exercício da escolha e apresentação desses projetos para a sociedade.
Tal situação nos leva a analisar a diferença entre profeta e mestre. As faculdades de teologia formam ambos. Mas o número de profetas/intelectuais, enquanto elemento crítico, produtor de desconforto, dentro e fora das comunidades e igrejas será sempre menor que o de mestres. Mas isso não quer dizer que sua produção seja menos importante. As faculdades não são unívocas. Abrigam quadros diferentes, teólogos, mestres, pastores, missionários, ministros de música e de educação religiosa, com perspectivas e compreensões diferentes da realidade. É necessário entender que o ensino teológico brasileiro, principalmente o protestante, não tem tradição secular e que seu desenvolvimento traduz uma produção carente de caminhos próprios. Outro problema é o isolamento do ensino e da produção teológica brasileira. As faculdades acabam existindo enquanto entidades fechadas, que de forma consciente ou não deixam de lançar suas idéias ao debate acadêmico e nacional. Tendem assim a se transformar em grupos fechados, que por isso deixam de pensar criticamente a sociedade, apresentar alternativas e pressionar positivamente governo e establishment.
Diante da crise da intelectualidade, as faculdades de teologia estão desafiadas a produzir profetas. Homens e mulheres conscientes de seu papel histórico, que sob a luz do evangelho façam a crítica cristã das políticas reducionistas. Tal postura deve nascer de um ensino teológico que responda aos desafios da globalização excludente, enquanto necessidade e urgência para a reconstrução da intelectualidade e desenvolvimento do conjunto da sociedade brasileira. Mas esta questão está ligada à própria produção do saber. No mundo secular, a difusão do saber produzido não é tarefa exclusiva das universidades. A mídia, por exemplo, tem um importante papel nessa tarefa. Acontece que a mídia alienou-se de sua missão original. E essa alienação é fruto de sua dependência intrínseca das empresas globais, que direcionam a democracia do livre comércio. Tal fato gerou um desequilíbrio, que pode ser equacionado da seguinte forma: quanto maior o peso da estrutura global menor é a responsabilidade ética da mídia na difusão do saber produzido. Há uma redução da qualidade de pudor e de indignação. Assim, ao invés da palavra profética temos cronistas do establishment.
A questão da justiça social parte de três realidades que estão imbricadas com a globalização. São elas, a materialidade de nosso corpo, a pessoalidade e a cidadania. A corporeidade é a minha primeira expressão enquanto pessoa, a forma que possibilita a minha comunicação com os outros, com a minha espacialidade e com o meio. Essa possibilidade de comunicação é limitada ou facilitada pela minha individualidade, que socialmente, traduz-se enquanto cidadania. Ou seja, pela maneira como participo, pela sociabilidade. O problema é que no Brasil a cidadania não se completou. De tal maneira que meu corpo aparece como diferença central em relação a outros corpos. Não importa que minha individualidade cresça, enquanto consciência que tenho de minha realidade e de minhas possibilidades, inclusive através da ampliação de meus conhecimentos, se a cidadania me escapa por falta de espacialidade. Quando alguém tem o poder de tirar a minha espacialidade, de me colocar para fora de minha casa e de meu espaço de produção, dentro da realidade urbana, ou de minha casa e da terra onde produzo, dentro da realidade rural, minha corporeidade torna-se inferior às demais, porque deixo de ser cidadão. Por isso, a possibilidade do futuro está na comunicação, mas não na comunicação à distância, informatizada, ao contrário do que diz a globalização excludente, e sim na comunicação na proximidade. O que não falta hoje é informação, divulgação de dados e fatos verticalizados numa rapidez e quantidade assombrosas. Isso produz alienação, já que não há discussão de metas, prioridades ou contexto em que esses dados e fatos possam ser inseridos. Nesse sentido, a globalização excludente permite falar na construção antecipada de violência deliberada.
“Só recentemente começou a emergir com clareza a dimensão comunicação, publicidade, cultura como parte integrante do instrumental transnacional. É cada vez mais evidente que o sistema transnacional de comunicação se desenvolveu com o apoio e a serviço dessa estrutura transnacional de poder. É parte integrante do sistema, e por meio do qual é controlado o instrumento fundamental que é a informação na sociedade contemporânea. É o veículo para transmitir valores e estilos de vida aos países do Terceiro Mundo, que estimula o tipo de consumo e o tipo de sociedade requeridos pelo sistema transnacional, em seu conjunto. Politicamente, defende o status quo quando este apóia seus próprios interesses; economicamente, cria condições para a expansão transnacional do capital. Se o sistema transnacional perdesse seu controle sobre a estrutura de comunicações, perderia uma de suas armas mais poderosas; daí, a dificuldade de mudanças”.
É assim que atuam os grandes conglomerados da indústria editorial no mundo. Decidem a priori quais serão os produtos que ocuparão a lista de mais vendidos. Criaram um fosso entre o mercado das idéias e a produção teórica do saber.
“Com o desenvolvimento dos meios eletrônicos, a indústria da consciência converteu-se em marca-passos do desenvolvimento sócio-econômico na sociedade pós-industrial. Infiltra-se em todos os demais setores da produção, assume cada vez mais funções de comando e de controle, e determina a norma da tecnologia dominante. (...) Além do mais, os meios de comunicação também suprimem a velha categoria da obra que só se pode conceber como objeto isolado, não independente de seu substrato material. Os meios não produzem tais objetos. Criam programas. (...) Os programas da indústria da consciência têm que absorver seus próprios efeitos, as reações e as correções que provocam. Do contrário, tornam-se antiquados de imediato. Por conseguinte, não se podem considerar como meios de consumo, e sim, meios para sua própria produção”.
Por isso, a comunicação está na comunidade, entre os povos do mundo.
“Um elemento valioso dos grandes movimentos de renovação espiritual foi criar meios que permitem que a ação pedagógica e pastoral se personalizem. Os pequenos grupos dentro da igreja, onde se vive o ‘cara a cara’ da vida em comunidade não são uma invenção de algum especialista em psicologia social ou das comunidades de base no Brasil. Foram a prática dos anabatistas do século XVI, dos pietistas e dos metodistas primitivos. Sua intenção era precisamente buscar o avivamento da fé e a piedade através do estímulo mútuo que personaliza a vivência da fé na comunidade. Em especial, no modelo wesleyano, através dos pequenos grupos como células, ligas e classes, a ação pastoral se ampliava e possibilitava um pastoreio mútuo dentro das grandes linhas teológicas desenvolvidas pela pregação de John Wesley e a hinologia de Charles Wesley”.
São os povos que criam, já que a comunicação é a expressão da solidariedade de preocupações, do fato de viver juntos, de depender para continuar vivendo.
“A fim de criar riqueza, os indivíduos devem ser livres para serem outros. Não devem ser compreendidos como fragmentos de uma entidade, membros de um grupo consangüíneo ou enclave étnico, mas como indivíduos - fontes originadoras de discernimento e opção. Tais pessoas não estão isoladas nem são estranhas entre si. Simpatia, cooperação e associação são para elas tão naturais e tão necessárias, como o ar que se respira. No entanto, quando formam comunidades, elas as escolhem, elegem-nas, contratam em seu nome. O estado natural da comunidade política de pessoas chegou a se constituir não através de posse primordial, mas por compactação constitucional. Antes que a raça humana escolhesse suas comunidades, havia somente uma forma de pietas, um tipo de amor, o amor ao país. Ainda não fora vislumbrada a possibilidade de dilectio. O amor primordial ao país é bom. Mas a escolha, a compactação, a eleição são melhores”.
E aí está, sem dúvida, o caminho para uma outra globalização, que não precisa necessariamente de toda essa sofisticação da alta modernidade.
É fato notório que até agora o mundo da globalização excludente se mostra verticalizado, tem preocupações pragmáticas, localiza-se em centros frouxos, de onde comanda a violência da informação e a violência do capital. Mas isso é uma transição. As comunidades, os grandes centros urbanos, as grandes massas, no entanto, estão criando outra coisa. Respondem à informação e ao pragmatismo com comunicação e emoção. Abandonaram, sem terem consciência disso, a epistemologia do iluminismo. A emoção permite a liberação de quadros estabelecidos, por isso tem um papel motor na produção do conhecimento. Quando falamos de emoção estamos realçando tendências motivadoras, quer sejam imitação, defensiva, agressiva, gregária, de propriedade, de domínio, de submissão. Isto porque a iniciativa da vontade ou da atividade pode ser insuficiente ou deficiente na descoberta e criação do conhecimento. As Escrituras judaicas são ricas nesse tipo de experiência vivencial que faz cruzar emoção e comunicação. O povo no antigo Israel se movimentava, sacrificava, lutava, vencia num processo contínuo de novas emoções e conhecimentos para obter uma conquista final. A fé se constrói dentro do mesmo princípio, dando forças para suportar no agir e na obediência como fruto da confiança. A própria assinatura da aliança na Escritura judaica acontece no contexto de uma crise emocional sem precedentes na vida do herói da fé. E como ponto alto dessa dialética emoção/conhecimento na cultura judaico-cristã temos o sermão do monte, onde todo o discurso é carregado de beleza motivadora: dos pobres de espírito é o reino dos céus; os mansos herdarão a terra; os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Assim, as Escrituras têm transmitido confiança e esperança ao comunicar emoção. E isso não acontece por acaso. É Deus quem leva à emoção. Ele criou o ser humano com possibilidades que não se restringem à razão e à lógica, pois o mundo é um incentivo à vida. Nesse sentido, toda a criação é um desafio às nossas emoções. Mas, os setores médios da sociedade estão alicerçados no consumo, que é um redutor do pensamento, por isso tendem a ver o mundo como uma realidade estática, onde nada muda. A mídia, através do massacre da informação, aprofunda essa falsa consciência e fortalece o enquadramento dos setores médios. É desse enquadramento que nasce sua prosperidade e, como conseqüência, sua dificuldade para pensar a realidade. E a universidade, como centro pensante dos setores médios, perde sua capacidade de gerar reflexão crítica e indignação.
O que vemos, no que se refere às grandes massas, é a racionalidade ceder lugar à emoção, enquanto geradora de atividades sociais produtivas.
”Ambos os autores, Heller e Wallon, apontam para a estreita relação entre emoção, linguagem e pensamento, o que torna impossível seu estudo isolado, pois, desde muito cedo na vida do indivíduo, a sociedade, por meio da linguagem, integra-se no todo que constitui. (...) Por intermédio destes autores reforçamos a nossa constatação da natureza mediacional das emoções na constituição do psiquismo humano. Elas estão presentes nas ações, na consciência e da identidade (personalidade) do indivíduo, diferenciando-se social e historicamente por meio da linguagem. (...) Emoção, linguagem e pensamento são mediações que levam à ação, portanto somos as atividades que desenvolvemos, somos a consciência que reflete o mundo e somos a afetividade que ama e odeia este mundo, e com esta bagagem nos identificamos e somos identificados por aqueles que nos cercam”.
Temos, então, uma produção que nasce das entranhas das massas, a partir de baixo, num nível e intensidade até agora desconhecidas na história humana. Numa sociedade aparentemente rica, a sabedoria passa a ser privilégio daquele que conhece a experiência da escassez.
”Outros vícios sociais produto desse ‘cultivo da riqueza’ não podem ser ignorados. Alimentam-se exponencialmente do ‘amor ao dinheiro’ (1 Tm 6:10); generaliza o equívoco que privilegia o ter sobre o ser; desdenha a posição cristã de ter muito e viver com menos do que se tem; promove a cultura do ócio que gasta em prazeres sensuais (Lc 12:16-21). Tudo isso termina destruindo os valores e princípios que fazem possível o próprio crescimento econômico. Qual a melhor medicina contra esses vícios da alma? A Igreja que possui uma mensagem vibrante e realista no social, político e econômico.”
É o caminho da descoberta, do que valho realmente enquanto ser. Nesse sentido, tanto o continente latino-americano, como o Brasil passam a ser historicamente afortunados por serem potencialmente produtores de sabedoria. Nesse sentido, estamos deixando a era tecnológica e entrando na era da democracia participativa das grandes massas. O que é uma mudança de qualidade nas relações humanas. As grandes massas, que estão em movimento desde os anos 1950, começam agora a fazer uso da comunicação, enquanto linguagem transformadora da situação dos excluídos. Esse fenômeno que se expande, mas ao mesmo tempo se aprofunda, aponta para algo inteiramente novo no cenário latino-americano.
Por isso, para o estudioso da religião no Brasil, salta aos olhos a peculiaridade da Conferência do Nordeste, realizada em 1962. Talvez até, mais do que saltar aos olhos tal peculiaridade, pode ser um choque deparar-se com tal politização. Já a partir do próprio nome, “Cristo e o processo revolucionário brasileiro”, o estudioso é levado a perguntar: o que está acontecendo aqui? É nossa intenção fazer uma releitura dos documentos produzidos pela conferência, procurando sentidos novos nas discussões realizadas que, a meu ver, traduziam a preocupação com as possibilidades da expansão do reino de Deus, embora numa leitura mais superficial, econômica, ia de um reformismo à maneira sueca à proposta bolchevista, com a formação do partido revolucionário e conselhos operários por fábricas.
De todas as maneiras, deparar-se com os documentos da Conferência do Nordeste, tanto os de preparação como os propriamente gerados pela conferência, é um momento especial diante da história do protestantismo brasileiro. É um lavar a alma ao constatar as contextualizações e reflexões que tal protestantismo, já multicultural e reflexo das brasilidades, procura encontrar para o país como leitura do cristianismo que professa. Fica claro para o estudioso que tal situação não está acontecendo por combustão espontânea, mas que nosso protestantismo estava sendo bombardeado pelo contexto da situação mundial, pelas pressões das mobilizações dos trabalhadores brasileiros, no campo e na cidade, e também pelo caminhar à esquerda que vinha realizando, aos trancos e barrancos, a Igreja católica. A grande mudança no cenário religioso brasileiro se deu a partir dos anos 1950, com a doutrina social da Igreja católica, que teve como ponto de partida Leão XIII, e que se seguiu com a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, em 1952, que teve Dom Hélder Câmara como seu primeiro secretário-geral; com a reestruturação da Ação Católica, que englobava a Juventude Operária Católica (JOC), Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude Universitária Católica (JUC). Mas nos anos 1960, a JUC engajou-se no processo político, rebelou-se contra os bispos diocesanos e aliou-se às organizações de esquerda não-católicas. Betinho, Herbert José de Souza, homem preocupado com a fome e a miséria no Brasil, em 1962 era líder da JUC, e no correr dos anos 1960 transformou-se num dos expoentes da Ação Popular, um dos agrupamentos políticos mais ativos de toda a esquerda, oriundo da JUC e da JOC. É interessante notar que em abril de 1962, a 5a Assembléia do Episcopado apoiou as reformas de base de João Goulart e, no ano seguinte, com base na encíclica Pacem in terris (1963), de Pio XII, exigiu a participação das massas populares no processo de desenvolvimento. Nos anos 1963/64, três encíclicas eram discutidas dentro e fora da igreja e amplamente analisadas pela imprensa brasileira: Rerum novarum, de Leão XIII, Mater et magistra e Pacem in terris, as duas últimas de Pio XII. E foram elas que formaram a primeira base teórica da moderna esquerda cristã brasileira.
Desde 1961, o clero católico estava dividido em três tendências: conservadora, reformista e revolucionária. A ala conservadora era liderada pelo cardeal dom Jaime Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, por dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, e por dom Eugênio Siguad, autor de “Utopia Agrária, questão de consciência”. A ala reformista estava sob a direção do cardeal dom Carlos Carmelo Mota, arcebispo de São Paulo, de dom Hélder Câmara, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e depois arcebispo de Olinda e Recife, de dom José Távora, arcebispo de Aracaju, e de dom Serafim, arcebispo de Natal. Aliados aos reformistas estavam os dominicanos e uma grande parte do clero secular, que procurava uma ligação maior com as organizações de classe e os sindicatos. Junto a eles, atuava a Ação Católica, que englobava a JEC/JUC e a Juventude Operária Católica. O setor revolucionário era liderado por dom Jorge Marcos, bispo de Santo André, e por vários padres, entre os quais podemos citar Francisco Lage, de Belo Horizonte, Ruas, de Manaus, Almery e Senna, do Recife, Alípio de Freitas, que junto com Julião, dirigiu as Ligas Camponesas, Aloísio Guerra, autor de “A Igreja está ao lado do povo?”, frei Josaphat, diretor do jornal “Brasil Urgente” e dom Padim, assistente da Ação Católica. Quando esteve no Brasil, em 1961, frei Cardonnel, intelectual dominicano francês, lançou as bases para a organização da esquerda católica. “Depois de oito meses no Brasil, penso que o primeiro problema, o mais urgente, é a luta contra a miséria (...). Impugnar esta luta em nome do perigo comunista representa a pior das hipocrisias”. Por causa de seu pronunciamento, foi mandado de volta à França, mas sua pregação deu origem à Ação Popular.
Do lado protestante, desde 1950, setores mais preocupados com a questão social vinham se preparando para uma tomada de posição. Assim, o reverendo Benjamin Moraes, presidente da Comissão de Igreja e Sociedade da CEB, dirá na I Reunião de Consulta sobre a Responsabilidade Social da Igreja, em novembro de 1955, diria estar convencido de que não basta à obra de evangelização dizer apenas que somos salvos mediante a fé no sangue expiador de Jesus Cristo. Esta verdade é básica, mas é indispensável completar a obra de evangelização ensinando o que essa verdade quer dizer na vida prática.
Fruto desse encontro realizado em São Paulo, a Comissão de Igreja e Sociedade proporá aos evangélicos organizar conselhos evangélicos de orientação social, política e econômica, de caráter permanente e interdenominacional, promover cursos de estudos e divulgação sobre assuntos políticos, econômicos e sociais e estimular os evangélicos a participarem da vida política do país por meio de filiação partidária. Em relação aos católicos, as recomendações eram promover encontros para o estudo de problemas sociais e políticos comuns, não obstante as dificuldades que possam aparecer e colaborar com associações na obra de assistência social. Em relação aos grupos de esquerda, a recomendação era de que igreja evangélica deveria aceitar o desafio da realidade social reinante e realizar uma contribuição para resolver os graves problemas do mundo atual. E como medidas práticas sugeria a formação de líderes que atuassem na vida social e política do país, no incremento de programas de serviço social e na orientação dos operários crentes para que atuem ativamente nos movimentos sindicais. É interessante notar que o documento foi aprovado quarenta delegados que representavam não oficialmente doze igrejas e organizações: batistas, Evangélica Armênia, Evangélica Fluminense, Episcopal, Igreja Cristã, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Presbiteriana Independente, Confederação Evangélica do Brasil, Conselho Mundial de Igrejas e União Cristã de Estudantes do Brasil. Dos presentes, 19 eram pastores e 21 leigos.
A partir de 1962, a forte presença de governos nacionalistas na África e Ásia, a vitória da revolução cubana e as mobilizações sociais no Brasil aprofundaram a conscientização da igreja protestante, culminando com a realização da Conferência do Nordeste, em julho de 1962, no Recife.
Segundo documento da Conferência, a preocupação da igreja pelo ser humano e pela sociedade na qual ele vive não pode eximir-se do diálogo tantas vezes incômodo com os poderes do mundo. A presença das forças seculares é tão dinâmica, as formas que ideologias materialistas vão tomando têm aparências de tal modo espiritual, que a presença dos cristãos por vezes parece diluída e a sua participação no mundo não chega a firmar bases de uma ação que ultrapasse a esfera individual. E isto, no mundo de hoje, é grave. A sociedade contemporânea está constituída de grupos organizados, pequenos e grandes, partidos, sindicatos, associações, ligas, entidades de todos os tipos e formas, que falam e refletem a divisão social e política da atualidade. Por isso, os cristãos deviam agir e influenciar o mundo, entrar nas estruturas existentes e dialogar com as pessoas dentro delas. A Conferência do Nordeste foi um esforço no sentido de levar a igreja a falar a linguagem das utopias e a encontrar-se com a sociedade brasileira. Foi um esforço para compreender e interpretar o movimento socialista, que se fazia manifesto nas mobilizações de operários, camponeses e setores médios da sociedade brasileira. Foi uma experiência protestante até então inédita em terras brasileiras. Contou com a participação de 167 delegados de dezessete Estados, que representaram dezesseis confissões. Experiência e diálogo, essas palavras traduziram o sentimento dos que se fizeram presentes, já que os acontecimentos que eletrizavam o setor industrial, rural e estudantil precisavam ser examinados à luz da fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, essa análise deveria traduzir encontro e diálogo com aqueles que se encontravam nas esferas onda a luta de cada dia se manifesta em toda a sua potencialidade. Logo de início, definiu como centralidade da igreja o desafio de proclamar a soberania de Cristo, esclarecendo que a tentativa de análise da situação presente não significa que cabe à igreja adotar um sistema político ou social. Mas deveria reconhecer o papel dos especialistas e necessidade deles para melhor compreender os fatos, por isso compartilhava sem medo com as forças que não reconhecem o senhorio de Cristo. E o fazia como igreja, sob o peso do ministério da encarnação, evento supremo e definitivo da história. Em obediência, sabia que os novos esforços tinham sentido e lugar na história do Brasil e no momento internacional que atravessavam.
Para a intelectualidade cristã presente, falar de sociedade brasileira significava falar do ser humano em seu convívio com homens e mulheres. E diante disso, a Igreja não pode desinteressar-se pelos seres humanos porque é a igreja daquele que, por amor, se tornou irmão de todos os homens e mulheres. Ou seja, a igreja é responsável e isso quer dizer que ela é chamada a responder e a corresponder em toda a sua atuação a esse fato central do evangelho: a encarnação de Deus. Deus se tornou ser humano e deste fato emana a responsabilidade da igreja pelo ser humano, pelo homem e mulher em todas as relações de sua existência. O argumento era de que a encarnação de Deus não pode ser olhada como argumento ideológico, mas como fato histórico, e é essa história da vida, morte e ressurreição de Jesus que deve ser tomado com critério de toda a atuação da igreja. É daí que nasce a responsabilidade social da igreja, como resposta em atos concretos à situação onde ela, igreja, está colocada. E por essa mesma razão a Igreja é impedida de gloriar-se perante o Senhor ou perante o mundo de sua atuação. É-lhe vedado, igualmente, menosprezar o que é feito neste terreno por outros. Também o estado tem o seu mandato de Deus, e é sua tarefa favorecer o bem e impedir o mal, estabelecer as normas da vida humana, por meio da lei e do poder. É ao estado que compete essa tarefa. Mas, por isso, a igreja não deixa de ser responsável. Os seus meios, contudo, são outros. Ela atua essencialmente por meio da palavra, a palavra pregada, a qual tem a promessa de não voltar vazia, mas de fazer e executar aquilo para o que foi enviada. Assim, a situação social da igreja só será legítima e não intromissão em terreno alheio se for a resposta daqueles que ouviram a palavra, resposta por meio da qual testemunham perante o mundo, em atos concretos e visíveis, o que lhes foi dado em Cristo. Cristo morreu não só pelos cristãos, mas por todos. Por isso, o outro nunca será apenas objeto de nossa caridade, ao qual por piedade damos um pouco do muito que nos foi confiado: o outro só nos pode ser humano, irmão, pelo qual Cristo deu a sua vida. Embora possa parecer, no alvorecer do século vinte e um, que a constatação é óbvia, ela traduz a leitura que a crise da modernidade não pode ser escondida embaixo do tapete. É um chamado a encarar a explosiva realidade que o mundo estava e está atravessando e dar à igreja um sentido histórico que transcende as paredes do templo e a compreensão da salvação como processo solitário e exclusivamente individual. Tal exposição inseriu na discussão uma brilhante análise de Karl Barth, quando apresenta as relações entre a igreja e o estado não como problema jurídico de relações institucionais, mas encontro dialético entre comunidades que se sobrepõem, que têm um mesmo centro de autoridade. Seguindo muito possivelmente as reflexões do Agostinho de “As Duas Cidades” e as Barth, quando apresenta seu pensamento social e faz um chamado à presença da comunidade cristã no exercício de sua co-responsabilidade política, os intelectuais protestantes agregaram que como tudo o que faz, a igreja deverá ser modesta, pois sabe que não lhe foi dada a promessa de serem os cristãos necessariamente os melhores especialistas, políticos ou economistas. E sabe que não se pode entregar a um cego ativismo que vive da ilusão de que com a força humana poderia transformar o mundo, poderia vencer o sofrimento, a aflição, os poderes do mal. E, no entanto, é chamada a agir e lutar. Mas essa luta só pode ser feita na certeza de que já foi conquistada a vitória sobre os poderes do mal e da injustiça. De Deus é a vitória e Ele não deixa o mundo que é seu, não deixa os seres humanos entregues a si mesmos. Deus está no mundo, dele é a vitória, é todo o poder. Mas, que sentido então pode ter ainda lutar aqui na terra contra a aflição, a injustiça, a opressão? A resposta só pode ser: justamente porque Deus está presente no mundo, tanto mais somos chamados a fazer a sua vontade, contida no mandamento amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Assim, o amor não pode limitar-se exclusivamente à esfera privada, pois o mandamento exige uma atuação responsável também no terreno político e social. Não cabe à igreja, porém, pregar a revolução, mas também não pode fugir aos desafios da realidade. Ao contrário, por seu posicionamento histórico deve posicionar-se e erguer os sinais da realidade de Deus. A igreja não tem uma solução pronta para os problemas da vida social. Mas ela tem, para todos os setores da vida humana, este mandamento, pelo qual é chamada a erguer sinais em meio deste mundo, que de tradições e de fundamentalismo só pode morrer, erguer sinais da realidade de Deus, de seu reino, de seu amor, confiando Cristo cumprirá a sua promessa de serem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a igreja protestante da Conferência do Nordeste procurou analisar três questões: qual o papel da igreja numa sociedade em crise? Como Cristo é a solução para os problemas brasileiros? Que tipo de ecumenismo a Conferência do Nordeste deveria traduzir?
Ao analisar a realidade brasileira, a conferência considerou que essas três questões deveriam ser levadas em conta para a compreensão daquilo que estudamos aqui, o processo de expansão do reino de Deus no Brasil. A primeira delas era o clamor generalizado contra a situação em que vivia grande parte da população. Tal situação preanunciava o kairós já que era clamor profético de uma população que despertava para a consciência de que a miséria não é uma situação inelutável, de que a pobreza não é um quinhão distribuído por Deus com endereço próprio a seus filhos. A segunda característica desse processo era a luta contra o subdesenvolvimento, já que, se recorremos a Tomás de Aquino, há um mínimo de condições exigidas para a prática da virtude. Assim, a existência de vidas em condições desumanas, injustas, inferiores leva as pessoas à prática de atos contrários aos padrões morais. E como terceira característica, o fato de que o país estava querendo definir sua identidade enquanto nação cristã, a fim de não permitir que viessem de fora dizer-nos como caminhar. Se isso fosse pecado as nações cristãs do mundo estariam em pecado e nenhuma delas teria a ousadia de moralmente atirar a primeira pedra. Kairós, nesse sentido, significava o momento em que os brasileiros sentiram na consciência sua responsabilidade de escrever a história com papel e tinta próprios. Essa necessidade de afirmar brasilidades reflete o desejo de definir origens. O discurso está preocupado com a identidade nacional, na qual estão inseridos os evangélicos não somente como pessoas, individualidades, mas como parte da realidade social que forma esta multiculturalidade. Dessa maneira, a preocupação com origens transborda numa declaração de fé que deve ser ouvida por todos: “Queremos ser brasileiros, conduzir os destinos da nossa pátria como melhor nos aprouver. Se errarmos não seremos os primeiros, no entanto, se acertarmos aí estará a recompensa pela vitória”.
Chama atenção na conferência a coragem de seus organizadores em terem entre seus palestrantes pensadores marxistas. Entre eles está Paul Singer, economista e cientista político que proferiu uma palestra marcante. Metodologicamente abordou em sua fala os marcos que considerava fundamentais para a ruptura do país com o subdesenvolvimento e o deslanchar de uma efetiva industrialização. Discorreu sobre o processo de industrialização desde o seu início na Inglaterra. Mostrou como a colonização de regiões do globo, como a da Índia, significou uma drenagem de riquezas e um processo de acumulação para a Europa Ocidental. Falou sobre a revolução russa, a expropriação dos meios de produção e a formação de um parque industrial estatal e considerou a revolução russa o fato significativo que separou a história contemporânea da história anterior. Por isso, disse ser necessário reconhecer que ela desempenha o papel divisor de águas, pois pela primeira vez instituiu um sistema novo na ordem mundial. “Objetivamente é o estudo da revolução russa, nos seus aspectos mais gerais, que poderá nos mostrar de que maneira é possível, corrigindo erros ou excessos, dando voltas ou não, superar alguns dos problemas que foram causados pela forma como se deu a industrialização através do sistema capitalista”.
Para Singer, o processo soviético foi acompanhado de aspectos condenáveis, pois durante este período a Rússia passou por um regime político que pode ser chamado de ditadura terrorista. As liberdades individuais foram restringidas: não somente a liberdade de pensamento, a liberdade de reunião, a liberdade política, mas a própria liberdade de pesquisa científica foi estrangulada. A liberdade de criação artística foi cerceada. E esta é uma contradição, pois se por um lado o país conseguiu superar obstáculos para seu desenvolvimento econômico, por outro aniquilou valores e conquistas da civilização. E assim, a Rússia soviética foi um paradigma nos dois sentidos para o mundo no século vinte, já que parte da humanidade aplicou suas experiências, inclusive seus mais graves erros. Ao destacar tais aspectos negativos da revolução russa, entre eles a restrição das liberdades individuais, analisou, como fazem os marxistas, tal questão desde um ponto de vista de classe. Argumentou que para a maioria das sociedades novas, e aí incluiu Cuba, é preciso restringir a liberdade da minoria, já que para a maioria tal liberdade está fora do alcance da consciência de suas necessidades. Disse que esse argumento não soluciona o problema, mas desmistifica a questão na sua colocação formal, pois para a construção dessas novas sociedades são necessárias duas novas instituições: o partido revolucionário e os conselhos de fábrica. O partido revolucionário é necessário enquanto instituição que organiza a revolução e que depois de tomar o poder se transforma num instrumento político que dá continuidade ao processo revolucionário. Tal partido seria como estrutura, transitório, mas na sua transitoriedade ele mostra o que será, no futuro, a participação das pessoas na vida política do país. Não uma participação passiva, de eleitor coagido a votar, obrigado, multado se não vota, mas um indivíduo que conscientemente decide tomar posição face aos problemas políticos e deseja participar de sua decisão a partir do início de sua discussão. Sobre os conselhos de fábrica, contou a experiência iugoslava e polonesa. Considerou que tais conselhos, por serem formados por trabalhadores, indicam caminhos que rompem a alienação do processo de produção.
Singer terminou sua palestra fazendo uma profissão de fé na revolução socialista, consciente, porém, de que as transformações sociais no mundo contemporâneo teriam soluções difíceis. Isto significa que, com todos os defeitos, são processos desejados pela maioria da população de todos os países e que têm que se dar na luta contra interesses criados e contra a falta de consciência dos que querem chegar até lá mas não sabem como. É um processo, portanto, de luta política. O que é preciso é entender que este processo de luta política em si tem perspectivas não somente de criar indústrias, de criar condições de satisfazer as necessidades materiais da população, mas que está se criando uma nova sociedade, e ela em si poderá levar à solução de muitos problemas ou à criação de novos, talvez mais graves do que os da sociedade pré-capitalista. Seja como for, há a possibilidade de começar a se solucionar o problema fundamental, que é o problema do ser humano se relacionar com a natureza através do processo de produção. E dessa forma, encontrar a si próprio no processo, dominando-o conscientemente, e não como objeto de um mercado que lhe é impessoal e estranho, ou como objeto de máquina que o emprega como seu apêndice.
Se Paul Singer olhou o processo revolucionário brasileiro a partir do marxismo, para Juarez Rubem Brandão Lopes a questão fundamental consistia em entender com se dão as resistências à mudança. Para ele, estas resistências se fazem presentes na própria dualidade da estrutura social brasileira. Partindo das análises de Celso Furtado e de Jacques Lambert, sociólogo e trotskista francês, considerou que existiam duas sociedades que formam este país chamado Brasil. Uma arcaica e tradicional e uma nova, em transformação. Assim, o Brasil não enfrentaria um problema de subdesenvolvimento, mas outro, mais complexo, de desenvolvimento parcial. A partir de Franklin de Oliveira fez um balanço dos desníveis entre esses dois brasis e partindo das análises sobre teorias econômicas e regiões subdesenvolvidas, do sueco Gunnar Myrdal, considerou que o subdesenvolvimento é causa do próprio subdesenvolvimento, porque é cumulativo num processo inverso, empurra para trás. Assim, para Brandão Lopes, a resistência à mudança no Brasil localiza-se na natureza patrimonialista do Brasil arcaico, já que essa estrutura social se opõe aos efeitos dos focos de desenvolvimento. Para ele, essas zonas rurais tradicionais, partes do Nordeste e outras regiões, só poderiam ser mudadas através mutação súbita, de uma reforma agrária radical. Para as zonas rurais já penetradas pelo capitalismo a solução seria a sindicalização dos trabalhadores rurais. E a partir da defesa do sindicalismo rural, que arranca da solidariedade comunitária em direção à solidariedade de classe, Brandão Lopes chega ao sindicalismo que no início dos anos 1960 surgia na periferia industrial de São Paulo. Para ele, o Brasil novo apresentava a mesma possibilidade de desenvolvimento sindical que se via em São Paulo. Se por um lado, havia uma legislação trabalhista e uma estrutura sindical em parte sob controle do Governo, também se via o início da desintegração do controle governamental sobre essa estrutura sindical. Algumas greves em São Paulo ficaram fora do controle do governo e esta deveria ser a tendência crescente nos próximos anos, porque dois tipos de fatores levavam a uma perda do controle do governo sobre os sindicatos. O primeiro era o desenvolvimento da solidariedade operária. Grande número de trabalhadores vinha do Brasil arcaico e a princípio não se identifica com as condições de operário e, por isso, orientava-se, psicologicamente, para fora da estrutura industrial. Mas, com sua instalação no processo produtivo surgia uma solidariedade que não era comunitária ou tradicional, mas de classe. Os operários que viviam este processo ainda eram poucos, se comparados ao conjunto da massa trabalhadora brasileira, mesmo nas grandes capitais como São Paulo. Mas essa tendência construiria no futuro próximo a nova classe trabalhadora fabril dos grandes centros urbanos. Outro fator responsável pelo enfraquecimento do governo sobre os sindicatos era o fato de grupos políticos organizados estarem atuando nos sindicatos. Partidos políticos, principalmente os grupos trotskistas, procuravam estabelecer relações com sindicalistas. Ora, na medida em que se multiplicam, esses grupos que disputariam o controle sindical, gerando novas condições para liberdade de ação do sindicato. Nesse sentido, uma das principais possibilidades para vencer as resistências à mudança social e econômica seria o desenvolvimento que poderia ocorrer no sindicalismo brasileiro. Essa visão de construção de um sindicalismo classista, que traduzia uma proposta nova, não era muito bem vista por parte da esquerda brasileira.
“Antes de 64, em uma certa época, participamos muito da luta dos camponeses do Nordeste, principalmente no Pernambuco e Paraíba. A luta no Nordeste surge quando a burguesia tenta implantar o capitalismo no campo. Surge quando os latifundiários tentam expandir a plantação de cana. Expulsam os trabalhadores do campo porque eles tinham uma pequena roça, em volta de suas casas, para sua subsistência. Os camponeses são obrigados a plantar cana ou são expulsos. A conseqüência disso é o surgimento da primeira Liga Camponesa, que não foi feita por Francisco Julião. As massas a inventaram. Em Vitória de Santo Antão os camponeses se reuniram e formaram uma cooperativa, daí surgiu a Liga Camponesa. Um latifundiário quis fechar a liga. Os camponeses resistiram e chamaram Julião, que era deputado pelo Partido Socialista, para defender a causa. Julião foi defender e viu que a causa não era somente jurídica, era política. Propôs a defesa jurídica e a formação de ligas em outros engenhos. Os camponeses difundiram as ligas, Julião as encabeçou e as organizou nacionalmente. De Vitória de Santo Antão, as ligas chegaram até o Rio Grande do Sul. Com as mobilizações, as ligas foram crescendo até chegar a ter mais força que os sindicatos, sem nenhum controle do governo. João Goulart decreta a formação de sindicatos camponeses, os quais tentaria controlar através de pelegos. Tarde demais. Somente um golpe poderia parar a rebelião camponesa. A organização das lutas foi crescendo sob a influência de outras revoluções, principalmente a cubana. Os camponeses exigiam seus direitos trabalhistas e a utopia agrária. A palavra de ordem ‘utopia agrária na lei ou na marra’ percorreu todo o Nordeste, talvez todo o Brasil”
Mas para Brandão Lopes buscava localizar pontos de atuação estratégica e brechas na estrutura arcaica que possibilitassem ações que acelerassem as transformações sociais. Nos anos seguintes, comunistas e trotskistas centralizariam suas ações políticas a partir daí. Os primeiros procurando ocupar a direção dos sindicatos e os segundos criando oposições sindicais que se oponham ao peleguismo reinante. No ABC paulista e em São Paulo, a luta entre pelegos e comunistas versus trotskistas politizará o movimento sindical possibilitando com o passar dos anos a formação de uma liderança sindical antipelega.
É bom lembrar que no início dos anos 60, o nordeste era visto como reserva histórica e social da revolução brasileira. Uma das palestras enfoca o nordeste através de um de seus principais tradutores, Celso Furtado. Se para Francisco Julião, um dos líderes das ligas camponesas, a etapa da luta revolucionária no Brasil era socialista, porque a burguesia nacional era vacilante e tendia a compromissos com o imperialismo, para Celso Furtado, o grande desafio era promover a industrialização dessa região do país. Se para Julião, as ligas camponesas eram organismos diretores da revolução, organizando cerca de quarenta mil trabalhadores rurais só Pernambuco, em meados de 1962, para Celso Furtado a transformação viria através da capitalização do campo, do direcionamento de investimentos e da construção de sindicatos. E para explicar isso, fez uma sociologia da seca, onde afirmou que o que ocorria com a seca era que a renda global da região estava formada pela pecuária, pelo algodão e pelos gêneros alimentícios, e que a redução da renda global se concentrava nos gêneros alimentícios. Esse colapso de renda recaía sobre o pequeno produtor. A economia estava organizada de forma que o mais fraco tem de levar o maior golpe; numa economia capitalista mais avançada quando vem a crise, e se fecha a fábrica, perdem todos. O dono da fábrica vai à falência e o operário fica na rua gritando. Mas no nordeste não: quando vem a seca, os donos do algodão chamam o morador e dizem para ele que não choveu e ele precisa dar um jeito na vida. Fazem as contas, pagam a parte dele na produção este algodão, e mandam ele embora, esperando que o governo abra alguma frente de trabalho para que o trabalhador possa sobreviver. Ou seja, o morador/trabalhador vendia o algodão dele na folha, pegava aquela quantia, colocava no bolso e se deslocava sem rumo nem prumo. Celso Furtado fez questão de se colocar no campo da revolução. Caracterizou a situação do país como pré-revolucionária, mas não desejava a revolução socialista como propunha Julião, pois acreditava que o governo de João Goulart através da Sudene poderia fazer muito pelo nordeste. E propõe uma reforma do sistema econômico-social nordestino que tenderia na sua dinâmica de crescimento a criar problemas crescentes. Observou que em 1958/59, os dois anos anteriores à Sudene, a média de investimentos privados no nordeste sobre o total do Brasil era de 1,2%, apesar da população do nordeste ser na época de 30% da população brasileira. Nos dois primeiros anos da Sudene, 1960/61, os investimentos privados subiram de 1,2% para 5,4%. Isso significava que os investimentos privados no nordeste do setor industrial cresceram com velocidade três vezes maior do que no sul do Brasil. Ora, o sul do Brasil estava em disparada, portanto houve um autêntico boom industrial no Nordeste. E o economista terminou sua palestra fazendo um alerta: reafirmou a existência de uma situação pré-revolucionária, e disse que o governo estava empenhado em resolver o problema humano no nordeste, mas “ou fazemos as mudanças em tempo útil, ou elas virão por cima de nossas cabeças”.
Diante de tal situação, qual a responsabilidade da igreja? Seria possível uma resposta coerente que apresentasse um norte para o problema brasileiro? O bispo Edmundo Knox Sherrill tentou uma resposta. Para ele, a situação brasileira se inseria num contexto mundial, que considerava fruto das transformações sociais e dos imperativos morais e religiosos decorrentes da ampla utilização da ciência nos meios de produção. Para Knox Sherrill, a técnica é boa, pois modifica as condições de vida das populações em todos os continentes, mas, paradoxalmente, virou o mundo de ponta cabeça, por isso há um processo revolucionário em marcha, já que não é mais possível tolerar a pobreza, a doença, o analfabetismo, por isso, é imperativo que os protestantes se associassem ao processo histórico. Para ele, o cristão não pode divorciar-se da luta pela justiça. E essa luta traduz ao nível do real, atributos do próprio Deus, já que ele criou o ser humano como administrador e não dono do mundo. Esse Deus redentor lança sobre nós o desafio do mundo, já que é impossível adotar a criança da manjedoura e esquecer a mortalidade infantil, colocar-se sob a cruz e olvidar os injustiçados e abandonados. Knox Sherrill faz, então, um chamado à universalidade sacramental, pois vivemos num universo sacramental, em que coisas materiais são portadoras do soberano Espírito. O ser humano que Deus fez do pó da terra é imagem do seu Criador, pois esta é uma união do espírito e da carne, criado para ter consciência de sua origem divina, para ouvir, compreender e obedecer à palavra de Deus e para participar de um destino eterno. Todo o significado da vida humana se relaciona com esta obra divina, universal no seu alcance e sacramental na sua forma. A função principal da igreja é sacerdotal, é ser o elo, a ponte entre o mundo e Deus, o lugar de encontro onde os seres humanos procuram o Criador e onde o Espírito Santo faz-se presente nos seres humanos. É interessante ver que sua proposta traduz uma realidade que estava sendo vivida por fiéis que atuavam nas organizações de classe e sindicatos. Essa realidade era vivida também pelos católicos.
“A minha tarefa básica é a reconciliação, que deve prescindir de religião, e levar as pessoas a uma maior autenticidade. É uma ação sem manchetes, sem fachadas. Não pretendo trabalhar nas cúpulas: acredito nas coisas de base. Nunca fui escolhido pelo bispo, nem acho isso importante. Fui escolhido pelos estudantes com quem convivo diariamente. Mantenho entre a juventude um contato permanente, a qual possui crenças e religiões diversificadas: protestantes, judeus, espíritas e ateus. A missa que celebro é ecumênica, mesmo os não-cristãos sentem-se à vontade para comungar também. Os setores de esquerda apenas se opõem aos cristãos que não têm uma fé comprometida com a vida”.
Também entre os operários urbanos havia participação protestante, pelas finalidades amplas do movimento: “Nas fábricas procura-se a promoção dos trabalhadores e aí não se distingue religião. A atuação é diferente, sobre todos, para que assumam suas tarefas. Há protestantes colaborando nas reivindicações e também no esforço de refletir no plano humano a partir da fé. Existem protestantes em nossas equipes de Ação Católica”. A Conferência do Nordeste traduziu assim a busca de um sentido de missão que perspassava o conjunto da jovem intelectualidade brasileira e da juventude cristã em particular. A juventude cristã vinha participando ativamente do processo de democratização e desenvolvimento do país, antes do golpe militar de 1964. Nesse tempo, membros dessa juventude ocupavam postos-chave nas universidades, na direção de setores operários, profissionais e estudantis, e mesmo no governo do presidente João Goulart. Esse sentido de missão trazia a discussão ideológica para dentro das igrejas e comunidades cristãs, mas nesse momento e essa é uma tradução correta da Conferência do Nordeste, mais do que dividir, unia e dava uma coesão às aspirações de apresentar ao povo brasileiro um cristianismo vivo e participante. Enquanto projeto nascia de baixo para cima, surgia como anseio: a expansão do reino de Deus, unindo corações e mentes.
No Recife, houve uma clara e explícita vinculação político-ideológica dos entrevistados com o projeto de mudança social. As palestras e documentos apresentados na Conferência do Nordeste foram indícios nítidos de um compromisso com a história. E a divisão entre projetos de intervenção na realidade não se fizeram porque alguns atuavam nas cúpulas e outros nas bases, ou porque alguns se dirigiam a uma elite eclesiástica e outros buscavam atingir o povo. De fato, todos procuravam atingir o povo do nordeste, e a divisão se processou em termos de que projeto se pretendia propor: de um lado, projetos questionavam o status quo, e de outro, projetos se apoiavam no status quo.
Se a igreja colocava-se na brecha social e considerava fundamental participar do processo revolucionário, sobre que bases a Conferência do Nordeste procurou apresentar uma teologia do reino de Deus? Sem dúvida, a vida - e por extensão a justiça - é o primeiro passo para a construção de uma teologia do reino de Deus. Segundo o reverendo Almir dos Santos que expôs o texto de Lucas 4.16-21, esta é uma constatação presente no programa ministerial de Jesus, já que o texto destaca os quatro pontos programáticos: anunciar uma nova ordem aos pobres; proclamar a libertação aos deserdados; restaurar a vida dos que são ceifados pelas enfermidades; e apregoar o ano aceitável do Senhor. O quadro de miséria, de enfermidades, da falta de recursos que ceifam vidas é verdade diante dos olhos. E Jesus disse que veio para trazer libertação aos cegos, enfermidade que ele tomou como símbolo para este fenômeno das enfermidades que ceifam. Jesus também veio para por em liberdade os oprimidos. Os três primeiros itens do programa de Jesus se referem aos aspectos da vida material, econômica e social. Ora, se os três primeiros itens do programa se referem aos aspectos materiais da vida humana, sobre o que trata o quarto item? Ao compromisso, a opção por estar na trincheira ao lado daqueles que lutam por dignidade. E coitados daqueles que por omissão ou interesses fugirem a este posicionamento exigido pelo próprio Cristo.
Assim, diante do Brasil, para Almir dos Santos havia um dilema que devia ser anunciado, o de escolher entre o ano aceitável do Senhor ou o dia da vingança de Deus. O dia em que a sua justiça há de ser estabelecida sobre as injustiças humanas. E citou o presidente Kennedy, quando afirmou que “aqueles que se rebelam contra a revolução pacífica da justiça serão responsáveis amanhã pela revolução injusta que pode vir”. E aqui, à maneira protestante, foram lançadas as sementes para uma teologia do reino de Deus. A esta exposição de Almir dos Santos, duas outras análises caminharam na mesma direção, a do reverendo Joaquim Beato e a do reverendo João Dias de Araújo.
Beato tirou dez conclusões do estudo sobre o profetismo bíblico que apresentou à conferência. A religião para os profetas era interpretação da condição humana à luz do propósito de Deus; eram porta-vozes de Deus para condições específicas; eram homens de ação; eram homens de seu povo e de seu tempo; exerciam uma ação política à luz do seu entendimento do destino de seu povo; o propósito básico de suas pregações era o pacto; consideravam justiça e juízo, amor e integridade mais importantes que a estrutura política, a religião organizada e a organização e instituições econômicas da nação; seus compromissos eram com Deus; seu Deus entrava na luta pela justiça social, era aliado dos injustiçados. Se estivessem no Brasil, os profetas aceitariam o desafio que a igreja deve enfrentar nestes dias. Foi uma exortação à vanguarda protestante, o desafio de levantar a voz profética em meio ao povo, em deseja dos excluídos.
E o reverendo João Dias de Araújo analisou o conteúdo revolucionário do ensino de Jesus sobre o reino de Deus. Depois de discorrer sobre o reino de Deus, que tem por princípio fundante o ser humano, destacou sete aspectos centrais desse reino: é humanista, já que o alvo do reino é colocar o ser humano e a sociedade sob a soberania de Deus; tem ação evangelizadora, já que sua missão é proclamar ao mundo a soberania e o governo de Deus sobre a realidade; evangelizar é humanizar, pois a obra de Cristo foi levantar o ser humano, restaurá-lo em todos os sentidos e em todas as suas implicações existenciais; é social, pois na Bíblia não existe ser humano solitário, mas solidário; Deus é pai, não é chefe tirano, arbitrário, nem déspota sanguinário; tem espírito familiar, comunitário, pois o reino de Deus é de fato uma família; é o reino de justiça.
Cristianismo e utopia social fazem parte de um mesmo kairós, já que o kairós do reino de Deus foi inaugurado há dois mil anos com a presença de Jesus, mas continua alvoroçando o mundo. Os cristãos estão desafiados, por isso, a dar oportunidades para o desencadear desse kairós vitorioso. Os filhos do reino de Deus são parte do clamor dos tempos atuais, devem estar na vanguarda dos movimentos de transformação do mundo. O clima revolucionário do século vinte foi traduzido através da presença marxista, das revoluções proletárias, da luta contra o racismo, da emancipação feminina... Mas esse vulcão social é parte da expansão do reino de Deus. Assim, teologicamente a Conferência do Nordeste apresentou ao país uma teologia do reino de Deus, mas não tomou como pedra de esquina o marxismo. Ao contrário, garimpou os elementos basilares de uma metodologia na leitura da Bíblia, mas em franco diálogo com todos os setores da sociedade, inclusive marxistas. A Conferência do Nordeste deixou claro para seus participantes que Cristo está no processo de expansão do reino de Deus em terras brasileiras, e que junto a ele devem estar os seus seguidores.
Por tudo isso, a conclusão coube a Moreira, que sintetizou o pensamento da conferência com a leitura de Mateus 7.12: “Aquilo que quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes vós a elas”. E mostrou que vivemos numa terra imensamente rica, mas somos pobres. Possuímos tudo e não temos quase nada. Não é, porém, para desesperar, embora não baste atacar o mal pelos efeitos, é preciso ir à causa, atacá-lo na sua origem. É preciso reconhecer-se que há uma crise moral gerando tudo isso que aí está. Há um charco podre, impregnando, o ambiente de miasmas de morte. Ora, uma sociedade cristã é o resultado da interferência de Cristo na sua constituição e por isso pode enfrentar o futuro com confiança. Os cristãos devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a partir daí podem estar certos de que o Cristo cumprirá com fidelidade as suas promessas, quer para o tempo presente, quer para o futuro escatológico.
Dessa maneira, o Encontro do Nordeste caminhou em direção ao diálogo na procura de orientação para uma presença efetiva na fronteira cultural, econômica e política brasileira. Teologicamente, fez a proclamação da soberania de Jesus Cristo, depositando sobre os ombros da igreja a tarefa de aceitar o desafio do momento, a fim de demonstrar a evidência da ação de Deus no mundo. Mas, alertou à igreja para o perigo de, em meio às rápidas transformações sociais, ficar atrás em seu pensamento social e pregar um evangelho que não seja compreensível e adequado às necessidades da sociedade em mudança. Ou como disse Kleemann no encerramento do encontro:
“Aprendemos muita coisa. Aprendemos que o velho mundo com todas as suas estruturas tradicionais está passando e passando rápido diante de nossos olhos. Aprendemos que embora o mundo passe, a igreja permanece e tem permanecido porque as portas do inferno não prevalecem e nem prevalecerão contra ela. Aprendemos ainda que embora a igreja seja veículo de uma mesma verdade, e que esta verdade é eterna, a igreja é aquele veículo transitório na história e deve reinterpretar o evangelho e a verdade que nos foi revelada em Jesus de acordo com a necessidade de cada época. Há poucos anos, durante a escravatura, a igreja que não reinterpretou o amor de Deus pela libertação dos escravos, não reinterpretou o amor revelado de Jesus. E hoje este mesmo amor talvez tenha uma outra dimensão. Não temos mais escravatura, mas temos outra forma, outras possibilidades de expressá-la, e a igreja, que é este elemento transitório na história precisa reinterpretar esta verdade eterna, não de acordo com o século passado, mas com os dias de hoje. Estamos gratos a Deus porque daqui por diante temos que adotar novos caminhos, novas perspectivas, novas idéias para arrancadas missionárias de sentido mais profundo, talvez mais horizontal do que vertical, para que possamos assim nos identificar com os problemas de nossa terra. E embora esta orientação deva ser nova, a nossa inspiração é tão velha quanto a Bíblia, e é lá na Bíblia que nós encontramos as bases de nossa renovação espiritual”.
Mais de quarenta anos depois do “Encontro do Nordeste, Cristo e o processo revolucionário brasileiro” é possível dizer que também aprendemos muito e que temos uma dívida para com aqueles irmãos-companheiros que ousaram falar de assuntos até hoje polêmicos. É uma dívida da igreja protestante brasileira, já que parte dos problemas sociais, econômicos e políticos analisados não foi resolvido, o que nos coloca de novo diante do mesmo desafio que aqueles cristãos se colocaram: como respondemos a esta situação que corrói nossas entranhas e desafia eticamente nosso cristianismo? Mas as perguntas que nos fizemos no início foram respondidas. O papel da igreja numa sociedade em crise é seguir os passos de Jesus Cristo, revolucionário por excelência, amante apaixonado dos deserdados da terra. Cristo é a solução para os problemas brasileiros porque sob sua soberania está nossa ação política, a favor do ser humano, na expansão permanente do reino de Deus. E neste querer-fazer, o fazemos todos, juntos a partir de nosso atuar transformador. Exatamente por isso a Conferência do Nordeste nos dá paradigmas para o ser cristão hoje, num país tão massacrado pela injustiça e pela desigualdade.
Sem dúvida o locus privilegiado do diálogo entre a teologia e as brasilidades é a sala de aula. E se a função do ensino teológico é desenvolver a capacidade crítica, formar habilidades e desenvolver atitudes, deve também romper com o privatismo da tradição evangélica brasileira. O futuro formador de opinião viverá num mundo real e deve querer transformá-lo.
”Farei algumas citações do matemático, filósofo e professor, Alfred North Whitehead, extraídos de sua obra The aims of education - ‘Os objetivos da educação’: ‘(...) a compreensão que desejamos é a compreensão do presente insistente. A única utilidade do conhecimento do passado é a de equipar-nos para o presente. Nenhum mal é mais mortal às mentes jovens do que a depreciação do presente. Qualquer mudança fundamental na visão intelectual da sociedade humana deve ser necessariamente acompanhada de uma revolução educacional. Não é possível a existência de um eficaz sistema educacional no vácuo, vale dizer, de um sistema divorciado do contato imediato com a atmosfera intelectual existente. A educação moral é impossível sem uma visão constante de grandeza. Se não somos grandes, pouco importa o que fazemos ou debatemos e o sentido da grandeza é uma intuição imediata e não a conclusão de uma argumentação lógica’. Nós precisamos criar um Brasil - e não ensiná-lo”.
A faculdade de teologia que funciona enquanto realidade isolada não entendeu uma das exigências da alta modernidade: o ensino que não se integra na vida real, em sentido horizontal e também vertical, não é motivador, abandonou o fator experiência. Por isso, o estudo da realidade brasileira, assim como a riqueza do multiculturalismo das brasilidades precisam chegar às salas de aula. Da mesma maneira, não podemos esquecer a mediação da emoção na produção dessa correlação entre teologia e brasilidades.
O estudo da realidade brasileira em correlação com a teologia é essencial porque não se pode pensar hoje um formador de opinião cristã que não seja solicitado a refletir o momento político e social que o País vive. Isso significa que todos deveriam ter uma concepção da história de nossa formação enquanto povo e dos desafios a que somos chamados a responder. Tal concepção das brasilidades deve reforçar ou modificar maneiras de agir e pensar o tempo brasileiro. A história da formação e do sentido dos brasis permite reflexões para a superação da consciência ingênua e o desenvolvimento de uma consciência crítica, pela qual a experiência vivida é transformada em consciência compreendida da realidade brasileira.
Na sala de aula, fracasso e sucesso estão carregados de conteúdos emocionais. A discussão de questões da multiculturalidade brasileira (brasilíndios, afrobrasileiros e neobrasileiros) revela que o aluno embaraça-se em entender os sentidos mais profundos, por desconhecer os pontos de partida: desafiando-os em descobri-los se as aulas forem emotivamente dirigidas nesse sentido. É necessário, porém, equilibrar sempre fácil e difícil, levando em conta que os mais inseguros são estimulados pelo sucesso e os mais seguros com a possibilidade do fracasso. A segurança depende do conhecimento de possibilidades e realizações, não do conhecimento das relações entre ser e consciência, classe e poder, classe e raça. Para manter o aluno motivado, para explorar ao máximo suas possibilidades criadoras, o professor deve visualizar uma espécie de conta corrente onde o ativo são os resultados dos esforços do aluno ao competir consigo mesmo e o passivo sua preparação em direção à autodeterminação.
Por isso, propomos uma abordagem temática dos assuntos, sem descuidar da referência necessária à história da formação e sentido do Brasil, que permita estabelecer o fio condutor da exposição dos temas. Isto porque fazer um estudo da história e formação dos povos brasileiros implica em fazer antropologia dos povos brasileiros e sociologia da cultura. Tais abordagens não podem ser encaradas como atividades solitárias, mas enquanto diálogo entre pensadores que expõem diferentes visões.
Diferentes visões, mesmo em diálogo, refletem a competição da vida real. E, embora, competir faça parte da vida, nem sempre há justiça na premiação. Por isso, uma das intenções do diálogo entre teologia e brasilidades deve ser a preparação dos futuros formadores de opinião para a competição da vida, que é inevitável. Eles vão competir consigo mesmos, vão competir enquanto indivíduos no grupo e vão competir com outros grupos. Como eles têm um ministério cristão é importante ter claro que vão concorrer com outros grupos do ponto de vista teológico, mas não apenas, também vão fazê-lo ao nível social, cultural e político. É quase impossível prever como vão participar dessa concorrência e até onde vão conseguir realizar seus interesses particulares, e como tal competição se transformará numa mola propulsora de desenvolvimentos posteriores. Prêmio e castigo sempre fizeram parte da educação judaico-cristã. Nos últimos anos, andaram em desuso, mas a realidade mostra-nos que os prêmios satisfazem à tendência de auto-afirmação e de obtenção de prestígio, ao passo que os castigos contrariam essas necessidades. Assim, quando um estudante erra e não recebe a crítica esperada estamos enevoando seu sistema de valores. Estamos confundindo e não educando. Por isso, principalmente numa faculdade de teologia é melhor criticar ou elogiar do que se ausentar de qualquer manifestação diante dos trabalhos realizados. É bom lembrar que a crítica reforça o desprazer de um mau resultado e o prêmio faz a transição da ansiedade à liberação.
”Do respeito às delimitações advém a verdadeira coragem ante a vida. Inclusive advém a elaboração daquilo que talvez nos seja mais difícil: os limites da própria vida individual, a morte. Os poucos indivíduos que conseguem realizar esta elaboração atingem uma admirável e generosa coragem de viver, a possibilidade de plenamente exercer a vida. Advém-lhes daí a sua dignidade. Os limites não são áreas proibitivas, são áreas indicativas. São meios e modos de identificar um fenômeno. Ao encontrar os limites, podemos configurar o fenômeno e, mais importante, ao esclarecer os limites, qualificamos o fenômeno”.
O aproveitamento da experiência prévia do aluno é um fator espetacular de motivação, o qual deve ser reinterpretado, retificado e ratificado. Sua experiência de vida religiosa, social, cultural e política, soluções encontradas para problemas reais vividos na família, na igreja e na comunidade em geral não somente favorecem a integração do aluno no grupo, mas também produzem um sentido de correlação entre o meio social e a faculdade. É necessário aproveitar a tendência gregária dos alunos no planejamento e discussão da realidade brasileira, na sua execução e controle, completando-se com o trabalho socializado. Os grupos estruturam-se visando atender a soluções intelectuais e afetivas; e as atividades extra-classe têm um importante papel didático, desde que levem em conta aquelas motivações. As diferenças individuais devem ser levadas em conta e compensadas através de dois recursos: as entrevistas e a graduação de tarefas. Na primeira, os estímulos tornam-se diretos, mas o sucesso depende em muito da simpatia e da habilidade psicopedagógica do professor. Na graduação de tarefas, oferecemos uma oportunidade de autodeterminação, um incentivo a aprendizagem afetiva.
A crítica, enquanto construção aluno-professor, é imprescindível à segurança afetiva. A solidariedade é a grande motivação, pois ela permite ao professor encontrar recursos necessários para educar os futuros formadores de opinião em hábitos, atitudes e ideais, como também orientá-los no caminho da verdade e da justiça.
Devemos entender, enquanto homens e mulheres envolvidos com a educação teológica, que a função da teologia é formular uma pergunta concernente à verdade, significando com isso que a tarefa do teólogo é inquirir se a igreja está compreendendo e comunicando corretamente o evangelho. É possível crer na Bíblia e deixar de descobrir as verdades nela contidas. Uma entrega ao autor das Escrituras, que produza transformação de vida, assim como submissão ao Espírito Santo são condições quanto aos desafios que devem ser ouvidos e vividos. Devemos, no entanto, precaver-nos do perigo de obscurecer o reconhecimento da vontade de Deus em sua palavra revelada. A justiça social apresenta exatamente este desafio. A preocupação com a justiça e a responsabilidade social diante da multiculturalidade brasileira são fundamentais para a práxis teológica. Por isso, toda crítica à falsa consciência e à alienação no âmbito da prática teológica deve ter como base a verdade e a justiça, enquanto pergunta pela compreensão e proclamação do evangelho por parte da igreja. Mas se a tarefa é formar e transformar através da verdade e da justiça, a pedagogia é o amor.
Considerações finais
A antropologia mostra-nos uma multiculturalidade brasileira simples e pobre, em busca da felicidade e da transcendência, à qual possibilita à teologia uma compreensão dos elementos da revelação e da imagem de Deus aí embutidos.
“O ser humano é criado com um destino. Utilizamos o termo destino para incluir conotações de vocação ou chamamento, bem como para apontar para um caráter intrínseco que constitui uma dimensão da natureza criada do ser humano. Conseqüentemente, destino tem as nuanças de dom, determinismo, propósito e alvo. A primeira tarefa da concepção distintamente cristã do ser humano é tornar claro que o homo sapiens tem um destino, e que se trata de um destino elevado. Não é necessário endossar os pressupostos filosóficos de Nicolas Berdiaiev para ratificar sua afirmação do seguinte ponto essencial: ‘A antropologia cristã deveria desenvolver a concepção do homem como criador que carrega a imagem e semelhança do Criador do mundo (...) O homem brotou de Deus e do pó’ [Nicholas Berdyaev, The Destiny of Man, London, Geoffrey Bles, 1984, pp. 49, 54]. A antropologia cristã não se isola de qualquer outra fonte de conhecimento sobre o ser humano -- das ciências, da experiência de todas as espécies, literatura ou arte. O que a concepção cristã tem a dizer sobre o ser humano está no contexto do conhecimento recolhido destas outras fontes”.
Não devemos temer essas brasilidades, mas conscientemente, reconstruir raízes e memória. Esse caminho nos ajudará a dar novos fundamentos a velhos sonhos; mostrando-nos que a mensagem de boas novas é a resposta imediata e concreta para o sonho que se esvanece na quarta-feira de cinzas.
Num primeiro momento, abertura à transcendência é humilhação, dor e cruz, motor da liberdade cristã, quando esta se revela enquanto supressão do brasileiro imediato. É a exigência de romper com o mundo, com o existente aceito. Essa ruptura, no entanto, exige persistência na determinação e no sofrimento ao nível do fenomênico, sem a qual as brasilidades não poderão ser livres dentro da ordem existente. Mas, abertura à transcendência não se resume a esse primeiro momento. Na verdade, é diametralmente oposto a ele, traduz outra realidade, outra natureza. A unidade transcendência, humilhação, cruz é superficial, enquanto realidade imediata. A emergência da transcendência passa pela morte do mundo, porque a realidade entrou em caducidade. Humilhação, sofrimento e cruz refletem esta impossibilidade de vida e de eternidade. A transcendência é regeneradora porque acontece no mais fundo da própria raiz humana. É no momento da morte de seu consciente, que o mais profundo da intencionalidade humana se revela.
Como já dissemos, a interioridade cristã não é consciência cartesiana. É um tempo de negação de todo objeto possível, tempo de vazio interno que possibilita a abertura ao sagrado. É nesse momento que a transcendência aparece como disponibilidade transparente da consciência. Dessa maneira, a transcendência das brasilidades não pode realizar-se a não ser como articulação viva da subjetividade e como sua obra. A morte das brasilidades imediatas é o ato que faz possível ressurgir as verdadeiras brasilidades, a partir daquilo que lhes é inalienável e próprio. Fazendo uma releitura de Lutero podemos dizer que o cristão é servo em tudo e está submetido a todo mundo, então o cristão é senhor de todas as coisas e não está submetido a ninguém. No contexto leiam-se brasileiros e assim estaremos objetivando nossa meta enquanto mestres e teólogos da igreja cristã.
BIBLIOGRAFIA
ABREU, M. C. e Masetto, M. T., O Professor Universitário em Aula, São Paulo, MG Editores Associados, 1979.
ALENCAR, Eunice Soriano de, Psicologia da Criatividade, PA, Artes Médicas, 1986.
ALVES, Rubem, O poeta, o guerreiro e o profeta, Petrópolis, Vozes, 1992.
ARRIGHI, Giovanni, O longo século XX, SP, UNESP, 1996.
ARTAUD, Antonin, Textos 1923-1946, Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1972.
BARTH, Karl, The Word of God, the Word of man, NY, Harper & Brothers, 1957.
BARTHES, Roland, Elementos de semiologia, SP, Cultrix.
BETTENSON, H. Documentos da Igreja Cristã. SP, ASTE, 1967.
BOFF, Teologia do cativeiro e da libertação, Petrópolis, Vozes, 1980.
BONHOEFFER, Dietrich, Resistência e Submissão, RJ, Paz e Terra / Sinodal, 1980.
BOURDIEU, Pierre, A economia das trocas simbólicas, SP, Perspectiva, 1974.
BRIGHT, J., História de Israel, SP, Paulus, 1980.
BURNS, Bárbara e outros, Costumes e Cultura, Uma introdução à antropologia missionária, SP, EV, 1996.
CACASO, Mar de mineiro, RJ, Edição de Autor, 1982.
CÂNDIDO, Antônio, Literatura e Sociedade, SP, Companhia Editora Nacional, 1985.
CASTRO, Cláudio de Moura, A Prática da Pesquisa, São Paulo, McGraw-Hill, 1977.
CLASTRES, Pierre, Arqueologia da Violência, Ensaios de Antropologia Política, SP, Brasiliense, 1982.
CROSSAN, John Dominic, O Jesus histórico, RJ, Imago, 1994.
CRÜSEMANN, Frank, Preservação da liberdade, o decálogo numa perspectiva histórico-social, SL, Sinodal, 1995.
Damatta, Roberto, O que faz o brasil, Brasil?, RJ, Rocco, 1993
______________, Relativizando, RJ, Rocco, 1987
DIMENSTEIN, Gilberto, O Cidadão de Papel, SP, Ática, 1994.
DRAÏ, Raphaël, La Pensée Juive et L’Interrogation Divine, Exégèse et Épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1996.
DUSSEL, Enrique, Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão, Petrópolis, Vozes, 2000.
______________, Caminhos de Libertação Latino-Americana, vols. 1-4, SP, Paulinas, 1984.
EBELING, Gerhard, O pensamento de Lutero, SL, Sinodal, 1988.
EICHRODT, Walter, O Homem no Antigo Testamento, SP, FTIMB, 1965.
ENZENSBERGER, Hans Magnus, Elementos Para Uma Teoria dos Meios de Comunicação, RJ, Tempo Brasileiro, 1978.
GEFFRÉ, Claude, Como fazer teologia hoje, hermenêutica teológica, SP, Paulinas, 1989.
GOLEMAN, Daniel, Inteligência Emocional, Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 1995.
GORENDER, Jacob, O escravismo colonial, SP, Ática, 1978.
GRENZ, Stanley J, Pós-modernismo, um guia para entender a filosofia de nosso tempo, SP, EVN, 1997.
GUATTARI, Felix, Revolução Molecular, pulsações políticas do desejo, SP, Brasiliense, 1981.
GUINSBURG, J., Do Estudo e da Oração, SP, Perspectiva, 1968.
HARBIN, L. Byron, Teologia do Antigo Testamento (apostila), SP, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, 1997.
HARRISON, Roland K., The International Standard Bible Encyclopedia, Grand Rapids, William B. Eerdmans Publishing Company, 1988, vol. III, K-P, ver. Prophet: Prophecy, pp. 986-1004.
HASEL, F. Gerhard, Teologia do Antigo Testamento, questões fundamentais no debate atual, RJ, Juerp, 1992.
HEIDEGGER, Martin, Todos nós...ninguém, SP, Editora Moraes, 1981.
HESSELGRAVE, David J, A Comunicação Transcultural do Evangelho, SP, EVN, três vols., 1995.
JAKOBSON, Roman, Lingüística e comunicação, RJ, Cultrix.
KAISER, Walter C., Teologia do Antigo Testamento, SP, EVN, 1980.
KANT, Emanuel, Crítica da razão pura, Lisboa, Ed. Calouste Gulbekian, 1985.
KAUFMANN, Yehezkel, A Religião de Israel, São Paulo, Editora Perspectiva, 1989.
KRISCHKE, Paulo José, A Igreja e as Crises Políticas no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1979.
LANE, Sílvia T. Maurer e Sawaia, Bader Burihan, Novas Veredas da Psicologia Social, SP, Educ/Brasiliense, 1995.
LINDBLOM, J., Prophecy in Ancient Israel, Philadelphia, Fortress Press, 1976.
LUTERO, Martinho, Obras selecionadas, vols. 1-5, SL, Sinodal, 1987.
_______________, Pelo evangelho de Cristo. Obras selecionadas de momentos decisivos da Reforma. SL, Sinodal, 1984.
LUXEMBURGO, Rosa, Reforma o revolución, Bogotá, Editorial Pluma, 1979.
MCLUHAN, Marshall, Os meios de comunicação como extensões do homem, SP, Cultrix.
MANZATTO, Antonio, Teologia e literatura, reflexão teológica a partir da antropologia contida nos romances de Jorge Amado, SP, Loyola, 1994.
MARX, Karl, A ideologia alemã, SP, SP, Editorial Grijalbo, 1977.
_________, Manuscritos econômico-filosóficos, SP, Abril Cultural, 1978.
_________, Para a crítica da economia política, SP, Abril Cultural, 1982.
MERCIER, Paul, História da antropologia, SP, Editora Moraes.
MEZAN, Renato, Freud: A Trama dos Conceitos, SP, Perspectiva, 1982.
MÍGUEZ BONINO, José, Rostros del Protestantismo Latinoamericano, Buenos Aires, Nueva Creación, 1995.
MOLTMANN, Jürgen, Theologie de l’Espérance, Cogitatio Fidei 50, Paris, Cerf/Mamme, 1972.
_______________, Le Seigneur de la Danse, Essai sur la joie d’être libre, Paris, Cerf, 1972.
MONDIN, Battista, Antropologia Teológica, história, problemas e perspectivas, SP, Paulinas, 1979.
MUELLER, Enio R., Teologia da Libertação e Marxismo, SL, Sinodal, 1996.
NOVAK, Michael, O Espírito do Capitalismo Democrático, Rio de Janeiro, Nórdica, 1982.
OSTROWER, Fayga, Criatividade e Processos de Criação, Petrópolis, Vozes, 1986.
PANNENBERG, Wolfhart, El hombre como problema, Hacia una antropología teológica, Barcelona, Herder, 1976.
PIGNATARI, Décio, Contracomunicação, São Paulo, Editora Perspectiva, 1971.
PINHEIRO, Jorge e SANTOS, Marcelo, Manual de História da Igreja e do Pensamento Cristão, São Paulo, Fonte Editorial, 2011.
PORTELLI, Hugues, Gramsci e o Bloco Histórico, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
RAHNER, Karl, Teologia e Antropologia, SP, Paulinas, 1969.
RICHARDSON, Don, O Fator Melquisedeque, SP, EVN, 1997.
RICOUER, Paul, Interpretação e Ideologias, RJ, Francisco Alves, 1990.
_____________, Tempo e Narrativa, Tomo 1, SP, Papirus Editora, 1994.
ROWLEY, H. H., A Fé em Israel, Aspectos do Pensamento do Antigo Testamento, SP, Paulinas, 1977.
SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de Lingüística Geral, SP, Cultrix.
SCHOLEM, Gershom, A Mística Judaica, SP, Perspectiva, 1972.
SCHULTZ, Samuel J, A História de Israel no Antigo Testamento, SP, EVN, 1992.
SHEDD, Russell, A Justiça Social e a Interpretação da Bíblia, SP, EVN, 1993.
THIESSEN, Gerd, Sociologia da cristandade primitiva, SL, Sinodal, 1987.
______________, Sociologia do movimento de Jesus, SL, Sinodal, 1997.
TILLICH, Paul, A Era Protestante, SP, Ciências da Religião, 1992.
___________, Perspectivas do Pensamento Protestante nos séculos XIX e XX, SP, Aste, 1990.
___________, História do pensamento cristão, SP, Aste, 2000.
TORRES, Camilo, Cristianismo e Revolução, SP, Global Ed., 1981.
VALLE, Álvaro, As novas estruturas políticas brasileiras, RJ, Nórdica, 1977.
VANOYE, Francis, Usos da Linguagem, Problemas e técnicas na produção oral e escrita, SP, Marins Fontes, 1979.
VASCONCELOS, Ivanize Prado de, A práxis como categoria antropológica in Reflexão, no 9, 1978, pp. 71-81.
VERMES, G., Jesus, o judeu, SP, Loyola, 1990.
__________, A religião de Jesus, RJ, Imago, 1995.
VIANNA, Oliveira, Instituições políticas brasileiras, vol. 1. RJ, Record, 1975.
VOGELS, Walter, Abraão e sua lenda, SP, Loyola, 2000.
VV.AA., Profetismo, SL, Sinodal, 1985.
WEBER, Max, A ética protestante e o espírito do capitalismo, SP, Pioneira, 2000.
WIENER, Norbert, Cibernética e sociedade, SP, Cultrix.
WERTHEIN, Jorge (org.), Meios de Comunicação: Realidade e Mito, SP, Companhia Editora Nacional, 1979.
WESTERMANN, Claus, Teologia do Antigo Testamento, SP, Paulinas, 1987.
WOLFF, Hans Walter, Antropologia do Antigo Testamento, SP, Loyola, 1975.
WRIGHT, G. Ernest, O Deus que Age, São Paulo, Aste, 1967.
YODER, John Howard, A política de Jesus, SL, Sinodal, 1988.
ARTIGOS / REVISTAS
CARROL, R., M. Daniel, Lecturas populares de la Biblia: su significado y su reto para la educación teológica, SP, Vox Scripturae, volume V, no 2, setembro de 1995.
ESCOBAR, Samuel, Fundamento y finalidad de la educación teológica en América Latina, SP, Vox Scripturae, volume VI, no 1, março de 1996.
HIGUET, Etienne Alfred, O método da Teologia Sistemática de Paul Tillich, A relação da razão e da revelação, SBC, Estudos de Religião, Ano X, no 10, julho de 1995.
___________________, A fé na reencarnação nos movimentos religiosos urbanos no Brasil, in Cultura e Cristianismo, Coleção Ciências da Religião 3, SP, Edições Loyola, 1999, pp. 127-140.
MAGALHÃES, Antonio Carlos de Melo, Renascer para uma esperança viva em Cristo – Aspectos da relação entre esperança cristã e hermenêutica cristológica, SBC, Estudos de Religião, Ano X, no 11, dezembro de 1995.
MARASCHIN, Jaci, A linguagem ontológico-existencialista de Tillich, SBC, Estudos de Religião, Ano X, no 10, julho de 1995.
MENDONÇA, Antonio Gouveia, Religiosidade no Brasil: imaginário, pos-modernidade e formas de expressão, SBC, Estudos de Religião, Ano X, no 15, dezembro de 1998.
PERDOMO R., E. Alan, La protesta satírica en Daniel 7: una lectura evangélica latinoamericana, SP, Vox Scripturae, volume VI, no 2, dezembro de 1997.
PINHEIRO, Jorge, Einstein e os caminhos da criação: a cosmogonia judaica e o conceito espaço-tempo em Gênesis Um, São Paulo, Vox Scripturae, volume VII, no 1, junho de 1997.
RAISER, Konrad, Utopia e responsabilidade: mensagem à Consulta do Jubileu, in Ecumenismo, SBC, Estudos de Religião 14, julho de 1998.
RIVERA, Dario Paulo Barrera, Tradição, memória e posmodernidade, in Estratégias religiosas na sociedade brasileira, SBC, Estudos de Religião 15, dezembro de 1998.
SCHWANTES, Milton, Faze sair meu povo Israel do Egito, anotações sobre Êxodo 3, SBC, Estudos de Religião, Ano XII, no 14, julho de 1998.
SHEDD, Russel, P., O fundamento e finalidade última da educação teológica, SP, Vox Scripturae, volume VI, no 2, dezembro de 1997.
SILVA, Geoval Jacinto, O processo de globalização e a missão – Implicações bíblico-teológicas e pastorais, in Culturas e Cristianismo, SP, Loyola, 1999, pp. 169-181.