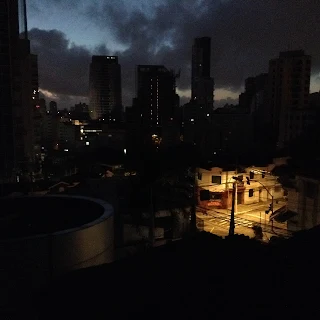O mal não é problema
É questão hermenêutica
Na teologia cristã, teodicéia, termo cunhado por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), designa a teoria que procura conciliar a bondade e onipotência divinas diante da presença do mal. E será a partir dessa teoria que vamos analisar a questão do mal. A palavra mal vem do latim malu e refere-se aquilo que é nocivo, prejudicial, que fere, que é mórbido, doença, angústia, sofrimento e desgraça. Temos, então, o mal moral, contrário ao caráter do Criador, produzido por agentes morais e temos o mal natural, conseqüência dos desequilíbrios da natureza: furacões, terremotos, epidemias e as sequências degenerativas, como as epidemias, deformidades congênitas etc.
As cosmovisões se posicionam diante da questão do mal de diferentes maneiras. Para alguns pensadores o mal não existe. Jean-Paul Sartre, por exemplo, embora descartasse o mal, falará sobre o absurdo da existência, e dirá que o inferno são os outros. Mas, a posição clássica dos ateísmos humanista, positivista, marxista e mesmo existencialista relativizam o mal, já que é uma visão antropocêntrica, sem, contudo, negá-lo. Assim para um militante comunista no século vinte, ateu, o mal era o imperialismo norte-americano.
Já para o panteísmo monista, como é o caso do hinduísmo e setores do budismo, tudo é deus, então nada é mal. Para essa cosmovisão, as coisas parecem más, mas isso é ilusão, pois não há mal.
Para o teísmo, o mal é uma realidade. Mas o teísmo tem muitas leituras, assim, para as correntes dualistas, existem duas forças opostas em equilíbrio, o bem e o mal. Para as correntes teístas finitistas, que negam atributos da divindade, Deus pode ser bom, mas não onipotente. Essa é a cosmovisão do judaísmo contemporâneo e do mormonismo. Essa leitura apresenta um Criador que não controla plenamente o universo, ou seja, as coisas não foram feitas de acordo com um plano que pode ser desenvolvido.
Outra afirmação do teísmo finitista é de que Deus pode ser onipotente, mas não é lá muito bom. Essa cosmovisão foi defendida por John Stuart Mill e R. Roth. Nesse sentido, tudo que recebemos de bom não vem do Criador e a perfeição não existe nem nele próprio. Mas há ainda outras leituras teístas, como a de Irineu e J. Hick que acreditavam que Deus criara o universo como lugar de provação e aperfeiçoamento. Ou seja, o conceito de que a criação é boa padece na origem e a própria redenção do ser humano deixa de ter significado, pois Deus é o único responsável pela condição do mundo.
Ora, o universo, enquanto criação dinâmica, é bom no sentido teleológico, tem as qualidades adequadas à sua natureza ou função. O Criador construiu seres livres que tinham e têm opção de escolha. A impossibilidade de escolha diante do bem e do mal implicaria na remoção da liberdade humana relativa e condicionada à existência. O que explica o clamor de Habacuque, quando pergunta ao Criador como ele pode suportar a traição e as gentes más?
O mal tem origem no exercício da liberdade de seres pessoais. Ou como disse o Criador ao jovem Caim, se ele tivesse feito o que era certo, ele estaria sorrindo, mas como agiu mal, o pecado estava à porta, à espreita. O pecado desejava dominá-lo, mas ele precisava vencê-lo. A liberdade de escolha era e é boa, enquanto liberdade dinâmica e progressiva, pois reflete a própria imagem do Criador. Mas, tecnicamente, necessidade e liberdade, lei e graça são realidades correlatas na existência.
Donde o mal moral e o mal natural são frutos do processo de alienação da imagem de Deus: é o que teologicamente chamamos de mau encontro, conceito antropológico criado por La Boétie e mais tarde utilizado por Pierre Clastres, que usamos como categoria que traduz as disfunções da imago Dei na espécie humana, ou seja, as alienações espiritual, psicossomática, sociológica e antropo-ecológica. Assim, o ser humano está alienado do Criador, de si mesmo, dos outros homens, da natureza, e esta consigo mesma.
Uma grande parte da ciência no século vinte apresentou-se como materialista. É bom lembrar que cientistas como Galileu, Francis Bacon, Isaac Newton, B. Pascal, M. Faraday e muitos outros não eram materialistas. Albert Einstein, por exemplo, afirmou: “Deus não joga dados com o Universo”. Ao negar a ação de um Criador infinito e pessoal, o materialismo retira a base para qualquer significado no universo. O ser humano e todos os particulares passam a ser nada.
As implicações da alienação
Por isso, vamos retomar aqui a questão do termo dia, yom. A raiz de yom aparece 2.355 vezes no texto massorético e pode exprimir um instante de tempo; um período de luz; um período de vinte e quatro horas; uma época; um período geral e indefinido, sete dias; ao cabo de dias; um mês inteiro; ano; o dia de Iavé. Não temos um conceito único para yom. Não há uma posição unânime na igreja. Agostinho considerou que o tempo surge com o universo. E Tomás de Aquino disse que o tempo é uma medida humana.
Mas tempo nos remete a outro conceito o de caos. E aí vem a pergunta: o que é o caos? Na leitura tradicional, tohu significa apenas sem forma, caos; e bohu vazia, desolada. Mas temos outros termos que nos levam a idéia de caos: trevas; abismo; águas. Na leitura tradicional o caos reflete apenas uma situação sem ordem e faz parte da criação original.
Porém temos outras teorias, como as da catástrofe: (a) teoria da criação a partir do caos ou teoria da recriação. Nela, Gêneses 1:1 é um título ou resumo da perícope 1.2-2.3. Aqui a conjunção vê, em hebraico, traduz seu sentido mais comum “e”. E céu e terra significam o universo organizado. Essa seria a primeira criação; (b) e teoria da brecha, onde Gêneses 1.1 é criação original e a conjunção vê que inicia 1:2 deve ser traduzida como porém, simbolizando um lapso de tempo desconhecido, em que houve uma catástrofe entre os dois períodos. Donde, Gêneses 1.3-21 é uma recriação da terra.
A questão da criação é fundamental para o estudo do mal, pois posiciona o mal em condições e momentos diferentes. De todas as maneiras, a relação criação versus mal sublinha o risco calculado do Criador ao fazer o ser humano à sua imagem e semelhança, que consistiu, entre outras coisas, em conceder liberdade ao ser humano como pessoa. O ser humano poderia usar essa liberdade para retribuir o seu amor ao Criador, oferecendo-se a ele em adoração e serviço. Mas no dom da liberdade estava contida outra possibilidade, a de fazer seu próprio caminho.
A alienação consiste nisso, na decisão do ser humano de caminhar por conta própria. Esse deslocamento leva ao abuso da dignidade própria e à distorção da aliança de seu ser à imagem do Criador, colocando-se a si próprio como centro de seu querer. Ou como disse Etienne La Boétie (Discurso da servidão voluntária, São Paulo, Brasiliense, 1982, p. 19), “que mau encontro foi esse que pode desnaturar tanto o ser humano, o único nascido de verdade para viver francamente, e fazê-lo perder a lembrança de seu primeiro ser e o desejo de retomá-lo?”.
E Pierre Clastres (Liberdade, Mau Encontro, Inominável, in Etienne La Boétie, Discurso da servidão voluntária, São Paulo, Brasiliense, 1982, pp. 110-111), analisando o texto desse libertário do século dezesseis, que influenciou o pensamento huguenote francês, afirma:
“Mau encontro: acidente trágico, azar inaugural cujos efeitos não cessam de ampliar-se, a tal ponto que é abolida a memória do antes, a tal ponto que o amor da servidão substituiu-se ao desejo de liberdade. O que diz La Boétie? Mais do que qualquer outro clarividente, afirma inicialmente que essa passagem da liberdade à servidão deu-se sem necessidade, afirma acidental – e, desde então, que trabalho pensar o impensável mau encontro!”.
Antropologicamente, mau encontro é descrito como corrupção da liberdade do ser humano por ele próprio que, por essa corrupção, se coloca em estado de servidão voluntária. Teologicamente, definimos como a opção do ser humano de não mais depender do Criador, mas construir sua liberdade e história a partir de interesses próprios. O entendimento do mau encontro enquanto alienação forma o pilar da antropologia teológica, já que o problema do mau encontro passa a estar ligado à liberdade do ser humano e porque essa liberdade é uma expressão da imago Dei. A partir dessa leitura, o mau encontro e a alienação primordial da liberdade humana, assim como a ativação do humano num sentido de distanciamento do Criador introduziram a desordem nos processos de relacionamentos e transmissão da informação no universo.
A alienação humana tem como conseqüência o entorpecimento da responsabilidade e da materialidade do mundo e cria o primado da morte. Essa alienação gera distorção no equilíbrio da imago Dei, na relação espiritualidade, psiquismo e materialidade. A alienação entorpece a liberdade, mas teologicamente leva à compreensão do Cristo como figura que representa o penhor de redenção do ser humano.
Assim, dois elementos fazem parte da compreensão da encarnação: o primeiro deles é a absoluta irrepetibilidade do acontecimento e o segundo é o fato material de que o Criador, ao entrar no tempo, ao fazer-se humano, membro de uma família, de uma comunidade, entra na corporabilidade, na materialidade da história da humanidade. E planta na humanidade a semente de uma radical transformação de todo o modo de ser do humano, o que abrange todas as esferas da natureza humana, material, psíquica e espiritual.
A questão do destino
Na tradição judaico-cristã essa relação entre liberdade versus mal sempre foi um tema teológico/ hermenêutico da maior importância. No Antigo Testamento temos a espiral conceitual aliança/ fidelidade/ constância, cujo centro epistemológico é a liberdade. No Novo Testamento o vértice é o conceito de destino.
Paralelamente ao pensamento hebraico, a cultura grega apresentará uma leitura diferente do conceito de destino, que traduzia a maneira de pensar e viver do helenismo. Na sua época, por razões apologéticas, o apóstolo Paulo apresentará um conceito de destino que resgata e transcende o conceito veterotestamentário de aliança. Entre os gregos, a religião e o culto de mistérios traduziam uma luta contra o destino, numa tentativa de colocar-se acima dele. A origem dos cultos de mistério não pode ser entendida quando os vemos apenas como mitos.
Para o ser humano helênico a luta com o destino era inevitável porque o destino tinha qualidades demoníacas. Era um poder sagrado e destrutivo. Envolvia o ser humano numa culpa objetiva. Os cultos de mistério, dessa forma, ofereciam uma purificação das mãos de deuses que manipulando o destino excluíam do ser humano qualquer possibilidade de liberdade.
Assim, também a filosofia helênica, através do conhecimento, procurava elevar o ser humano à transcendência, despojando-o dos objetivos e formas da vida imediata, para lançá-lo através da abstração em direção ao ser puro. O mundo helênico era um mundo de culpa objetiva e castigo trágico e um profundo pessimismo atravessava todo o conhecimento, desde Anaximandro, passando por Pitágoras, Demócrito, Sócrates, Platão e Aristóteles.
Apesar dessa visão trágica, os gregos eram apaixonados pela vida e é essa dicotomia que dará riqueza a esta que será uma das mais expressivas culturas da humanidade. Mas, em última instância, a luta do filósofo permaneceu inalterada em todo o helenismo: superar o destino. E isso foi tentado através do domínio do pensamento, como forma de elevar-se acima da existência, já que no campo da ação e da transformação da existência é impossível superar o destino. No entanto, nunca essa meta foi alcançada. Necessidade e liberdade foram conceitos chaves nas discussões do helenismo pós-platônico. O medo de demônios obscureceu o espírito helênico. O epicurismo tentou, em vão, libertar seus seguidores do medo, mas ao definir o conceito de possibilidade absoluta, ou azar, abriu o espaço para o medo em sua argumentação filosófica.
Dessa maneira, a filosofia grega caminhou para o ceticismo, já que a busca de uma certeza transcendente para a existência humana se mostrou nula. Ao mesmo tempo, enquanto força sobre-humana do destino, as nações eram submetidas ao poderio romano. Diante desse destino trágico, o mundo helênico tinha necessidade da revelação. Ameaçado por um destino demoníaco, o mundo helênico ansiava por um destino salvador, necessitava não somente de liberdade, mas também de graça.
O cristianismo é a vitória sobre a idéia da força resistível da matéria eterna, traduz a idéia de que o mundo é uma criação divina. É a vitória da crença na perfeição do ser em todos seus aspectos sobre o medo trágico e a matéria que resiste hostil ao divino. É a negação radical do caráter demoníaco da existência em si. Dá a existência um valor essencialmente positivo e valoriza os acontecimentos da ordem temporal. Com o cristianismo, ao contrário do que pensava Anaximandro, a ordem do tempo não leva apenas ao transitório e perecível, mas também à possibilidade de algo totalmente novo, um propósito e um fim que dá pleno significado à vida humana.
No cristianismo o tempo triunfa sobre o espaço. O caráter irreversível do kairós substitui o tempo cíclico, transitório e perecível do pensamento helênico. A partir desse momento, destino outorga graça, que traz salvação no tempo e na história. O mundo helênico e sua interpretação da vida estão superados e com eles, a filosofia, a religião e os cultos de mistério.
Antes, a filosofia buscava desesperadamente a revelação, agora a revelação apodera-se da filosofia dando origem à teologia. Assim, a teologia jogou fora o destino demoníaco e por extensão a metafísica helenística e se apropriou de suas formas lógicas e de seus conteúdos empíricos. O transitório e perecível da filosofia helenística não teve importância na formação do pensamento ocidental, mas sim a idéia da criação divina do mundo e a fé numa providência divina, através da salvação que se constrói historicamente e acontece no kairós. E isso já não é helenismo, mas antropologia teológica cristã.
O conceito paulino de destino
Mas voltemos um pouco atrás, para entendermos esse processo. Dentro da visão paulina, que traduz o pensamento cristão palestino, destino, no sentido de que os limites estão dados de antemão, é a lei transcendente na qual está imbricado o conceito de liberdade. Assim, destino também implica numa trindade conceitual: (1) o destino está sujeito à liberdade; (2) destino significa que a liberdade também está sujeita à lei; (3) destino significa que liberdade e lei são interdependentes e complementares.
Analisando o conceito cristão palestino de destino, exposto por Paulo em sua carta aos romanos (8.31-39; e 9), podemos dizer que a liberdade humana está ligada às leis universais, de tal forma que liberdade e leis se encontram intrinsecamente entrelaçadas. Aqui Paulo trabalha com um conceito judaico, de que lei é imposição de limites, que faz parte da revelação, que se expressa pela primeira vez como criação de Deus. Mas para Paulo, se o mal é uma probabilidade que surge da correlação lei/ graça, o julgamento era inerente a tudo na criação, mas também a liberdade.
Assim, a certeza de que o destino é divino e não demoníaco e tem um significado realizador e não destruidor é a peça chave do pensamento paulino, que coloca o logos acima do destino. Ao fazer isso, Paulo está dizendo que a compreensão do destino não está ao alcance do ser humano, nem pode ser submetido aos processos do pensamento humano. Mas esse logos eterno se reflete através de nossos pensamentos, embora não exista um ato do pensamento sem a secreta premissa de sua verdade incondicional. Mas a verdade incondicional não está ao nosso alcance. Em nós humanos há sempre um elemento de aventura e risco em cada enunciado da verdade. Mas, mesmo assim, devemos correr este risco, sabendo que este é o único modo que a verdade pode ser revelada a seres finitos e históricos.
Quando mantemos relação com o logos eterno e deixamos de temer a ameaça do destino demoníaco, aceitamos o lugar que cabe ao destino em nosso pensamento. Podemos reconhecer que desde o princípio esteve submetido ao destino e que o nosso pensamento sempre desejou livrar-se dele, mas nunca conseguiu. Tarefa teológica da maior importância, na análise cristã do destino é saber relacionar logos e kairós. O logos deve envolver e dominar as leis universais, a plenitude do tempo, a verdade e o destino da existência. A separação entre logos e existência chegou ao fim. O logos alcançou a existência, penetrou no tempo e no destino. E isso aconteceu não como algo extrínseco a ele próprio, mas porque é a expressão de seu próprio caráter intrínseco, sua liberdade.
É necessário, porém, entender que tanto a existência como o conhecimento humano estão submetidos ao destino e que o imutável e eterno reino da verdade só é acessível ao conhecimento liberto do destino: a revelação. Dessa maneira, ao contrário do que pensavam os gregos, todo ser humano possui uma potencialidade própria, enquanto ser, para realizar seu destino. Quanto maior a potencialidade do ser – que cresce à medida que é envolvido e dominado pelo logos – mais profundamente está implicado seu conhecimento no destino.
Nosso destino, que aqui deve ser entendido como missão, é servir ao logos, num novo kairós, que emerge das crises e desafios de nossos dias. Quanto mais profundamente entendermos nosso destino, no sentido de prokeimai, estar colocado, ser proposto, e o de nossa sociedade, tanto mais livres seremos. Então, nosso trabalho será pleno de força e verdade.
A vontade humana não é neutra e a liberdade humana sempre se dá dentro da existência, enquanto realidade condicionada pela materialidade. Assim, a liberdade entende-se como correlação entre lei e graça. Quando Hegel afirmava que a liberdade é a consciência da necessidade, como fez questão de mostrar Marx, cometia um erro porque descartava a realização da liberdade. É por isso que Marx dirá que liberdade é práxis. Ora, para Marx, práxis é consciência da necessidade mais ação transformadora. Ou seja, em termos teológicos, consciência da lei diante da existência do mal é arrependimento, e ação transformadora do logos que produz justificação e mudança de vida, graça.
O mal enquanto feitura humana
Dentro da visão cristã e exatamente pelo que acabamos de ver, o mal, ao contrário do que pensavam os gnósticos, não é um ser, mas um fazer. Em relação ao imediato é um estado e no que se refere à espécie humana é um domínio. Numa definição teológica, o mal acontece perante aquilo que minha liberdade é desafiada, quando ele, o mal, é chamado a surgir como feitura humana. Nesse sentido, o mal não se apresenta sem agente moral, sem liberdade. Toda vez que realizo minha liberdade a lei está presente, pois o mal é um antítipo da salvação.
Por isso só podemos responder ao mal reconhecendo que o mal é feitura minha e de minha espécie, colocando a ruptura desse domínio nas mãos daquele único que pode fazê-lo, o logos. A partir daí, ao nível do pensamento, já que é um desafio teológico, o caminho é a reflexão, como aquela que Agostinho fez frente aos gnósticos, quando esses levantarem a pergunta: Por que o mal existe? Transformando assim o mal em coisa e mundo, dando existência e imagem ao mal. Agostinho responde dizendo que a única pergunta que posso fazer é: O que me leva a fazer o mal? E ao nível da vontade e do sentimento, crendo em Deus apesar do mal, pois a cristologia nos ensina que o logos também sofreu. E por fim, ao nível da ação, pois o mal é o que não devia estar, devemos ter uma ética de responsabilidade social, de combate a este estado e domínio na vida de meu próximo e da sociedade.
Mil anos depois de Agostinho, a questão do mal continuava em discussão e a teodicéia, ainda em construção, oscilou entre dois imperativos aparentemente excludentes, o da soberania de Deus e o da liberdade humana. Mas, no início do século vinte, a partir da teologia dialética, passou-se a ver tais imperativos como correlação. Assim eleição e oferta aberta foram lidos como termos complementares, e a cruz como base da salvação e da condenação.
Três leituras da modernidade nascente
Vamos analisar a dialética de tais imperativos sob um novo ângulo. Em 1970, Manuel Ballestero publicou em Madri, pela Siglo XXI, La Revolución del Espíritu (Tres pensamientos de libertad), analisando o caráter radical da liberdade no pensamento de três gênios da modernidade: Nicolas de Cusa, Lutero e Marx. Ballestero diz que sua preocupação residiu em analisar o projeto de liberdade desses três pensadores, sabendo que a autonomia e o ato livre são concebidos de maneiras diferentes e mesmo antagônicos, embora existam, no contexto da obra dos três, analogias de fundo. E essas se referem ao fato de que liberdade significa a abolição da lei, o colapso da determinação exterior, e não o comportamento que se adequou aos limites da ordem. Assim, segundo Ballestero, Cusa, Lutero e Marx olham a liberdade como a destruição da ordenação exterior e anterior ao próprio ato livre.
Os ensaios mostram que a revolução teórica empreendida por Cusa e Lutero não é gratuita, nem produto de um simples ato ideal, mas se enraíza no tecido histórico do movimento de decomposição global da formação social pré-capitalista. Cusa e Lutero clamam por essa destruição. Sem entrar nos detalhes das mutações vividas no século dezesseis, com a ruptura do equilíbrio cidade/ campo, o surgimento das manufaturas e a consolidação do sistema de trabalho assalariado, vemos que a dimensão negativa da condição humana na incipiente sociedade capitalista será percebida por Cusa e Lutero: a autonomia do sujeito se dá como dor.
Mas ambos consideram essa subjetividade liberada pelo início da arrancada capitalista como desequilíbrio. Assim, tanto Cusa quanto Lutero partem da negação dessa subjetividade alienada do nascente capitalismo, considerando que deve ser superada para que o Espírito floresça. Aí, então, teríamos o fim da inessencialidade do sujeito alienado e a inserção deste na totalidade objetiva. Mas isso não pode acontecer sem a transformação dessa realidade objetiva em realidade espiritual, que sustém o ser humano. Dessa maneira, para os dois pensadores, o Espírito constrói num nível superior o universo anteriormente negado.
O jovem Marx, seguindo os passos de Hegel, partirá dessa discussão. Para ele, a religião é a realização imaginária da essência do ser humano, mas essa essência não tem realidade alguma. De todas as maneiras, há um ponto de interligação nessa perspectiva, quando vê, assim como Cusa e Lutero, a liberdade como abolição da legalidade, como coincidência do momento subjetivo com o momento objetivo, e como responsabilidade suprema do ser humano. Para entender esse ponto de partida de Marx é bom ler seus manuscritos econômicos e filosóficos, mas também sua Introdução à Crítica da Economia Política (Marx, São Paulo, Abril Cultural, 1982), texto que só foi descoberto em 1902 e publicado por Kautsky em 1903.
“O cristão é senhor de todas as coisas e não está submetido a ninguém. O cristão é servo em tudo e está submetido a todo mundo” (Lutero, Les grands écrits reformateurs, Paris, Aubier, 1955, p. 225). Para Lutero, o ser humano existe como estrutura ontológica dual. Sua conceituação traduz a ansiedade teórica do século dezesseis, mas traduz-se em superação da subjetividade alienada. O cristão é senhor de todas as coisas, não está submetido a ninguém e esse senhorio radical é produto da graça. Sua liberdade é fruto da fé que transforma a subjetividade alienada em realidade objetiva. Nesse sentido, o caráter espiritual da autonomia do cristão se dá como processo. Morre o imediato, o alienado, e tem início a construção de uma segunda natureza.
A liberdade surge como deslocamento do ser humano natural, como distanciamento crítico daquilo que foi naturalmente dado. O primeiro momento da liberdade parte de uma concepção trágica, porque o senhorio num primeiro momento implica em servidão, criando tensão e luta... “É necessário desesperar-se por você mesmo, fazer com que você saia de dentro de você e escape de sua prisão” (Lutero, Les grands écrits, p. 259). Mas superada a tensão, temos a liberdade enquanto espiritualidade, uma dimensão de combate.
O ser humano, que em Cristo vive essa metamorfose, tem a liberdade que vai além, a liberdade que é fonte de realidade e ação. Assim, o cristão transforma-se em receptáculo da fé, em intencionalidade aberta ao Absoluto.